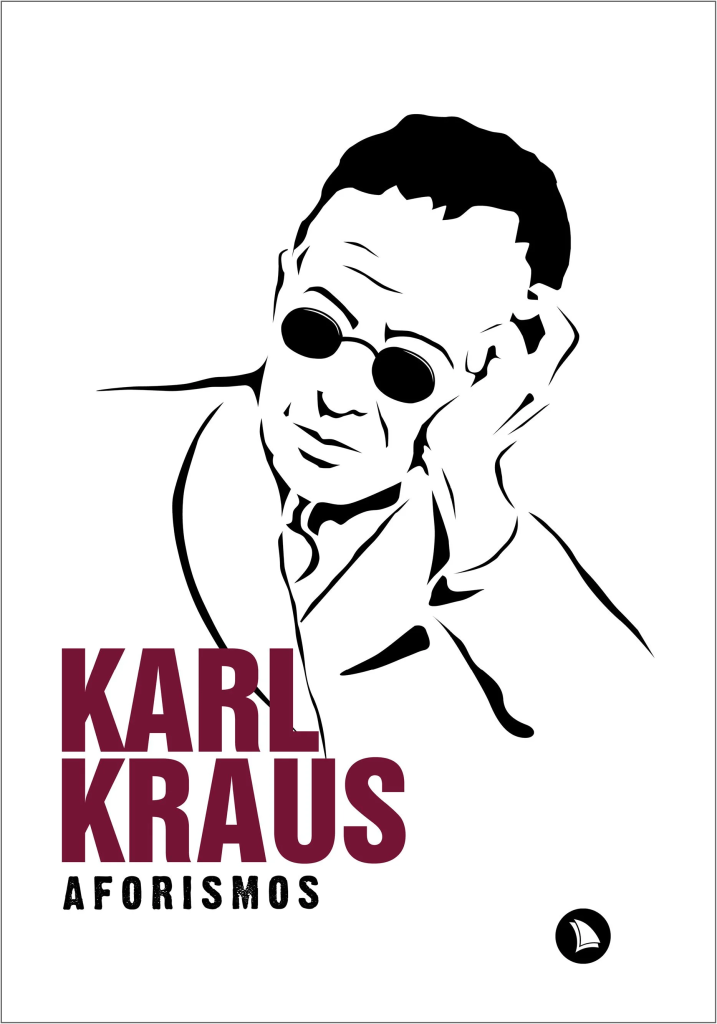Entre o final de 2009 e meados de 2010, as livrarias brasileiras receberam dois importantes lançamentos, escritos por autores jamais traduzidos entre nós, e que, infelizmente, continuarão a não receber maiores cuidados. Creio, por inúmeras razões, que devemos nos contentar com esses livros, independentemente do fato de tais pensadores — Sébastien-Roch-Nicolas de Chamfort (Máximas e pensamentos & Caracteres e anedotas) e Karl Kraus (Aforismos) — terem deixado várias obras. É uma pena. Para os que lêem outras línguas, isso não traz, claro, nenhuma dificuldade, mas para a massa que só domina o português, esse vazio editorial é um obstáculo à cultura, à inteligência.
As pessoas, evidentemente, podem acreditar que é possível ter uma ótima vida sem ler Chamfort, Kraus e quaisquer outros; e, de fato, a imensa maioria chega ao túmulo, em pleno século 21, mantendo-se afastada dos livros ou satisfazendo-se com uma insalubre mistura de romancinhos kardecistas e obras de auto-ajuda. Chamfort, aliás, escreveu um ótimo aforismo sobre o assunto: “O que faz o sucesso de grande quantidade de obras é a relação que se encontra entre a mediocridade das idéias do autor e a mediocridade das idéias do público”. Sabemos, contudo, o quanto esse comportamento é fruto da ignorância, o quanto essas escolhas são ditadas não pela vontade consciente dos leitores, mas por uma mescla de incultura, propaganda e obscurantismo (o que, aliás, sempre existirá). E temos consciência de que ler Chamfort ou Kraus — e também, para ficarmos no âmbito dos aforistas, La Rochefoucauld ou Lichtenberg — pode não tornar a vida melhor, mas, certamente, tem o poder de expandi-la, aprimorando nossa maneira de ver o mundo e de encarar nossas limitadas possibilidades de escolha, além de diminuir a cegueira e os tantos deslumbramentos de que somos acometidos, que nos fazem perder tempo com um sem-número de coisas vãs.
Agudeza e concisão
Chamfort e Kraus ficaram famosos por seus aforismos. Percebam que não falamos aqui de provérbios ou ditos espirituosos, bons para enfeitar diálogos fúteis ou conceder ao falante um verniz de falsa erudição. O aforismo é uma forma de refletir sobre a realidade, de problematizá-la. Sua precisão serve bem à ironia e ao sarcasmo, pois transforma o pensamento numa seta que fere sem alarde, cujo zunido quase imperceptível sintetiza um erro, um absurdo, às vezes certa mentira renitente.
De origem multíplice — os estudiosos o encontram na Escola Hipocrática, nos livros sagrados da Índia, nos ensinamentos de Confúcio ou Lao-Tsé, e também na Bíblia, incluindo uma das leituras prediletas de Machado de Assis, o Eclesiastes —, o aforismo pretende ser um epítome de frações do vivido ou do observado. Do mesmo modo, ele se assemelha — se for possível tal imagem — a um pequeno abismo, no qual o aprofundamento do tema soma-se à brevidade da expressão. Destituído de enredo, paira acima do tempo e do espaço, pois qual civilização ou que homem não encontrará verdade ao ler: “O que foi, será, o que se fez, se tornará a fazer: nada há de novo debaixo do sol!”?
Pleno de agudeza e concisão, no centro do aforismo pulsa uma força que pretende depurar a existência sem necessitar de argumentações. E quanto mais elaborada a frase por meio da qual o pensamento se expressa, mais o aforismo denuncia a banalização da linguagem. Manifestos contra o senso comum, julgamentos insólitos, exemplos de engenho lingüístico, os aforismos estimulam nossa inteligência, obrigam-nos a refletir.
Vítima dos jacobinos
Segundo o que diz Cyril Connolly, em seu angustiado The unquiet grave, Chamfort era “um filósofo sem esperança e sem compaixão”, além de “bufão cínico e mimado pela corte” que ele trairia ao apoiar a Revolução Francesa. Pensionista da monarquia, secretário de Louis Joseph de Bourbon, príncipe de Condé, e depois secretário do próprio rei, foi dos primeiros a invadir a Bastilha, tornando-se um agitador das massas. O que ele desconhecia, contudo, é que a nova classe no governo não possuía a fleuma dos aristocratas, não era capaz de rir de si mesma ou de aceitar críticas, principalmente as irônicas — característica, aliás, não só dos jacobinos, mas da esquerda em geral.
A partir do momento em que começa a desaprovar os excessos da revolução, Chamfort sintetiza a ética jacobina: “Seja meu amigo — ou eu te matarei”. De fato, acaba preso por seus companheiros no ano de 1793. Julgado, é absolvido, mas logo depois recebe nova condenação. Em desespero, reage com uma tentativa de suicídio: o tiro na têmpora arranca-lhe o nariz e um pedaço do maxilar, mas não o mata. Usa, então, o abridor de cartas que encontra sobre a escrivaninha, primeiro ferindo o pescoço, depois o peito — e ainda assim sobrevive. Morre meses mais tarde, talvez de uma septicemia. Infelizmente, não seria o último a sofrer nas mãos dos que prometem o Paraíso na terra. E sabia do que seus amigos eram capazes, pois certa vez escreveu: “O homem no estado atual me parece mais corrompido pela razão do que pelas paixões”.
Suas máximas podem ser repletas de humor — “Um tolo que tem um momento de espírito espanta e escandaliza, tal como cavalos de carroça a galope” — ou de acrimônia — “Os burgueses, por uma vaidade ridícula, fazem de suas filhas o adubo para as terras das gentes de qualidade” —, mas guardam sabedoria e triste atualidade: “Um autor, homem de gosto, é, no meio desse público blasé, o mesmo que uma meretriz no meio de um círculo de velhos libertinos”.
Contra a imprensa
Encontramos mal-estar semelhante ao de Chamfort nos aforismos de Karl Kraus. Morando em Viena, entre a derrocada do Império Austro-Húngaro e o início da II Guerra Mundial, ele foi testemunha do que Hermann Broch classificou de “alegre Apocalipse”. Em 1899 funda A Tocha (ou O Archote), publicação que editará sozinho durante 30 anos e na qual denuncia os absurdos de sua época, principalmente a forma como jornalistas e intelectuais justificavam o anti-semitismo e a violência. Chama-os de “traidores da humanidade”.
Contestador da psicanálise — “É a doença cuja cura ela pretende ser” —, Kraus é definido por Freud, erroneamente, como “um louco idiota com grande talento histriônico”. Se fosse apenas isso, alguns jornais não fariam, logo após a I Grande Guerra, uma campanha pedindo sua morte.
Revolucionário para alguns, reacionário para outros, Kraus apontou, sem medo, a covardia, o silêncio e a cumplicidade de intelectuais e jornalistas, mestres da incoerência e do descompromisso com a verdade. A imprensa, em sua opinião, era, essencialmente, uma corruptora da linguagem, capaz de utilizar eufemismos para qualificar a guerra e, logo a seguir, o avanço do nacional-socialismo. Kraus usa a ironia e a sátira, portanto, como instrumentos para se contrapor à linguagem deturpada pela ideologia e destituída de seu principal poder: o de criticar. Foi um lutador solitário, a voz da consciência de um tempo em que os homens perderam a razão: “Tendo bom ouvido, ouço barulhos que os outros não ouvem e que me perturbam a harmonia das esferas que os outros tampouco ouvem”.
Os elogios que Otto Maria Carpeaux escreveu sobre ele — “Assim como a teologia moral é a técnica de revelar os pecados, assim a arte satírica de Kraus é uma técnica de filologia moral” — encontram justificativa em cada um dos seus aforismos: mostrou-se implacável com jornalistas — “O que a sífilis poupou será devastado pela imprensa. Nos amolecimentos cerebrais do futuro, não se poderá mais constatar a causa com segurança” —, com certos escritores — “A ironia sentimental é um cão que ladra para a Lua enquanto mija sobre sepulturas” —, com as mulheres — “Vista de perto, muitas vezes uma mulher nos decepciona. Sentimo-nos atraídos porque ela aparenta ter espírito, e ela o tem” — e com os mitos que subsistem até hoje — “O progresso faz porta-moedas de pele humana”. Carpeaux está certo: “Karl Kraus é o maior escritor satírico e o maior moralista da literatura alemã”.
Um gigante
Kraus era leitor assíduo de outro brilhante aforista, sobre quem escreveu: “Lichtenberg cava mais fundo do que qualquer outro, mas não volta à superfície. Ele fala sob a terra. Só o escuta quem também cava fundo”.
Lido e citado por Kant, Thomas Mann, Goethe, Wittgenstein, Musil, Canetti e muitos outros, Georg Christoph Lichtenberg foi, além de satirista, matemático e físico experimental, professor da Universidade de Göttingen, apaixonado pela Inglaterra — chegou a ser preceptor dos filhos do rei Jorge III —, eleito para a Royal Society em 1793. Formou, com Christoph Martin Wieland e Gotthold Ephraim Lessing, o trio responsável pela divulgação de Shakespeare na Alemanha. Leitor devotado dos ingleses, recomendava aos alemães que não perdessem tempo com o Werther, de Goethe, mas se dedicassem a Daniel Defoe, Jonathan Swift e Laurence Sterne, o que, de certa forma, confirma sua revelação auto-irônica: “Na realidade, fui à Inglaterra para aprender a escrever em alemão”.
Hipocondríaco e supersticioso — obcecado pela idéia da morte, tinha o hábito de contar os enterros que passavam sob sua janela —, um acidente sofrido na infância marcou-o com uma corcunda e dificultou seu crescimento, deixando-o pouco maior que um anão. Mas, salientemos: isso não impediu Lichtenberg de ter êxito com as mulheres.
Editor e escritor de almanaques, transformou esses anuários de temas populares, para os quais escrevia artigos de divulgação científica, num grande sucesso. Quanto aos seus inúmeros cadernos de notas (escritos de 1765 a 1799), a publicação se estendeu por vários anos, e só em 1971 os leitores tiveram acesso à obra completa.
Em permanente polêmica com alguns de seus contemporâneos, Lichtenberg alcançou influência espantosa. Kierkegaard chamava-o de “Voz no deserto” e Schopenhauer escreveu paráfrases de seus textos em O mundo como vontade e representação. Seus aforismos revelam argúcia surpreendente — “Na verdade, há muitos homens que lêem apenas para não pensar” —, profunda visão ética — “Onde a moderação é um erro, a indiferença é um crime”—, capacidade para rir de si mesmo — “Ao longo de minha vida outorgaram-me tantas honras imerecidas, que eu bem poderia me permitir alguma crítica imerecida” — e certo lirismo — “Uma moeda de um centavo é sempre preferível a uma lágrima”.
Poucos, pouquíssimos tiveram sua obra colocada em tão alta conta por Otto Maria Carpeaux, que assim se referiu aos Aforismos: “Exilado numa ilha deserta, eu levaria este pequeno breviário de sadio bom senso, ao lado de Marco Aurélio e dos Pensées de Pascal, sem ofender aos meus santos. Lichtenberg, também, é um companheiro eterno”.
Delicada malevolência
Nesta rápida ciranda em torno do gênero aforístico, encerremos falando sobre um dos autores prediletos de Lichtenberg: François VI, duque de La Rochefoucauld, príncipe de Marcillac, membro de uma das famílias mais antigas da França. La Rochefoucauld lutou contra os cardeais Richelieu e Mazarin, participando ativamente — e sem sucesso — do confuso período da Fronda. Suas decepções foram tantas, que aos 48 anos se retirou da vida pública e passou a se dedicar exclusivamente à escrita. Publica Máximas e reflexões, conjunto de epigramas pessimistas e contundentes, em 1655. Edição a edição, revisará os textos, atenuando seu caráter ferino e dando-lhes mais brilho, maior concisão.
Desengano e ressentimento fizeram nascer esse livro. Para La Rochefoucauld, o mundo é movido por interesse e egoísmo — e são esses dois comportamentos que provocam, inclusive, as atitudes aparentemente virtuosas. Longe de criar um sistema filosófico, ele apenas insiste na tese de que o mal impulsiona todos os gestos humanos. Mas ainda que possamos discordar do seu pessimismo, suas frases nos encantam, pois ele escreve com leveza, delicada malevolência, fazendo jogos de paradoxos nos quais brilha uma inteligência extraordinária. Superficiais ou não, verdadeiros ou não, seus aforismos são lições de estilo, de habilidosa capacidade para condensar a linguagem.
Na opinião de La Rochefoucauld, “como mortais, tememos todas as coisas, como imortais as desejamos todas”. Inflexível na sua visão dos homens, ele afirma que “esquecemos facilmente nossos erros quando só nós os conhecemos” e que “se não tivéssemos defeitos não nos agradaria tanto notá-los nos outros”. Mas nosso aforista também pode cunhar frases de finíssimo humor: “Há casamentos bons, mas não os há deliciosos”.
Fragmento moral
Para alguns, subjacente à arte do aforismo encontra-se apenas uma simplificação que falseia a realidade — juízo ao qual me oponho. Todos os aforistas analisados aqui estão muito além dessa frágil leitura. E o mesmo pode ser dito daqueles, tão essenciais quanto estes, de que não pudemos falar: o conceptista Baltasar Gracián y Morales; o infelizmente desconhecido Nicolás Gómez Dávila e seus geniais, intrépidos escólios; o veemente Ambrose Bierce; e tantos outros.
Malabarismos lingüísticos, investigações acerca das leis que regem nossa conduta, sentenças que se contrapõem às loucuras e idiotices de uma época: os aforismos nascem na tênue fronteira entre a literatura e a filosofia. Fórmulas esmeradas, contraposições à verbosidade que concentram escárnio, denúncia, humor e lucidez, eles revelam, numa centelha, certo fragmento moral — quase sempre, apontando o que preferimos ocultar ou desconhecer.