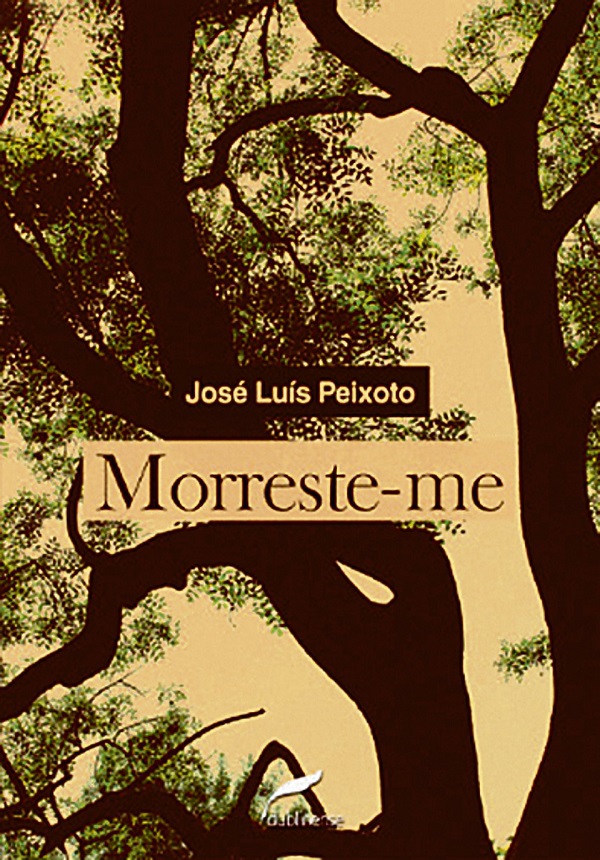Meu pai morreu em agosto, há exatamente um ano — e digo isso para alertar o leitor de que não escrevo esta resenha com distanciamento ou qualquer pretensão de isenção ou neutralidade, mas ainda profundamente abalado pela partida de alguém próximo. Não fui ao seu funeral: não suportei a ideia de vê-lo deitado em um caixão de madeira com a imobilidade pétrea e mineral que emana dos corpos que a vida abandonou. Espero visitar seu túmulo em breve, mas ainda não é a hora: escrever esta resenha é uma primeira tentativa de aproximação em relação a esse universo sinistro e macabro que insisto em enfrentar mais pelas palavras do que com os olhos.
Foi o que fez José Luís Peixoto em Morreste-me — seu livro de estreia, publicado em 2000 em Portugal e recém-lançado no Brasil pela editora gaúcha Dublinense. “Escrever é tentar encontrar sentido no caos”, declarou em recente entrevista. O livro não é um relato, mas antes uma rememoração poética sobre a perda e a morte do pai.
O autor escreveu essa novela aos 21 anos envolto em um “pequeno apocalipse cotidiano” e publicou-a integralmente quatro anos depois. “Escrever é soprar vida em objetos mortos”, afirmou António Lobo Antunes. E foi nesse território mágico e desolado da palavra que o jovem autor português quis travar a batalha que o fez nascer escritor.
Traduzida para várias línguas e sucessivamente reeditada em Portugal, a obra vem sendo adaptada para o teatro e atingindo um público cada vez mais amplo. Dividida em quatro partes, é uma espécie de elegia ao que não podemos compreender e ao que podemos apenas chorar. Um monólogo contundente e exasperado — ou, mais precisamente, um diálogo terno e profundo com um interlocutor ausente:
Regressei hoje a esta terra agora cruel. A nossa terra, pai. E tudo como se continuasse. Diante de mim, as ruas varridas, o sol enegrecido de luz a limpar as casas, a branquear a cal; e o tempo entristecido, o tempo parado, o tempo entristecido e muito mais triste do que quando os teus olhos, claros de névoa e maresia distante fresca, engoliam esta luz agora cruel, quando os teus olhos falavam alto e o mundo não queria ser mais que existir.
No hospital, diante da sala de espera “estagnada de tempo inútil”, a constatação de que a morte atinge a todos:
Enquanto esperava pela minha mãe e pela minha irmã, as pessoas passavam por mim como se a dor que me enchia não fosse oceânica e não as abarcasse também.
Por mais que a cultura ocidental tente negar a morte e nos torne incapazes de aceitá-la, os seus sinais estão em toda parte a nos lembrar que somos mortais, somos fogo a queimar. Hesitamos em encarar a morte mas a sabemos presente através dos outros que se vão. Desse medo se alimenta também toda arte e todo engenho humano — e foi superando esse medo que o autor português nos deu uma narrativa belíssima, o título a nos lembrar que morremos sempre para o outro.
Morreste-me é a um só tempo homenagem e despedida, uma espécie de segundo velório ou ritual de passagem que o autor se impôs para chorar a perda do pai “impossivelmente morto” e honrar o seu nome:
Pai, ter a tua memória dentro da minha é como carregar uma vingança, é como carregar uma saca às costas com uma vingança guardada para este mundo que nos castiga, cruel, este mundo que pisa aquele outro que pudemos viver juntos, de que sempre nos orgulharemos, que amámos para nunca esquecer.
José Luís Peixoto empresta à obra uma sintaxe muito própria, o ritmo caudaloso a demarcar o que se lhe passa na alma e a expandir sua poética crispada de dor:
Daqui, recordo o teu rosto no país que habitas, no país branco negro imenso, o teu rosto a seguir-me, perdido perdido a precisar de mim perdido num arquipélago de campas e mágoa e manhã ainda.
Não há como comentar Morreste-me sem mencionar a célebre Carta ao pai escrita por Franz Kafka e nunca enviada ao destinatário. Kafka talvez tenha sido o escritor que melhor soube retratar situações opressivas e persecutórias — lembremos de Joseph K., protagonista de O processo, de Gregor Samsa, de A metamorfose, da toupeira aterrorizada em uma galeria subterrânea no conto A construção ou do infeliz prisioneiro submetido à monstruosa tortura descrita em Na colônia penal. Nessa galeria de personagens figura com atroadora concretude a figura de Hermann Kafka, homem extremamente rude e autoritário cuja presença opressiva teve papel decisivo na formação de sua atormentada personalidade:
Querido pai,
Tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder, em parte justamente pelo medo que tenho de ti, em parte porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo, que eu não poderia reuni-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente. E se procuro responder-te aqui por escrito, não deixará de ser de modo incompleto, porque também no ato de escrever o medo e suas consequências me atrapalham diante de ti e porque a grandeza do tema ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento.
O contraste entre as duas figuras paternas é marcante. Não que o pai de José Luís Peixoto tenha sido “melhor” que o pai de Kafka: “Não há bom pai, é a regra”, dizia Sartre. A narrativa de José Luís Peixoto é uma peça literária primorosa como a do escritor tcheco, mas sempre atravessada por uma ternura inquietante ao revisitar a morada paterna e toda a simbologia despertada pela perda.
Agora, sento-me no teu lugar de condutor. Lembro o que me ensinaste, o que aprendi. Seguíamos caminhos de areia que levavam, que traziam os homens das herdades e dos montes em carroças e tractores e, ao chegarmos ao campo da bola, paravas a carrinha, trocávamos de lugar, cruzávamo-nos no pára-brisas; liga o motor, e pisava a embraiagem e rodava a chave e ligava o motor. Na aragem crepuscular dos dias longos de verão, íamos devagar. Ensinavas-me. Entre o riso simpático miúdo dos pardais que se levantavam a voar dos campos ralos de palha e o sono pesado que os sobreiros abatiam sobre a terra, os teus ditos de professor a antecederem os meus movimentos.
Como observou José Castello em texto recente sobre a obra, a morte do pai é também a morte do filho e, com sua partida, uma parte do mundo se vai também:
Pai. Deixaste-te ficar em tudo. Sobrepostos na mágoa indiferente deste mundo que finge continuar, os teus movimentos, o eclipse dos teus gestos. E tudo isto é agora pouco para te conter.
Morreste-me não é uma obra niilista, nem tampouco desolada. De minha parte, não conheço uma narrativa tão triste e “tão violentamente doce”, para usar aqui uma expressão cunhada por Cortázar.