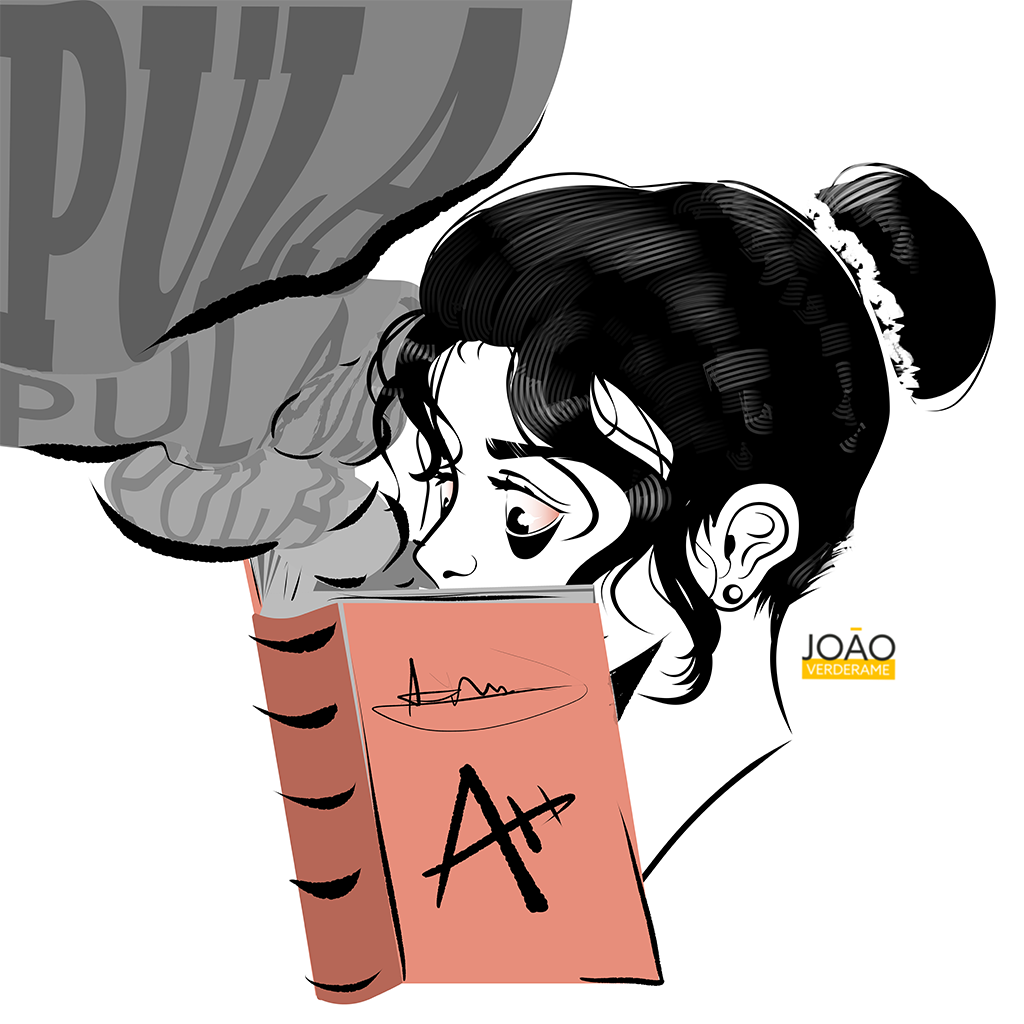Aos dezesseis anos eu amava G., colega de escola, fascinada pela Comédia humana de Balzac. Aos dezoito, na faculdade, me apaixonei por K., que lia Adelaide Carraro, escondida da mãe. A leitura grudou em mim, na adolescência, porque a vida era devagar demais. As relações ao meu alcance, as pessoas à minha volta, comuns demais. Na sexta série, um colega repetente sugeriu Feliz ano velho:
— Leia, é demais!
Li e concordei: demais!
Há pubescentes que começam a usar maconha. Outros, como eu, leem livros sobre pessoas que usam maconha. Meu psicotrópico era a leitura: estimulante, alucinógena.
Foi na adolescência que passei da leitura passiva à leitura ativa. Além dos livros que escola e entes queridos recomendavam, eu poderia descobrir outros? Fuçando as bibliotecas, observando as capas, vendos títulos e passando os olhos por parágrafos de amostra (as primeiras linhas, uma página sorteada no meio) — eu descobria.
A dependência afetou minha vida social. Os livros moldavam minhas amizades: eu gostava apenas de quem lia também. Não serei leviana, aqui, ao comparar as dependências. Algumas destroem o fígado, outras fritam o cérebro; famílias se destroçam, talentos se arruínam. O vício na leitura não arruína (quase) ninguém. Ainda assim, identifico os sinais: aumento na tolerância, crises de abstinência, isolamento social, descontrole financeiro, negligência consigo mesmo. Preciso controlar a quantidade de livros que compro, do mesmo modo que, em outra época, precisei controlar as garrafas de vinho que consumia.
Para ser fiel à verdade, entretanto, preciso reconhecer também o oposto.
G., que amei aos dezesseis anos, acreditava em Jesus Cristo, e ria, com candura, quando eu discursava contra a opressão da igreja católica. Eu a amava por sua afeição a Balzac, ou pela pureza de sua fé? E K., por que me encantou? Além dos livros eróticos, teria sido, mais que tudo, seu olhar enviesado, me espiando meio de canto, altiva e desconfiada?
Paul Auster escreve, em Here and now, coletânea de cartas trocadas com Coetzee, que não tem amigos escritores — não gosta de conviver com escritores. Tento localizar a passagem, e não encontro. Leio apenas, nas primeiras páginas, que é amigo de um escritor mais velho — e nunca falam de seus livros, quando se encontram. Passam o tempo entre silêncios, resmungam. O trabalho literário de cada um não é assunto para conversação.
É que escrever sobre ler, ou escrever sobre pessoas que só leem, é um caminho arriscado para a pretensão ou erudição desinteressante. Mais puramente narrativo é escrever sobre a vida material — sobre gente errada e confusa, e seus tropeços notáveis. Assim, curiosamente, quem escreve aprende por bem do ofício a se afastar das letras. Por amor aos livros, voltamos ao mundo de que escapamos — a vida devagar demais, as pessoas comuns demais.
Minha mãe usa muito a palavra “prosaico”: na raiz, o adjetivo significa “escrito em prosa”, “da natureza da prosa”. Daí se estende o sentido de algo comum, trivial, corriqueiro — como registra o dicionário.
A vida prosaica é o ponto de partida e também o ponto de chegada da prosa — como uma cama elástica. Aliás, G., alguns anos atrás, instalou uma cama elástica no fundo de casa, para fazer ginástica. E K., com dois filhos, ouve podcasts de humor, enquanto dirige para o trabalho. Chegamos à meia-idade, distantes de nossas leituras de adolescência. Acompanho o autor de Feliz ano velho pelo Instagram. E hoje lerei o terceiro capítulo de A valise do professor, que começa com o encontro de duas pessoas solitárias, num bar, mais apegadas ao álcool que à vida comum.