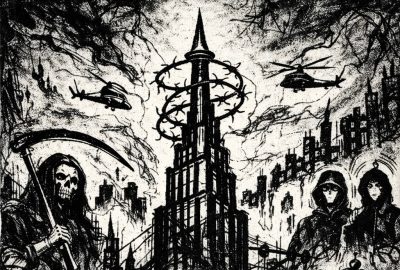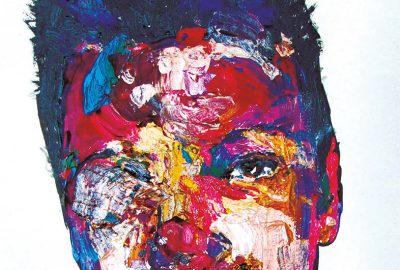Em mil novecentos e setenta e um eu tinha dezesseis anos, e o São Paulo foi campeão paulista, não o Santos. Estranho. Depois de ler Incidente em Antares, do Erico Verissimo, considerava o mundo um lugar onde os defuntos vagavam vasculhando a intimidade de parentes e amigos. Oscilava ao som de Você abusou, de Antônio Carlos & Jocafi, sucesso da época. Sofria, considerando que as meninas sempre tiravam partido de mim. Ainda não conseguia me entender assim tão bem com elas — talvez jamais tenha conseguido. O fato de ser míope e usar óculos obviamente não ajudava. Além da malvada, é claro.
Tinha começado muito cedo minha relação promíscua com o álcool; bebia de tudo, o tempo todo. O resultado fazia de mim um rapaz que, apesar de amar os Beatles e os Rolling Stones, mostrava-se frequentemente tonto. Nos intervalos sóbrios, eu fazia provas na escola, obtinha notas medíocres, passava raspando de ano.
Noites paulistanas. Batíamos ponto nas redondezas do final da avenida Paulista com a rua da Consolação. Bares Riviera e Jolly’s. Lá falávamos sobre cinema, música, invadíamos alegremente a madrugada em debates inflamados.
A nossa mesa era das mais animadas. Fumava-se muito — cigarro ainda não fazia mal e podia ser fumado indoor. Olhávamos o entorno com superioridade. Ninguém era capaz de fazer uma análise de A última sessão de cinema, do Peter Bogdanovich, como nossa turma. Morte em Veneza rendeu horas e horas de discussão. Até hoje desconheço a razão, já que todos adorávamos — não teríamos coragem de criticar Visconti. Ríamos com as bolinhas tapa-sexo de Laranja mecânica, do Stanley Kubrick. Na verdade, frustrados: tudo o que mais queríamos ver eram as perseguidas escondidas.
Bebíamos, aguardávamos olhares mais significativos das moças presentes, buscávamos coisas inteligentes para declarar — invariavelmente aos berros. O Joca resolvia teoremas de matemática nos guardanapos. E nos provava, cientificamente, a razão pela qual Deus não podia existir. Vida depois da morte era impossível segundo os seus números. E não estávamos mesmo interessados em nenhum existir diferente do nosso.
Voltávamos para casa a pé depois de gastar até o último cruzeiro, moeda forte então vigente. A noite, muitas vezes fria, não nos incomodava. Vivíamos naturalmente aquecidos pelo calor da vida. Descíamos em direção ao Jardim Paulista em grupo. Aguávamos as árvores do caminho com nosso xixi e bebíamos litros de leite que encontrávamos nas soleiras — garrafas de vidro deixadas nos portões das casas pelos padeiros. Era gostoso furar com o dedão a fina tampa de alumínio.
Muitas vezes eu caminhava quieto, cambaleando comigo mesmo. Sentia falta da namorada que ainda não conquistara. Dentro de mim carregava sentimento brega, romântico, que apenas a música dos Bee Gees era capaz de dar conta. Eu gostava da banda, embora não fosse louco de declarar aquilo para meus amigos. Lonely Days, lonely nights, where would I be without my woman? Ou, também acontecia, seguia assustado com a escuridão. Não a do percurso, mas aquela dentro de mim. Meio só entre as pessoas. Embaraçado, envergonhado, o olhar de desgosto do meu pai garantindo meu fracasso futuro. Ele nunca aceitou minha alegria juvenil — talvez porque precisasse ser triste.
Em casa, o silêncio era sempre confortável. Eu chegava cuidadoso, abria a geladeira, mastigava o que encontrasse frio mesmo. Fome colossal. Vestia o pijama, deitava, ligava o rádio baixinho. Go looking for flying saucers in the sky.