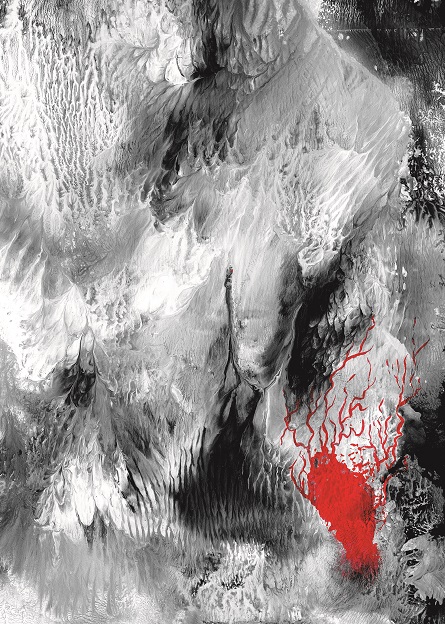É esmagadora e internamente contraditória a pluralidade semântica da palavra “arte”. Por essa razão, eu começo por uma declaração de falência: não desejo, por impossível e inútil, ir à busca de um conceito unívoco para esse fenômeno que acompanha o ser humano desde as cavernas. Para suprir minha ignorância, quero propor uma ideia que tem algo de cabotino, escapista e pouco acadêmico, mas que nos serve, quando sei que falo a pessoas habituadas ao trato diário da arte e que aprenderam há muito o sentido da ironia. E aqui faço uma analogia, é do Agostinho das Confessiones quando disserta sobre o tempo: se ninguém me pergunta, eu sei que é; se me pedem para explicar, não sei. Ao pensarmos na arte da escrita e para sairmos dessa discussão circular, tomemos o tema pelo seu contrário: eu sei quando estou perante um texto literário, pois a literatura — em seus vários gêneros — foi devidamente levada ao patamar artístico desde sempre, seja pela sua inclusão entre as musas clássicas, ou, ainda entre artes liberais da Idade Média e, o que nos importa, como tal é aceito, mesmo nos atuais tempos laicos e cínicos. Modalizado o título, é oportuno rever algumas ideias, que, dentre outras, poderiam estar presentes, com ganho, nas ações de quem se dedica à arte da escrita. O tema é vastíssimo, e, por isso esses 13 “verbetes” — que poderiam ser 130 ou 1.300 — resultam de uma escolha feroz. Haverá lacunas medonhas, mas inevitáveis. E não há qualquer hierarquia. A leitura aleatória pode ser de maior proveito.
Do Humanismo
Desde logo, excluo o equívoco: aqui, não se trata de “compaixão” que, embora pudesse ser utilizado, para algumas mentes traz uma conotação carola, quando não, sentimental. Aqui estou a falar de uma perspectiva integradora da literatura em todos os domínios dos saberes e que respeite o ser humano em sua individualidade e sua liberdade. Cada mulher e cada homem detém pequenas células de experiências autonômicas que não podem ser ignoradas por quem escreve, sob pena de fazer uma literatura com a qual o leitor nela não se reconheça. O humanismo é também aceitar e dialogar com a diversidade presente nas mais diferentes expressões de entendimento dos fenômenos que nos cercam e que, por vezes, escapam à nossa compreensão imediata. O humanismo será um material incombustível e fonte permanente de literatura. Num mundo doente, que perdeu a perspectiva da multiplicidade orgânica dos fenômenos sociais, o escritor, por meio da sua arte, é um poderoso agente de mescla e discussão.
Da admissão da própria humanidade
Um escritor não é um ente à parte de seu trabalho. Ele é um ser biológico, relacional, dotado de dores físicas e morais. Ele tem de lidar com o dinheiro, com o espaço em que escreve, com a cama em que dorme. Penso não estar a dizer nada de novo, mas é curioso que os manuais de escrita em geral não levam nada disso em conta e, no entanto, esses fatores podem ser decisivos. Como está em Shakespeare, nunca houve filósofo que suportasse pacientemente uma dor de dentes. Muito menos um escritor. Reconhecer que somos um corpo, e que não “habitamos” um corpo, e que esse conjunto implica nossas emoções. Nem sempre as aparentes dificuldades da nossa escrita podem ser debitadas à nossa incompetência, e ficamos girando em torno de um sofrimento inútil. É o caso de distinguir o pseudoproblema literário de uma circunstancial dificuldade em avançar num assunto que nos desconforta. A arte da escrita pressupõe a liberdade de abandonar o que não sabemos lidar ou, então, transformá-lo até atingirmos nosso objetivo.
Do conhecimento do mundo
É difícil haver bom escritor que ignore os grandes movimentos da sociedade, do pensamento em geral, da filosofia, das ciências, das artes e dos saberes individuais. É uma inevitabilidade. Ainda que fale obsessiva e exclusivamente de si, deve levar em conta de que não é um ser de existência singular, atemporal ou sem território. Mesmo para escolher o lugar do suicídio de uma personagem que se joga da janela, é preciso conhecer algo da resistência dos materiais. Borges escrevia de modo todo seu: sua experiência estava nos milhares de livros que lia. Não devemos nos iludir que a pesquisa irá suprir tudo; a pesquisa servirá apenas para conferir alguns dados, para não sufocar a nossa escrita. Ter consciência, ainda, implica saber se aquilo que escrevo faz sentido em nosso mundo. Mas atenção: o conhecimento de mundo vai muito além. É preciso ser capaz de estabelecer relações de sua arte com as outras artes, e mais ainda: com a cultura como um todo. O escritor deve saber associar o La ci darem la mano a um poema de Metastasio, ou um rap de qualidade à geração literária do On the road. E aqui lembro a bem conhecida metáfora do rizoma, proposta por Deleuze e Guattari em seus bons tempos, mas que ainda impressiona.
Do êxito, não do sucesso
Numa época de tanta liquidez, lembrando Bauman, o sucesso pode ser fonte de intenso sofrimento quando inevitavelmente passar. O sucesso literário, tal como acontece hoje (há 40 anos era diferente), é um fenômeno externo, incontrolável, frívolo, fantasmático e cenográfico, que depende de todos os jogos sociais e da mídia, bem como do neodandismo de nosso século, precisando ser realimentado todo o dia como a um monstro pantagruélico, e aí acontecem as enxurradas de disparates que muitos escritores irradiam. O sucesso exterior escraviza, ao mesmo tempo em que está sempre conduzindo sua vítima à margem do abismo. Já o êxito, esse, ele está dentro de nós e, embora possa ser objeto de recorrentes dúvidas, significa um aperfeiçoamento contínuo. Na sua essência, o êxito é a certeza íntima de que escrevemos algo de bom e válido sob o aspecto estético, e que as pessoas a que respeitamos pensam o mesmo. Isso conduz a um tipo de prazer particular. Se o sucesso é ontologicamente público, o êxito prescinde dessa qualidade para existir em sua pureza; ele poderá ser reconhecido publicamente — ou não —, mas é assunto estranho à literatura, e, para algumas pessoas, pode suprir a vaidade. O escritor, no correr dos anos, e se o for de fato, e se estiver disposto a tal, adquirirá a suficiente maturidade para entender que o êxito, e só ele, é que o justifica como uma persona artística dotada de autenticidade.
Da dedicação
Os escritores que respeitam seu ofício procuram dedicar o melhor de sua vocação à literatura. Sim, a vida conspira contra. Temos contas a pagar, filhos para cuidar, cachorros, programas sociais e todo tipo de compromisso. Mas é preciso não sucumbir ao diletantismo. Nosso país já é suficientemente povoado por perigosos amadores em todas as áreas, que nos tiram a alegria da vida, e mais nos desalentam do que nos irritam. Literatura, para escritores de verdade, não é hobby, literatura não se pratica apenas em fins de semana e férias; literatura significa abrir mão do que, para os outros, seria necessário, o que nos lembra o burlesco aforismo de Oscar Wilde. Nesse ponto, os pintores, escultores, bailarinos, músicos, arquitetos, têm muito a nos ensinar em termos de entrega absoluta às suas respectivas artes, às vezes com épicos timbres de martirológio. Esse empenho vital pressupõe um estado de permanente atenção ao literário, ainda que episodicamente não estejamos escrevendo. Eis o que se pode chamar de dedicação exclusiva.
Da sensibilidade
A sensibilidade volta-se também para a descoberta do inédito numa paisagem que todos veem todo o dia. É não perder a capacidade de perceber a surpresa, e, ao tratar literariamente dela, manter o caráter surpreendente. Digamos, é aceitar a nota bemol que toca dentro de nós e que às vezes quer soltar-se. É possível que os autores românticos tivessem entendido isso bem, mas, pena, atascaram-se no mal du siècle e se autoesterilizaram. Não se trata, portanto, de ir por esse caminho, ainda que “atualizado”, mas de aceitar que somos seres sensíveis e que nossa literatura vai na contramão da onda de vulgaridade e pior, de brutalidade e desrazão que assoma o mundo. A poesia será um bom tempero diário para ficcionistas hard, jamais uma oposição. A sensibilidade também é saber colocar-se no lugar do outro, ainda que seja uma personagem de ficção. Mesmo que difícil, dado que o outro pode ser um indivíduo sulfuroso, é necessário para que a literatura tenha verdade.
Do diálogo com a tradição literária
É preciso admitir que nosso livro não é o primeiro nem o último de uma longa série que já tem cerca de três mil anos; caso contrário, podemos ter a veleidade de pensar que estamos dizendo algo de novo, quando aquilo já foi dito, por exemplo, por Parmênides, Homero ou Montaigne. Entendo a tradição também no seu sentido horizontal, isto é, abrangente do que se escreve hoje, e que igualmente constrói a tradição, mas de um modo bem especial: quanto mais universal for a literatura contemporânea — ainda que trate de temas pontuais —, mais ela estabelecerá pontes com os clássicos. Ler a derrelicção em Victor Heringer, por exemplo, pode nos levar aos Pensamentos de Pascal; as duas obras se iluminam reciprocamente. O mesmo acontece com a poesia da dúvida de Angélica Freitas e a mesma ideia, com variantes existenciais, encontrada em Søren Kierkegaard. Não precisamos ler os clássicos de maneira isolada e anárquica, pois pode ser bastante frustrante se não se dispõe de um mediador qualificado: mas os clássicos podem vir a nós, quando evocados pelas leituras de hoje. É um método que sugiro para escritores em formação, mas que bem poderia ser usado no ensino formal da literatura.
Da consciência do que se faz
Ao começar a escrever um livro, o escritor deve se perguntar: sou eu quem deve escrever este livro? Para escrevê-lo, necessito experiências, interesses e vivências — ainda que sejam restritas à minha alma — que me levem a isso. Ao escrever, devo me sentir confortável com o tema, de modo que me passe a ideia de que ele surgiu ao natural do meu repertório de interesses, tal como aconteceu com Jane Austen em Orgulho e preconceito. Desse modo, não é de estranhar que escritores muito jovens escrevam acerca de si mesmos — esse “eu” é o que mais os preocupa, no momento. Seria um tanto exótico que escrevessem uma saga familiar em três volumes. A resposta negativa à pergunta “sou eu quem deve escrever este livro?” implica o declinar do tema e ir à busca de outro. Assim, garante-se que o leitor não perceberá o esforço do escritor em ajustar-se a um assunto escolhido por impulso, nem o escritor frustrará a si mesmo ao insistir num assunto que lhe é alheio.
Da simplicidade
Na arte da escrita, o simples é virtuoso, eficiente, belo. As grandes obras literárias da História são de uma simplicidade tocante, e podem ser lidas por crianças e jovens. No século 20 esse quadro sofreu uma alteração parcial, em que algumas obras capitais se tornaram “difíceis”, mas essa “dificuldade” é, na maior parte das vezes, mais uma construção da crítica ou das universidades, do que da cabeça do leitor. Por efeito reflexo, boa parte dos escritores, por exemplo, passaram a escrever para serem lidos na academia — uma das últimas descobertas de Todoróv ao falar no cenário literário francês. Tudo é moda. Desse modo, continuemos apostando numa bela simplicidade à Sei Shônagon, Clarice ou Voltaire — ela sempre fascina o leitor. Até hoje não vi alguém se queixar de que um livro literário é simples. E o método? É procurar não “escrever literatura”, e sei que não é preciso explicar.
Da clareza
E aqui falamos em estilo, essa pseudopedra de toque de toda literatura. Nenhum escritor é obrigado a ter estilo; mas o estilo, que não necessita ser exclusivo, irá aos poucos se impor. Desarticulado, ordenado, elíptico etc., são possibilidades — o anátema deve ser lançado ao estilo que não é claro. O leitor deve saber o que está lendo, pois o que importa, na relação com o texto, é o conteúdo, a possibilidade de entender o que se está passando. Nenhum leitor deve ficar em dúvida se a personagem entrou ou saiu por aquela porta — isso é fatal, desagradável, pois a história poderá perder-se. Deixe as complicações, deixe a confusão e a perturbação, deixe seus demônios para o subtexto; aliás, ali é seu único lugar, é o que dá sentido à obra, e que realmente pode inovar a literatura. Alguns escritores que fizeram experiências formais confusas relatam que estas foram mais úteis para si próprios nos estágios iniciais da carreira do que propriamente para o público. Não que se tivessem “academizado” com o tempo e a maturidade, mas, sim, passaram a ser mais generosos com os leitores.
Do escutar o texto
A arte literária tem sua origem na palavra oral. Era algo para ser dito e escutado. O longo desenvolvimento da escrita teve o mérito de preservar todo esse patrimônio até nossos dias; mas até o fim da Alta Idade Média os textos eram lidos em voz alta. Afirma-se que foi Ambrósio o criador da leitura silenciosa. Mas, antes, “ler” era ler em voz alta, e um resquício disso está no método da aquisição do letramento, em que a criança começa a ler em voz alta e aos poucos deixa de vocalizar. Na idade adulta, embora leiamos em silêncio, nossos pulmões, nosso diafragma, todo nosso corpo está empolgado pelo ritmo das frases. Assim, ler em voz alta nossos originais in fieri é uma reconciliação com essa história ancestral; o processo recupera o caráter orgânico da leitura, a qual transita a uma inesperada e espantosa tridimensionalidade acústica e até semântica, revelando-nos os eventuais problemas textuais que podem ser reparados a tempo.
Do uso das técnicas
Toda arte implica conhecimento das técnicas que a realizam. Essa platitude vem ao caso apenas para fins retóricos e argumentativos. Uma ideia literária todos podem ter — e algumas excelentes —, mas essa ideia só ganhará existência concreta quando se materializar em um texto. A passagem da ideia ao texto demanda habilidades específicas, que são adquiridas, antes de tudo, pela intensa leitura. Uma “leitura para aprender”. Certo, perde-se um pouco a descoberta ingênua do feliz leitor habitual, mas esta é substituída pela descoberta consciente. Portanto, nossa atitude irá muito além do “mas que bom isso que eu estou lendo!” e com naturalidade evoluirá para outra: “Vou descobrir quais recursos foram utilizados para chegar a esse resultado de que eu gosto tanto”. Aí releva o domínio da língua literária, que vai além da gramática, inserindo-se no domínio do fairplay que nos permite redescobri-la e reinventá-la, para que esta não perca sua dinâmica evolucionária. Para o processo de aquisição do domínio das técnicas também podem ser úteis os bons laboratórios de textos, assim como um qualificado manual de escrita criativa, ultrapassados os preconceitos que antes havia contra estes. Mas é de reiterar: nada irá substituir a leitura compreensiva e atenta de bons livros, e, por último: conhecer as técnicas não impede ninguém de ganhar o Nobel.
Do reescrever
Por vezes ouvimos declarações como esta: “Hoje coloquei o ponto final no meu livro. Fim”. Não, é o começo de uma tarefa tão trabalhosa quanto compensadora: a revisão literária, que é coisa diferente de buscar os erros gramaticais ou de digitação. Se, por exemplo, se trata de um romance, o empenho é, grosso modo, de auscultar a coerência do desenvolvimento da personagem central e, ainda, verificar se os diversos eventos se justificam uns aos outros e se a tensão não tem quedas que possam comprometer o conflito. Na raiz, é indagar-se sobre a integridade do que escrevemos. Infelizmente, essa conduta tem algo de diabólico. Em primeiro lugar, porque será tarefa sempre inconclusa; aí estão os pentimenti dos artistas plásticos, como as correções que Velázquez fazia na pintura com ela já em andamento, vejam-se as patas traseiras do cavalo de Felipe IV. Eis um rico processo construtivo com o qual podemos aprender. Em segundo, porque, como diz Sartre em As palavras, o escritor é a pessoa menos indicada para ler seus próprios livros, pois não irá ler o que escreveu, mas o que deixou de escrever. Tirados esses extremos, há uma brecha para agirmos, até o dia em que, exaustos, colocamos o famoso ponto final — sabendo que nunca o será. Entender isso não se trata de humildade, mas de inteligência.