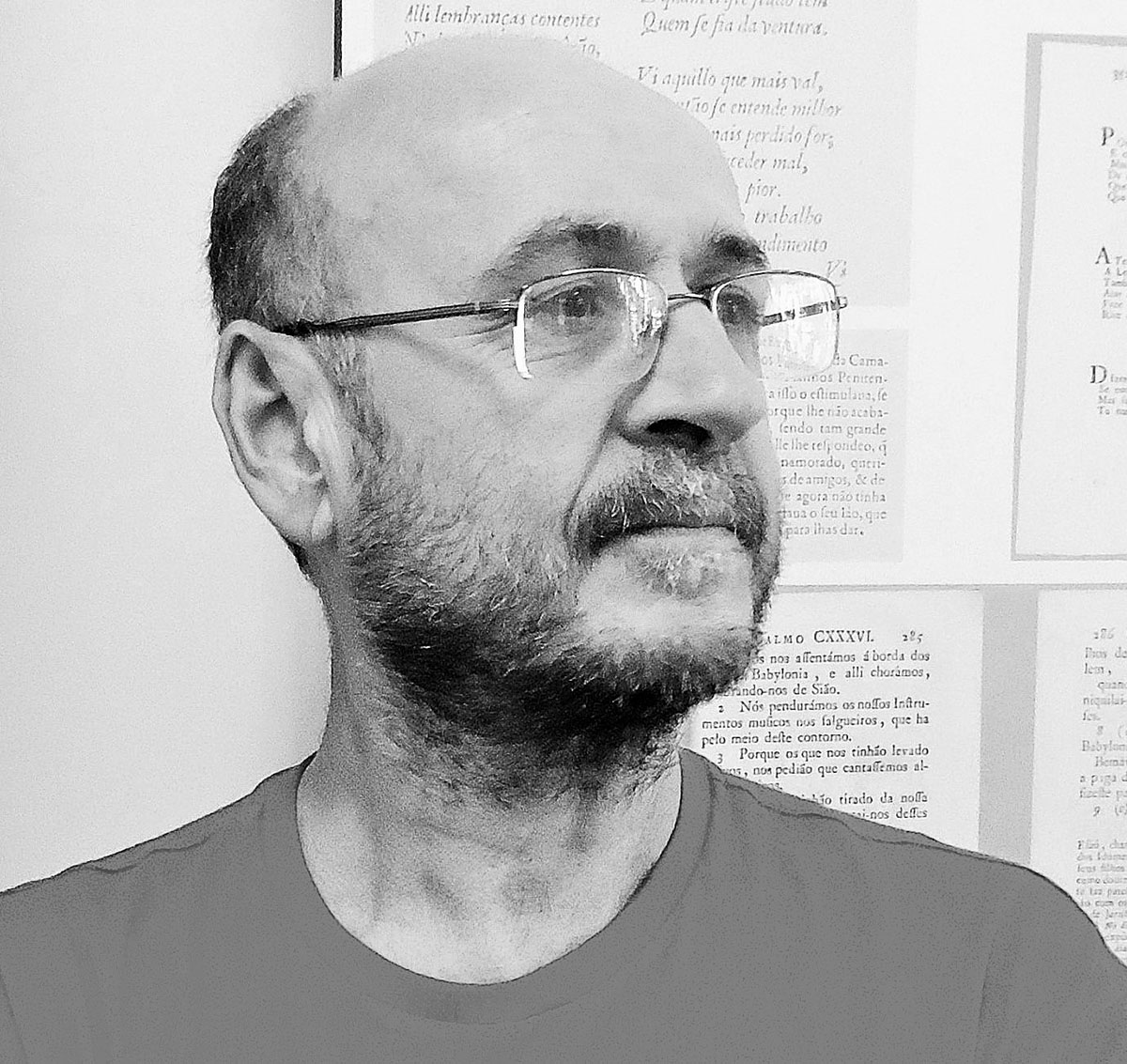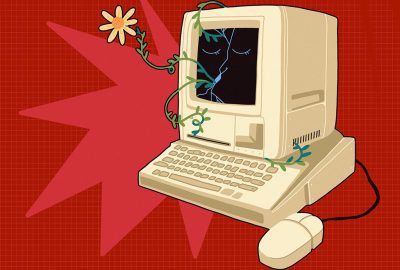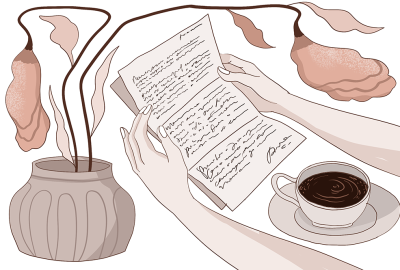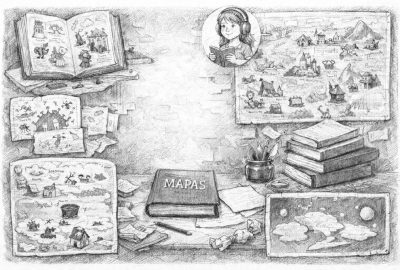Andei perdendo coisas que me são
bem caras: a caneta cuja ponta
de pena começava a se ajustar
à minha escrita, aquele cachecol
favorito, a bonita tese sobre
metáfora, que lia com prazer.
Tomei algumas notas sobre isso
pra escrever um soneto. Eu queria
reencontrar esses objetos todos
na forma circular das quatro estrofes,
no ritmo repetido, no arcaísmo
das rimas. Mas perdi também o bloco
contendo essas e outras notas minhas.
Perdi meu tempo. Acho que foi isso.
Desde sempre, a arte se comprouve com o falar de si na forma mesma em que se faz. Em cada período, arte, artista, poeta ou poema, a metalinguagem se reinventa, mas parece haver um desejo constante de dizer que, a despeito das inumeráveis diferenças de feitura, em toda forma de arte se cifram as pistas de seu engenho — pistas mais ou menos explícitas, mas onipresentes. Precisa é a definição de “metalinguagem” que Barthes oferece em Aula (1978): “retenção do espetáculo, como no exemplo da imagem congelada dos mostradores de sombra chineses, quando estes exibem ao mesmo tempo suas mãos e o coelho, o pato, o lobo, cuja silhueta simulam”. Um soneto, por excelência, já exibe de saída a sua sombra, com a projeção na página de suas estrofes tradicionais. Se o soneto tem por tema e totem o próprio processo de compor um soneto, temos diante de nós o espetáculo de sombras e dobras de que fala o semiólogo francês. É o caso do poema em tela de Patrícia Lavelle: Soneto encontrado num pedaço de prosa (Sombras longas, 2023).
De fato, o título antecipa certa estratégia: se o leitor artificiosamente “eliminar” a quebra dos versos, lendo o poema como um parágrafo em prosa, perceberá a fluidez e a tranquilidade de quem está pensando (e escrevendo) um acontecimento banal: a perda de objetos (caneta, cachecol, tese) e a perda de um bloco (com notas sobre as perdas). Colocada de lado a pausa que pedem os enjambements, sentimos de pleno o “pedaço de prosa” em que a poeta nos envolve, com sua “forma circular”. Acontece, contudo, que o soneto não é um parágrafo, mas um poema de 14 versos, todos decassílabos heroicos (à exceção do sáfico no verso 9) e todos com rimas toantes (menos o verso 6, “branco”), o que reforça o aspecto de prosa do soneto, pois rimas toantes não marcam uma sonoridade forte e nítida. No poema, as rimas “sÃo/ ajustAr”, “pOnta/ cachecOl/ sObre/ tOdos/ estrOfes/ blOco”, “Isso/ querIa/ arcaÍsmo/ mInhas/ Isso” funcionam, de modo suave, para encenar uma conversa, uma digressão, uma prosa.
Essa vontade de prosear com o outro aparece ao longo do livro, como se vê às claras em Uma conversa com Orides Fontela: “queria que você estivesse viva/ e esse meu poema/ pudesse ser/ uma conversa”. O interesse pela escuta se espalha em Sombras longas e a alusão no soneto à “bonita tese sobre/ metáfora” constitui mais um exemplo desse interesse pelo que o outro tem a dizer. Mas se engana quem pense que a metapoesia seja o alicerce da obra, embora nenhum problema haja nisso. Pesquisadora de Walter Benjamin, presente já na epígrafe Sombras curtas (de onde o título do livro), a poeta e professora volta seu olhar para a dor e o drama da existência, sobretudo para a histórica opressão sofrida pela mulher. A postura feminista vai buscar a partir do mito de Filomela — estuprada pelo cunhado, que ainda lhe cortou a língua — a metáfora (não bonita: hedionda) da longevidade e perpetuação de tamanhas barbaridades, como testemunhamos rotineiramente e como se denuncia também em poemas como Verdade seja dita, “[quando eu era criança]” e Poema dos porquês, de Mel Duarte (2014), Bruna Mitrano (2016) e Laura Conceição (2019), em que se delata o estupro.
A aula de metapoesia e história se revela aqui na lembrança do trágico crime perpetrado contra Filomela, quando a poeta narra em prosa o ocorrido e, após nove linhas cursivas, o texto “corta” a prosa do poema e, em verso separado, exibe o corte da língua na forma mesma do poema, não por um mero efeito espetaculoso, mas exatamente para chamar a atenção do ato terrível e abominável, isolando-o, como um pedaço de corpo que se descola, como um espanto, uma dor, um grito:
cortou sua língua
O drama de Filomela se enreda aos dramas de Ariadne, Penélope e das mulheres reais, na sequência de Fios entremeados. A sensibilidade da poeta se estende a outros genocídios. As primeiras palavras de 22 de abril de 2020 da série Diário da seção Confinamento dizem: “Lá fora o dia azul/ traz os jornais/ e seu lote de mortos”. Os outros quatro poemas da série sintetizam com muita delicadeza e tristeza o período da pandemia que acometeu praticamente todo o planeta, sendo que em alguns países com postura negacionista — como o tenebroso Brasil da época — a perda de milhares de vidas foi muito maior do que seria se o bom senso da ciência prevalecesse.
Nos 44 poemas de Sombras longas, Patrícia Lavelle conversa com um conjunto expressivo de pensadores e artistas, como, além de Walter Benjamin e Orides Fontela, os filósofos Platão, J. G. Hamann e Nietzsche; os poetas portugueses Adília Lopes, Ana Hatherly e Fernando Pessoa; as poetas Safo e Elizabeth Bishop; artistas como Leila Danziger, Michelangelo, Paul Klee, Gustave Courbet, Artemisia Gentileschi e Vivian Maier — tão distintos e distantes entre si. Na apresentação, Paulo Henriques Britto diz de imediato que “talvez o que mais chame a atenção neste novo livro de poesia de Patrícia Lavelle seja a ênfase no visual”, daí seu texto intitular-se exatamente Palavra e imagem. Também chama a atenção, nessas conversas intertextuais, o poema Quadrilha, que repete o título do célebre poema de Drummond, dando-lhe, como toda paródia, novos pares e temperos:
Eu amava Mim
que amava Você
que não amava Ela
que casou-se com Ninguém
que não tinha entrado nessa história
A versão de Patrícia mantém o tom humorado e melancólico do original do mineiro. Os nomes de então — João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim, Lili e J. Pinto Fernandes — dão lugar a pronomes que, com as maiúsculas, encenam ser nomes próprios: Eu, Mim, Você, Ela, Ninguém. Em Drummond, Lili “não amava ninguém”; aqui, Ela “casou-se com Ninguém”. A quadrilha de Lavelle parece reforçar o alcance universal dos encontros e desencontros amorosos na história de cada um de nós, e a sutil ausência de ponto final sinaliza uma circularidade que amplifica tal alcance. (No poema O eu e eu, a poeta pensa os mistérios da constituição da subjetividade e o incessante trânsito entre sujeito e objeto: “Nem é preciso dizer/ você já sabe: eu/ sou/ o sujeito aqui/ deste enunciado./// Estou entretanto/ fora dele/ e de fora/ o observo/ espantada”).
Há algo de circular também nos movimentos de Soneto encontrado num pedaço de prosa: (1) primeiro, a poeta anuncia que anda “perdendo coisas”; (2) a seguir, declara os objetos perdidos: caneta, cachecol, tese, enquanto (3) detalha que estava começando a se entender com a caneta (escrita), (4) que o cachecol — conforto — perdido era seu favorito, (5) que perdeu até uma tese cujo assunto era a metáfora (matriz das figuras de linguagem), (6) tese que “lia com prazer”, e, pois, com Barthes, lia com satisfação e identificação; (7) diante de tantas perdas, decide escrever “sobre isso” para, num futuro, “escrever um soneto”. Entre os versos 8 e 12, (8) a poeta diz do desejo de “reencontrar esses objetos todos”, mas não eles mesmos em sua concretude, mas (9) reencontrá-los “na forma circular das quatro estrofes”, e para tanto serviriam as notas. Entretanto, (10) a poeta anuncia que perdeu o bloco com as anotações, e conclui (11) que perdeu tempo, embora (12) sem certeza do sentido desses acontecimentos (“Acho que foi isso”). Se (13) voltamos ao título, “Soneto encontrado num pedaço de prosa”, a estratégia da metapoesia se evidencia, pois (14) o soneto que lemos é ele mesmo o relato das perdas, das notas, do desejo de fazer um soneto e, sobretudo, o soneto é ele mesmo a prova de que o desejo se realizou. E nós lemos o soneto com prazer e, de novo Barthes, gozo, no que ele nos perturba, nos aciona, nos afeta, nos lança em desconforto.
O caminho do prazer ao gozo parece vir da sincera simulação de fingir que Soneto encontrado num pedaço de prosa é um soneto encontrado num pedaço de prosa. Se os enjambements e as rimas toantes reforçam a linearidade da prosa, os versos decassílabos e as quatro estrofes confirmam tratar-se de um soneto que, além do tom da prosa, tem também o tom da poesia, como o “ritmo repetido e o arcaísmo das rimas”. No trecho inicial, a força das vogais e da nasalização se junta à incrível repetição de 18 fonemas iguais ou homorgânicos: /k/ (c, q); /d, t/ (alveolares); e /m, p, b/ (bilabiais): anDei PerDenDo Coisas Que Me são/ Bem Caras: a CaneTa Cuja PonTa/ De Pena CoMeçava. Se voltamos às rimas, constatamos que, de um lado, há uma única palavra (“prazer”) sem rima externa, mas seguida por uma rima interna (“tomei”), toante como as demais; em compensação, há outra palavra (isso”) que rima duas vezes (versos 7 e 14). A rima repetida em “isso” diz do poema/soneto; a ausência de rima em “prazer” diz da prosa/conversa.
Paulo Henriques Britto, na apresentação, e Célia Pedrosa, na orelha, falam de “inteligência agudíssima” e de “imagens pensativas” em Sombras longas, de Patrícia Lavelle. Sim, inteligência e pensamento percorrem seu livro, ao lado de uma “delicadeza agudíssima” e de “sensíveis imagens”. Um dos poemas mais contundentes é Data: numa página, lemos: “Um poema sobre a morte/ é forçosamente um poema/ sobre fronteira/// Um poema sobre a morte/ é sempre um poema/ em impasse/// Num poema sobre a morte/ falta a data”; e é só quando viramos a página (fronteira) que nos deparamos com o verso derradeiro, só, na folha: “Sou algum lugar entre duas datas”. A poeta demonstra em Data que o dito no soneto em pauta — “Perdi meu tempo” — tem forte teor irônico. Fazer um soneto é, sim, uma forma de atar as pontas do pensar e do sentir diante do tempo. Desde sempre.