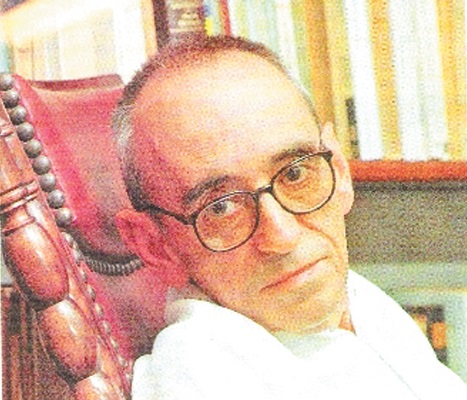Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias.
A chefe da escola é a diretora.
A diretora manda na professora.
A professora manda na gente.
A gente não manda em ninguém.
Só quando manda alguém plantar batata.
Além de fazer lição na escola, a gente tem de fazer lição em casa.
A professora leva nossa lição de casa para a casa dela e corrige.
Se a gente não errasse, a professora não precisava levar lição para casa.
Por isso é que a gente erra.
Embora não seja piano nem banco, a professora também dá notas.
Quem não tem notas boas, não passa de ano.
(Será que fica sempre com a mesma idade?)
O poema Escola, de José Paulo Paes, saiu na Folhinha em 1997, e depois em Vejam como eu sei escrever, de 2001. Trata-se de um livro dirigido ao público infantil e juvenil, que conta com um narrador de oito anos de idade, conforme se diz no último poema, Infância: “Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever” — lembrando o clássico Meus oito anos de Casimiro de Abreu e, por extensão, a paródia oswaldiana de mesmo título. Este alter ego de Paes tem tiradas saborosas, como “A água serve para beber./ E, quando não se pode evitar, serve também para tomar banho” (Água), “O elefante não dá muito trabalho ao dentista/ do zoológico porque só tem dois dentes” (Dentista) ou “Cometas são estrelas com pressa” (Astros).
A leitura do poema pede que acompanhemos a perspectiva da criança que o elabora (sob a batuta do poeta adulto que ali se projeta ou, de outro modo, que interpreta o sentimento da criança diante da instituição escolar). Desde o verso de abertura — “Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias.” —, e até o fim do poema, este sentimento será de opressão, desprazer, autoritarismo, hierarquia, imposição, disciplina, tristeza. Paira um tom melancólico, somente abalado pelo humor que se produz a partir da lógica infantil do escritor-mirim, em atrito com a lógica do leitor maduro, que, supostamente, deveria fazer mediações e reflexões mais densas antes de proferir sentenças acerca da importância da escola em nossa educação.
Na primeira frase de Educação após Auschwitz (1965), Theodor Adorno diz que “a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”. Após falar do mal-estar que Freud estudou em conexão com a violência individual e social (que, represada, explode em múltiplas manifestações), Adorno afirma: “Se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso é desesperador”. E é justamente por causa dessa tarefa tão “desesperadora” quanto urgente que o filósofo alemão vai arrematar: “Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: primeiro, à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e, além disto, ao esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal repetição”.
Será que, leitores, teremos a idade de agora ou de antanho, parece nos perguntar o poema de Paes, enquanto brinca de mandar alguém plantar batata.
O poema Escola mobiliza questões afins à educação e à escola, a partir de uma dramatis personae infantil. Para o filósofo, a “educação infantil” é aquilo em que primeiro devemos pensar, se queremos evitar que retornem o obscurantismo e a barbárie que Auschwitz representa. O primeiro verso é retumbante em sua clareza: “Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias”. Se férias é diversão e liberdade, a escola será dever e prisão. Os versos de 2 a 6 — “A chefe da escola é a diretora./ A diretora manda na professora./ A professora manda na gente./ A gente não manda em ninguém./ Só quando manda alguém plantar batata.” — não deixam dúvidas de que, para o infante, a escola se constitui num rigoroso sistema hierárquico de relações verticais de poder: no topo, a diretora funciona como agente ideológico — afinal ela é a “chefe”; a seguir, a professora (o artigo feminino ratifica a clássica identificação do magistério como profissão de mulher, estereotipada na expressão “professora primária”) aparece como agente de coerção, responsável e “culpada” pela existência da “lição” (a punição); em último, em condição subalterna, o coletivo dos alunos, “a gente”, aos quais só cabe obedecer.
A criança percebe no lúdico a possibilidade de transgressão e, mesmo, elaboração de um pensamento crítico, ainda que à base da zombaria e da blague: quando diz que “A gente não manda em ninguém./ Só quando manda alguém plantar batata”, a criança rompe a cadeia de ordens que entende como real e literal (diretora / professora / a gente / ninguém) e inaugura no lugar um pensamento poético que privilegia a metáfora e o humor, pois sabe que “mandar alguém plantar batata” não é da mesma ordem dos mandos e desmandos anteriores. A repetição anafórica do verbo “manda[r]” demonstra que o menino (ou menina, não se sabe) internalizou uma estrutura de poder da qual só escapará se conseguir entender e dominar seus códigos de funcionamento, seus dispositivos de poder.
A atividade cotidiana e ininterrupta de realizar tarefas — na escola, em casa — parece produzir um novo trauma nessa memória que vai se formando. O verso “Além de fazer lição na escola, a gente tem de fazer lição em casa” deixa claro que o espectro escolar avança para além de seus muros e se perpetua em outros ambientes, fixando-se como algo impositivo (“a gente tem de”), fantasmático (“A professora leva nossa lição de casa para a casa dela e corrige”) e judicativo (“a professora também dá notas”). O modo lúdico de traduzir o comportamento dos adultos põe a nu a ideologia da seriedade e desmonta o aparentemente inquestionável: por que a professora dá notas, se ela não é piano nem banco? Contando com a ambivalência da linguagem para denunciar o sistema que sente como opressor, a criança vai se constituindo como sujeito crítico, descobrindo que a “nota” da professora não é nem musical, nem financeira, mas avaliativa. É a professora quem tem o poder de decidir o futuro do aluno, de onde vem o chiste derradeiro: se não passar de ano, “(Será que fica sempre com a mesma idade?)”.
Em linguagem leve e disfarçadamente ingênua de uma criança de oito anos, o poema Escola é um exemplo contemporâneo de como a instituição escolar tem sido apreciada em versos. Em Gregório de Matos aparece a figura do “letrado como um matulo” (ordinário, vadio), dando a ver o conhecido rancor do poeta barroco quanto às classes emergentes. Gonzaga, no século 18, registra na Lira III o lugar privilegiado do homem letrado em relação ao lugar acessório da mulher. Álvares dá nova dimensão a esse sujeito europeizado, que, entre livros, vinhos e charutos, se alimenta de um saber elitizado e excludente, como em Ideias íntimas. Com o modernismo, assistimos a um olhar zombeteiro e dessacralizador, que passa pelos poemas Escola rural, de Oswald de Andrade, e Linhas paralelas, de Murilo Mendes. Em Boitempo, Drummond dedica seções inteiras a lembranças do período escolar. Recordem-se ainda os iconoclásticos Grupo escolar (1974) de Cacaso e Preço da passagem (1972) de Chacal. Muitos são os poemas que abordam a relação da escola com a literatura, como Descoberta da literatura, de João Cabral, e O assassino era o escriba, de Paulo Leminski.
O último verso de Escola — “(Será que fica sempre com a mesma idade?)” — aparece entre parênteses, emoldurando uma dúvida, que o sinal de interrogação amplifica. A capciosa pergunta do poeta-mirim traz a problemática situação de alunos que ficam constantemente reprovados, que pode provocar um desequilíbrio da faixa etária de um grupo. Mais grave é quando este não passar de ano significa dificuldade ou impossibilidade de acesso a bens materiais e simbólicos. Ao fim de Educação após Auschwitz, Adorno pondera: “Agrada pensar que a chance é tanto maior quanto menos se erra na infância, quanto melhor são tratadas as crianças. Mas mesmo aqui pode haver ilusões. Crianças que não suspeitam nada da crueldade e da dureza da vida acabam por ser particularmente expostas à barbárie depois que deixam de ser protegidas”. O que a criança de Paes está dizendo é que ela está suspeitando, sim, da crueldade e da dureza da vida. A vida não é um período infinito de férias; ao contrário, as férias são um suspiro. A escola é a norma com e contra a qual devemos nos haver, sob o risco de ficarmos “sempre com a mesma idade”. As crianças de outrora são/somos os adultos de agora. No presente do menino narrador, o autor adulto projeta sua experiência passada. A criança e o adulto já não têm a mesma idade. Será que, leitores, teremos a idade de agora ou de antanho, parece nos perguntar o poema de Paes, enquanto brinca de mandar alguém plantar batata.