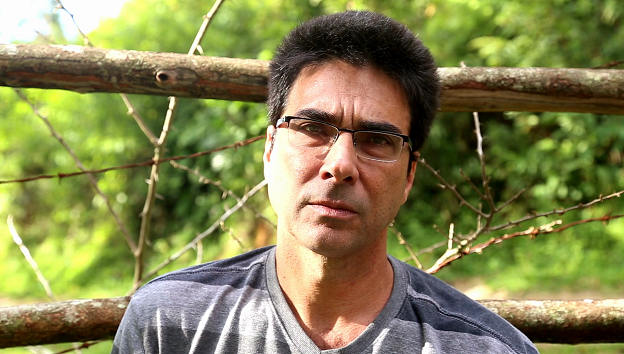diz-se muito que a poesia não serve para nada.
diz-se que a poesia não serve para nada
tanto para atacá-la quanto para defendê-la.
tolos dizem que a poesia não serve para nada,
diz-se, mesmo filosoficamente,
que a poesia não serve para nada,
poetas dizem que a poesia
não serve para nada.
eu mesmo já disse algumas vezes
que a poesia não serve
para nada (como já disse outra coisa
que isso exatamente em um ensaio
chamado “literatura, para que serve?”)
hoje, mais uma vez, não vou dizer
que a poesia não serve para nada
(pode ser que no futuro eu diga
alguma vez
que a poesia não serve para nada),
hoje eu vou dizer que a poesia serve
a um outro, que a poesia é o lugar de um outro.
quer aprender a alteridade, aprender
a se relacionar com outro
(quer aprender um outro
quem quer que seja esse outro),
mesmo com um outro
que, saiba você ou não, já há
em você, vá ler poesia.
Quem lê esse poema de Alberto Pucheu, e não conhece um pouco de sua obra, pode pensar que se trata tão somente de mais um metapoema no caldeirão de metapoemas que inflacionam a poesia brasileira contemporânea. A despeito, porém, de, de fato, tratar-se de um evidente metapoema, ele envolve outras questões que atravessam todo o livro no qual se abriga. A estrofe única de Ela, o outro, com seus 27 versos, traz uma pergunta que deve acompanhar e perseguir os artistas em geral e, aqui, os poetas: para que serve a poesia? Tal pergunta encontra eco, e se amplia, no provocador título do recente livro: Para que poetas em tempos de terrorismos? (2017). A leitura do poema, sem estrofes que convidem à pausa, se desenrola em um só fôlego, em que a dúvida da “servitude” do poema parece oscilar (ora sim, ora não), até que o poema se decide que sim, que a poesia (“Ela”) se faz na alteridade, na diferença (para “o outro”), mesmo — eu diria: sobretudo — com um outro que “vá ler poesia”.
A aparente (estratégica) oscilação se faz notar, por exemplo, no vaivém das repetições vocabulares de “poesia”, “serve”, “nada” e “outro”, que aparecem 10, 9, 8 e 6 vezes, respectivamente. De início, o poema afirma, atribuindo a terceiros: “diz-se muito que a poesia não serve para nada”, o que marca, de entrada, uma posição que talvez seja hegemônica em certos grupos de poetas, e decerto no senso comum. A ideia da poesia como inutensílio (que admiradores de Paulo Leminski e Manoel de Barros se orgulham de divulgar) se vincula estreitamente à ideia kantiana da arte como finalidade sem fim e, em que pese a rima, à parnasiana imagem da “torre de marfim”, distante dos problemas mundanos. Não é, em absoluto, de tal inutensília distância que o poema e a poesia de Pucheu encaram o mundo. Bem ao contrário.
Desde o primeiro poema do livro, A testemunha, o poeta (que, afinal, assina todos os poemas e com eles e neles encena um perfil) procura entender o “outro” que sempre está em seu e nosso entorno. Vigiado por câmeras e microfones de um tribunal, descobre, ao cabo, a intrínseca solidão em que se acha, quando percebe que o advogado que lhe perguntava “não me olhara por nenhum segundo”. No belo poema seguinte, Da impotência, o holofote se dirige para a tensa e clássica relação entre poesia e revolução, assinalando ser a poesia “como uma revolução permanente,/ contínua, duradoura, ininterrupta”, desde que ela não sucumba a “todo e qualquer desejo de poder”.
Adiante, vem o mais longo poema do livro, que lhe dá o título: Para que poetas em tempos de terrorismos?, com 172 versos em estrofe única. Antecipando questões do contundente poema seguinte (O golpe), este poema de sete páginas atualiza a célebre pergunta de Hölderlin a partir de indagações radicalmente políticas: “para que poetas em tempos de terrorismo/ religioso de todos os lados do planeta? para que/ poetas em tempos de terrorismo da verdade/ plena e integralmente revelada? para que poetas/ em tempos de terrorismo midiático? para que/ poetas em tempos de terrorismo econômico?/ para que poetas em tempos de terrorismos?”. Tal postura, repito, radicalmente política (que Flavia Trocoli chama, na orelha, de “explosão crítica”), vai distinguir a poesia de Alberto Pucheu no cenário de nossa lírica atual, tão ensimesmada e desengajada.
Se o leitor de Ela, o outro não soubesse que o poeta autor é também professor e pesquisador de literatura e filosofia (veja o ensaio Literatura, para que serve?, citado no poema), descobriria, lendo Um começo para uma oficina de poesia em B. H. e Love songs, um pouco de seu perfil, de seu círculo, de seu paideuma. Nestes dois poemas, também longos e também em uma só estrofe (marcas da poética de Pucheu, que pedem um leitor reflexivo, paciente, curioso), se misturam alusões a, de um lado, autores como Rousseau, Gullar, Perloff, Agamben, Platão, Homero, Rimbaud, Pessoa e, de outro, amigos (pares e, de modo semelhante, autores) como Maria Esther, Annita Malufe, Marília Garcia, Leonardo Gandolfi, Victor Heringer, André Monteiro, Sérgio Nazar, Roberto Corrêa, Sergio Cohn, Caio Meira, Piero Eyben. Os poemas longos, quilométricos, discursivos de Pucheu lembram afirmação de Adorno em Teoria estética: “A forma é mediação enquanto relação das partes entre si e com o todo e enquanto plena elaboração dos pormenores”. A obsessão do escritor em seu métier é uma obsessão pela forma, que pensa as partes entre si, as partes e o todo e os pormenores. Como na forma tudo isso se condensa e sedimenta, Adorno insiste tanto que se dê a primazia ao objeto, pois ele é o enigma onde está o conteúdo de verdade que, histórico, poderá ser desentranhado por um leitor, não “tolo”, que lance a ele um olhar filosófico (questionador, crítico, pensante — que queira pensar o não-pensado).
No poema da Oficina em BH, mais uma vez, como em Ela, o outro, o poeta se move para o não-idêntico, para aquele/aquilo até então estranho: sem saber a que hotel se dirigir, recebe “o gesto de hospitalidade imensa/ do Seu Antonio a acolher radicalmente o outro”. Seu Antonio, o taxista, com seu gesto, é que dirige o poeta, ao fim, à Oficina: após tantas hipóteses para começar a oficina de poesia (“Eu poderia começar desses modos todos”), o poeta retribui: “Eu prefiro começar com vocês, seguindo vocês, indo atrás de vocês…”. Neste poema, Pucheu realiza o que diz em Ela, o outro: a poesia “quer aprender a alteridade, aprender/ a se relacionar com outro”. Os poemas se “atraversam”.
Por isso, por esse princípio e comprometimento, é que há também poemas como Pó(s)-tudo, dedicado a Rafael Braga (“um pouco de pinho sol não pode,/ só pode/ o brilho/ (d)o pó”), e como Preto sobre preto, dedicado ao “adolescente cujo nome não foi divulgado/ amarrado, com tranca de bicicleta,/ no poste no Flamengo no dia 3/2/2014”. Não deixa de ser um delicado exercício da diferença a série de oito poemas ambientados no Vale do Socavão, onde o poeta aprende um outro, um outro tempo, não heraclitiano: “Dormem os cumes das montanhas,/ os ipês, os jacarandás,/(…)/ dormem os macacos e os jacus,/ apenas o Pucheu não dorme”. Não dorme, porque reflexivo, paciente, curioso.
Quem lê o metapoema Ela, o outro descobre, ou confirma, que a poesia serve, sim, a qualquer um/outro que dela se sirva. (Não precisa — a poesia — nem deve ser intransitiva, autotélica.) Assim, se vale o escrito, se valem os versos, vamos ao convite do poema: “vá ler poesia”. Ler, ler mesmo, sem dormir, feito outro, reinventando-se a valer — a valer (e a valer).