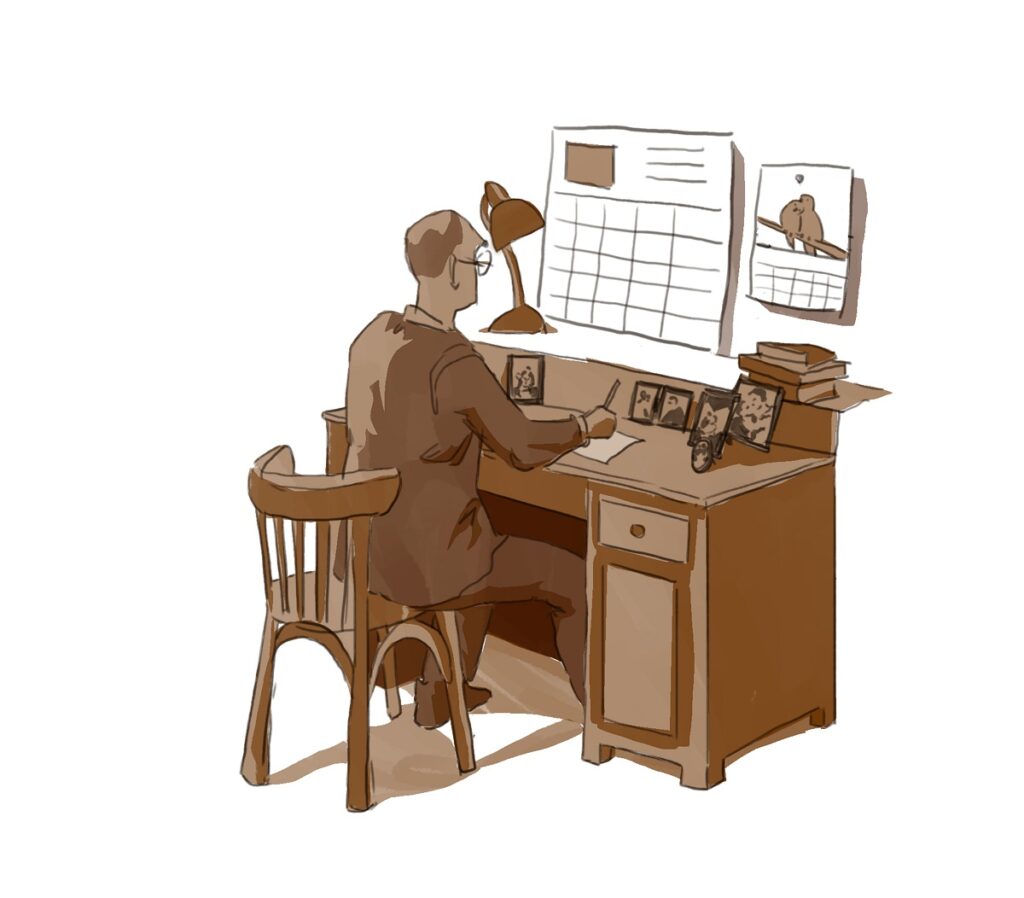Gostaria de explicar melhor o processo que chamei, na coluna anterior, de deslizamento ou indefinição de gêneros a compor o núcleo da criação de O amanuense Belmiro, romance de 1937, do mineiro Cyro dos Anjos (1906-1994). Para começar, lembro que o relato, escrito em primeira pessoa, é atribuído a uma tentativa do narrador-personagem Belmiro de escrever sobre o seu passado no interior, antes de se tornar funcionário público na capital mineira. O seu móvel literário inicial é recriar no papel em branco — desviado da repartição — as suas memórias de menino e de jovem enamorado pela virginal Camila, em Vila Caraíbas, pois está certo de que nada em sua vida atual está à altura do tempo feliz de sua primeira juventude.
Levasse a cabo esse intento, o seu relato tomaria as características bem definidas do memorial, com o foco no passado, o modo narrativo predominantemente evocativo e as personagens tendendo a ganhar contornos poeticamente inefáveis. O seu efeito básico seria a produção de um passado lírico, e a sua vontade de literatura poderia ser interpretada como escapismo programático contra o presente medíocre da repartição, onde não há possibilidade verossímil de sustentar personagens mais que medíocres.
Caso Belmiro fosse bem-sucedido nessa sua primeira opção de escrita, teríamos em mãos um livro que bem poderia ter por título “O feitiço de Vila Caraíbas”, “Os encantos de Camila”, “Minha vida de menino”, mas jamais O amanuense Belmiro, pois este título traz a narrativa definitivamente para o âmbito pedestre e tedioso do escritório. Aqui está o nó da questão que gostaria de lhes propor, pois o que assegura a existência de um romance como O amanuense Belmiro é justamente a impossibilidade de sustentar o projeto literário de compor um livro de memórias. Dito de outra maneira, Belmiro não dispõe de uma posição tão maciçamente alienada que impeça os eventos do presente de invadir o seu projeto literário original —, sobretudo depois do encontro com Carmélia no carnaval, que já descrevemos na coluna anterior.
A contrapelo do projeto passadista, Belmiro inclui cada vez mais anotações a respeito dos pequeninos nadas de segunda mão que vai sabendo de Carmélia. Conquanto pouco substancial, o simples interesse pelo presente o afasta do escrito sublimado da memória e o lança, quase sem querer, no registro segmentado do diário. Tanto é assim que a forma final do romance acaba dividida de acordo com os dias do calendário do ano de 1935, não dos anos de 1907-1910 da primeira juventude do futuro amanuense.
Neste momento, a base da invenção da prosa de Belmiro já não são as figuras exclusivas da evocação sublime. O livro inicialmente imaginado como memória se dobra sobre si mesmo e o lirismo do passado quer se projetar, contraditoriamente, na antilírica do presente. Contraditoriamente, digo, porque, uma vez entregue à descrição dos eventos do presente, a narrativa passa a ser guiada pelo murmúrio contingente do dia a dia, a maior parte dele esvaziado na rotina da repartição, que está aquém do sentido e do propósito, quanto mais da memória pessoal.
Ocorre que Belmiro mostra-se tão inepto para escrever um diário como o era para produzir um relato de memórias. Quer dizer, os eventos presentes, enquanto sucessão miúda de coisas sem importância, não chegam a ser invulneráveis aos devaneios que o assaltam, o que se agrava com o fato de que as notícias de Carmélia nunca são frescas e excitáveis a ponto de impedir um salto repentino da imaginação para o passado. Em suma, a sua agenda, nunca realmente ocupada, dificulta a circunscrição do foco narrativo no presente e abre brechas para a deriva desatenta e, enfim, para a memória fantasista. Sobrepõem-se, assim, sem ênfase definida, evocação mítica e presente ordinário — ou, em termos de gênero literário, memória e diário: os dois gêneros deslizando entre si, como formas vicárias.
É então que, diante do texto difuso, que oscila entre a conversa fiada da vida presente e a lembrança torcida da infância, emerge a possibilidade de O amanuense Belmiro definir-se com a rubrica genérica de “romance”. Tomá-la como óbvia, entretanto, como usualmente é feito, deixa passar em branco a melhor pergunta para um livro tão singular, a saber: que tipo de romance é esse que surge no entrechoque de um projetado livro de memórias com um diário que se faz quase ao acaso?
O primeiro ponto a considerar é que tal ideia de romance parece se realizar como uma expectativa de narrativa amorosa com enredo sobredeterminado pelo infantilismo sonhador, pela agenda do escritório ou por ambos. A narrativa é necessariamente amorosa, porque é tão somente o desejo da amada-que-falta a mover Belmiro à escrita; e a narrativa ainda carece de um enredo autônomo, exclusivo, pois o passado não pode esgotá-la, assim como os hábitos do presente são impotentes, por si sós, para atribuir sentido às experiências vividas. O romance possível em O amanuense existe, portanto, como esperança de fazer das anotações seriadas do diário ou das fantasias da memória os sinais de uma vida pessoal, estritamente confinada entre a banalidade rotineira e o passado que, se foi, já não chega a ser.
Acho importante notar também que a localização da narrativa em Belo Horizonte ajuda a mapear tais antinomias, pois a cidade, já sem os costumes bem estabelecidos do campo e ainda sem verdadeira dimensão urbana, surge no livro tão mesquinha e despropositada como a burocracia da Seção do Fomento Animal. A rigor, pois, o romance que ameaça nascer (como não nascer) é a principal, senão a única forma de fomento da vida em terreno tão estéril.
O primeiro implícito da busca do romance é, portanto, apenas este: a ideia de encontrar na literatura as pistas para uma vida real. Escrever equivale ao esforço de encontrar um enredo pessoal para uma existência que não seja apenas fantasia passadista ou sequela do ofício estúpido. Produzir um romance significaria achar esse fio de vida que o hábito e o sonho não lhe dão. O romance é a chance que Belmiro imagina para resistir à banalidade do escritório, por um lado, e à impotência da memória, por outro.
Efetuar a escrita como literatura, isto é, como ficção de uma verdadeira vida, é o derradeiro lance de Belmiro em busca de uma vida própria. E ainda uma vez, o lance é falhado: o romance não se destaca jamais do diário de um tempo estéril ou da memória volátil de um tempo quiçá nunca vivido. Jamais Belmiro logra uma ficção amorosa tão decidida, a ponto de identificar o seu narrador-personagem com um herói verossímil do romance insinuado. Tal herói seria porventura um “Belmiro oceânico”, cuja grandeza romântica, entretanto, não dura mais que o tempo de uma vertigem diante do mar do Rio de Janeiro. No instante seguinte, a sua magnificência delirada revela tão somente o corpo tomado por uma incontornável paralisia.
O romance mesmo está paralisado: existe como ideia inscrita no livro, mas não sustenta o corpo do livro que se dá a ler. A ficção amorosa é uma hipótese que está no livro, não o livro realmente produzido. O livro que se logra efetuar está justamente no deslizamento de gêneros que não se fixam, nem se completam, mas, por isso mesmo, fazem de O amanuense Belmiro um dos livros mais incomuns da moderna literatura brasileira.