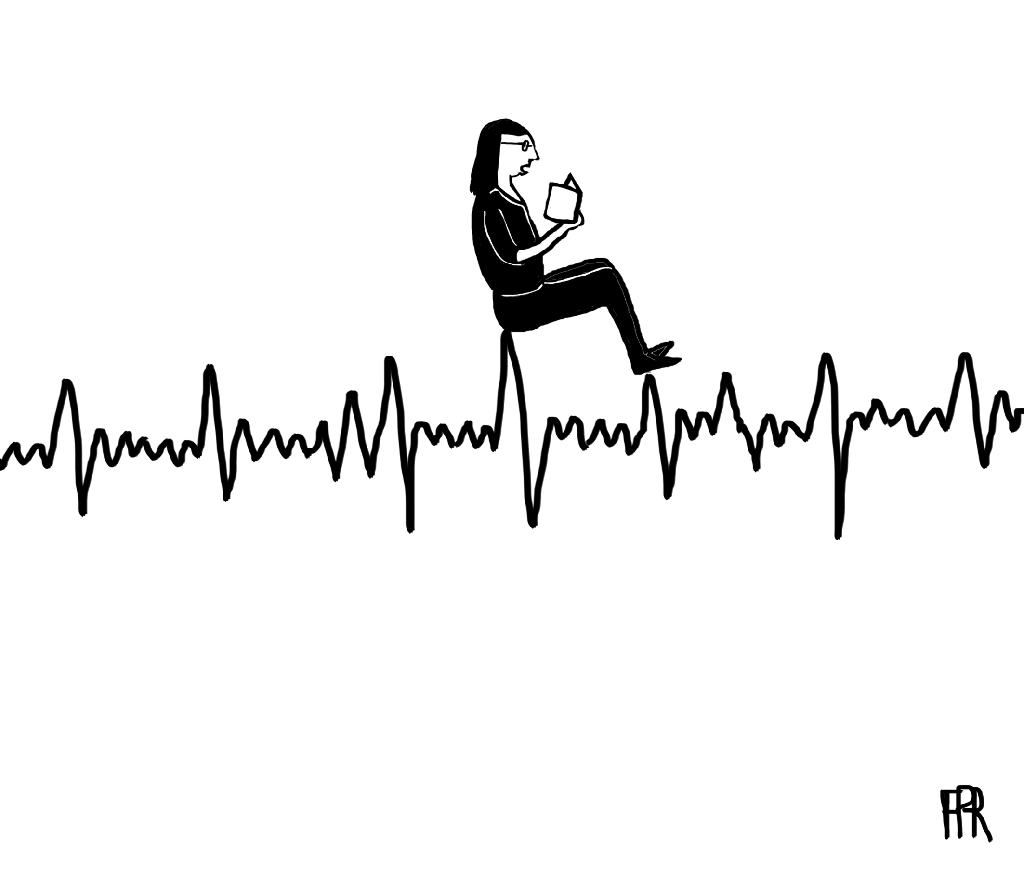Descobri Elena Ferrante através do cinema, depois de ter estreado em Lisboa, no cinema Ideal, A febre Ferrante, um documentário que se foca sobretudo no mistério da sua identidade anónima mas que também aborda os livros e os filmes e séries feitos a partir da sua obra. Não conhecia os seus livros nem tinha lido as críticas, sabia que Ferrante era um fenómeno internacional, que porém me passava completamente ao lado. Já tinha ouvido falar dos livros, é certo, e visto as capas sempre em destaque nos escaparates das livrarias, mas nunca me senti atraída pela imagem ou títulos das obras e, mais do que isso, franzia o nariz aos números exorbitantes das vendas dos exemplares. Calculei que fosse uma espécie de literatura light, ao estilo da narrativa norte-americana, apesar de saber que a autora era italiana. Preconceito e pura ignorância da minha parte, sinto até vergonha por ter de o admitir. Fui, portanto, às cegas ver o documentário sobre a célebre autora anónima — só por si um paradoxo — encarando-o como um fait-divers num dia livre de compromissos profissionais. Sei que comprei bilhete para o documentário porque aquela sala de cinema em Lisboa tem uma programação bastante elitista e, se o tinham programado, algum interesse devia ter.
Assisti ao documentário sem grande emoção, pareceu-me uma espécie de ajuntamento de admiradores intelectuais que tentavam disfarçar a histeria pop com óculos graduados e graus académicos; contudo, fiquei curiosa. Ouvir tanta gente falar sobre a experiência da leitura dos seus livros, de como ficavam irremediavelmente ligados, adictos da obra, sobretudo da tetralogia A amiga genial, deixou-me nostálgica. Saí da sala de cinema com um pouco de inveja do bem, sabia do que aquelas pessoas falavam, sobre a experiência de ficar absorto, rendido às páginas de um livro, mas para ser sincera há anos que não o sentia por nenhum autor ou obra. Sentira-o, por exemplo, na adolescência quando descobri os livros de Henry Miller, de Milan Kundera e, mais tarde, com a obra de Michel Houellebecq, mas nos últimos anos nenhum autor tinha surtido esse efeito em mim. Saí da sala de cinema com a convicção de que também queria voltar a submergir num livro e que este me abrisse a cabeça e o coração, afinal era dessa experiência emotiva que todos falavam no documentário, e deixar-me entrar na cabeça do livro.
Há muitos anos que me sentia uma leitora snob, cínica, incapaz de usufruir da experiência redentora e pueril que só um livro pode operar numa pessoa. Fui direita a uma livraria no Chiado, comprei o primeiro volume de A amiga genial e comecei a lê-lo junto ao escaparate onde estava em destaque ocupando o terceiro lugar do top de vendas. Ali, na mais velha livraria da Europa, a Bertrand do Chiado, abri a porta para a casa Ferrante. Uma casa com muitas divisões e de arquitetura complexa, porém humilde nos materiais utilizados, que nos aprisiona de imediato. Somos rapidamente viralizados por uma espécie de síndrome de Estocolmo. Gostamos de estar reféns, apaixonamo-nos pela nossa raptora. Neste caso, a raptora são duas, Lila e Lenú, duas personagens que são pessoas autênticas como só a literatura nos pode oferecer. A casa Ferrante é como um cérebro lúcido no qual se ouve pulsar o coração do leitor ou da leitora, neste caso o meu. Posso afirmar, e por mais cafona que possa parecer, que a Elena Ferrante me devolveu o coração, há muito afastado da forma como encarava um livro. Voltei a lembrar-me que um livro não se lê apenas com as mãos, os olhos e a cabeça, que a leitura exige cardioalimentação.