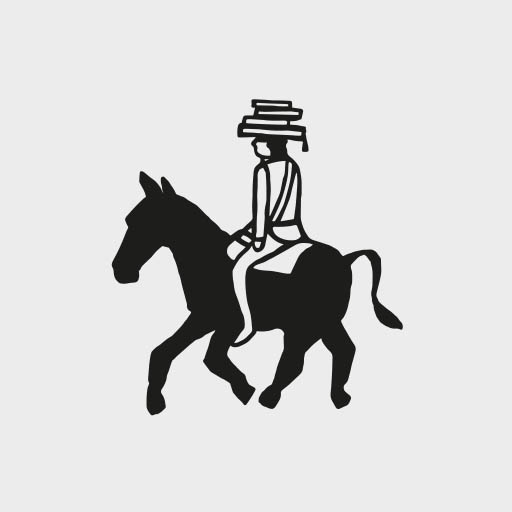Abre os olhos com dificuldade, remelas, restos de maquiagem. A cabeça dói. Quase duas da tarde. Levanta devagar, vai à geladeira. Vazia. Nem água. A roupa ainda cheira a cigarro. Até a calcinha cheira a cigarro. Olha-se no espelho. Está horrível. Olhos borrados. Abre a porta da rua, dá com o pacote no chão, papel pardo. Dois pares de chifres despontam.
Recolhe a encomenda antes que os vizinhos vejam. Doze apartamentos por andar, verdadeiro edifício máster. Põe em cima da mesa. É um casal. Ele de calças curtas, capa preta, cartola, tridente na mão. Ela com minissaia rodada, seios desnudos, bicos escuros apontando para frente. Sorriem com malícia.
Faz um escâner na memória, localiza a Fran. Francine. Não gosta de buceta, já disse, mas ela insiste. A mulher do Wagner, recém-parida. Entre uma mamada e outra deve vasculhar as mensagens dele.
Tem ímpetos de quebrar as imagens a marteladas, picar miudinho, despejar na lixeira. Lembra da mãe, “macumbeira de terreiro”, como se autodenominava: “Com isso não se brinca. Foi feito com intenção, precisa desfazer”.
Se fosse viva, poderia lhe ensinar. Como não está, busca o caderninho de telefone que era dela, cheio de papéis soltos. Vai à letra Z. Zênia, mãe de santo encarquilhada, coluna torta como ponto de interrogação. Dedos atrofiados, escondidos nas palmas das mãos. Pele coberta de manchas e saliências.
— Por que ela é assim, mamãe?
— Por causa do Santo.
Zênia atende. “Aqui é a filha da Marli.” Explana a questão enquanto escuta a respiração pesada do outro lado. Ao fim da história, o parecer é imperativo.
— Não pode jogar no lixo ou o trabalho pega e aí é pior. Tem que doar a quem precisa.
— Mas como vou saber quem precisa?
— Vai numa loja de macumba, vão te ajudar. Chegou cliente, vou desligar.
Se fosse a Marli lhe daria atenção, pois a mãe, ávida por predições e mandingas, deixava uns tantos reais todo mês nas mãos deformadas.
As estátuas escutam seus pensamentos, vigiam seus atos. Encerra as duas em seu invólucro pardo, as toma nos braços e sai. Tem uma loja de umbanda na esquina de Constante Ramos com Toneleros. Marli era freguesa. Chama um uber, dezenove reais.
O carro percorre as ruas cheias. O estômago vazio retumba e estala. Encontram a porta arriada: “Passo o ponto”. Pergunta ao motorista:
— Sabe onde tem outra dessas por perto?
— Dessas o quê, senhora?
— Loja de macumba, moço. Umbanda.
— Ah, na Zona Sul vai ser difícil. Fecharam todas. No Mercadão de Madureira, a senhora vai achar.
Quase quatro da tarde. Altera o destino final. Sessenta e sete reais. Mãos trêmulas de fome. As imagens espiam pela abertura do saco.
Pegam a Lagoa, trânsito lento. O rádio diz que foi um acidente na Avenida Brasil, três carros, somente uma pista liberada. Ao fim do Rebouças, o motorista desce pelo Rio Comprido, entra por um labirinto de ruas desconhecidas. De repente, uma loja de umbanda.
— Para aqui.
Adentra a loja. Incenso, arruda, rumor de animais, pombos, galinhas, preás encerrados em gaiolas, comida e fezes no chão.
— O senhor pode me ajudar? Deixaram essas estátuas na porta da minha casa, não sei o que fazer, queria doar, o senhor pode aceitar?
Barba por fazer, ventre estufado, o homem escuta, examina o interior do saco e determina:
— Não, de jeito nenhum — e, virando-se para o interior da loja — Madame!
Surge uma mulher baixa e gorda, chinelos de dedo, penhoar de florzinhas, rosto suado emoldurado por fiapos de cabelo rebelde, vermelho vivo. Limpa os cantos da boca com os dedos, devia estar comendo.
— Tem que fazer o trabalho completo, senão fica ruim pro seu lado — diz Madame arquejando.
— Ruim como?
— Isso aí é pra você não parar com homem nenhum. Não ser feliz de jeito nenhum. Não ter paz.
Já é assim.
Os animais em volta se agitam.
— Três velas vermelhas, três pretas, duas guias, uma tigela de barro, um vidro de perfume, farofa amarela, uma galinha.
— Vou ter que matar a galinha?
— Já leva morta.
Madame discrimina os itens com letra tosca em uma folha de caderno, revela o valor do material e da consultoria: duzentos e oitenta reais.
— Não aceito cheque nem cartão — completa. — Só dinheiro vivo.
Vai ao banco eletrônico sacar a soma que era para chegar ao fim do mês. Terá que pedir emprestado a partir de agora. Entrega as notas nas mãos ensebadas de Madame. A mulher confere com satisfação e explica com detalhes o que e onde fazer.
O uber chega à Praça Saens Peña em meio ao trânsito pesado das seis da tarde, sobe a Muda, chega à Usina. O ar vai refrescando à medida que se aproximam da mata. Quando alcançam o portão do parque é quase noite. Os faróis iluminam a guarita de onde sai um guarda sonolento.
— Fechado. Não pode entrar.
— Foi Madame quem mandou — entrega uma nota de cinquenta reais na mão do homem.
O portão se abre.
Avançam pela alameda solene, cinza ao negro, terra molhada, matéria orgânica em decomposição.
— Aqui tá bom — ordena, quase sem forças.
Adentra o mato, os ingredientes do despacho em pesadas bolsas cujas alças finas machucam a pele dos braços. Chega a uma clareira, mais adiante um regato. Diminui o ritmo, pisa suave sobre o manto de folhas, o saco com as imagens agarrado ao peito, parece que se afeiçoou a elas. Pousa a bagagem no chão, traz para fora Zé Pelintra e a Pomba Gira. Coloca-os de pé sobre uma pedra redonda e chata, arruma as guias coloridas em seus pescoços, as velas vermelhas e pretas intercaladas, formando um círculo ao redor. Deposita o tacho de barro, cheio de farofa amarela, no chão. Pega com asco o cadáver semirrígido da galinha, embrulhado em jornal, sentindo as penas oleosas entre os dedos. Ajeita-o sobre a farinha, acende as velas. Do centro da roda flamejante, as entidades a observam, riem com escárnio, debocham de suas derrotas, de seu medo.
Profere as palavras indicadas, levanta-se um pouco tonta, afasta-se devagar, olhar fixo nas imagens por trás das chamas.
Em casa, mal tranca a porta, o celular toca. Choro de bebê no fundo, a voz ansiosa do Wagner:
— E aí, gata? Vamos nos ver hoje?