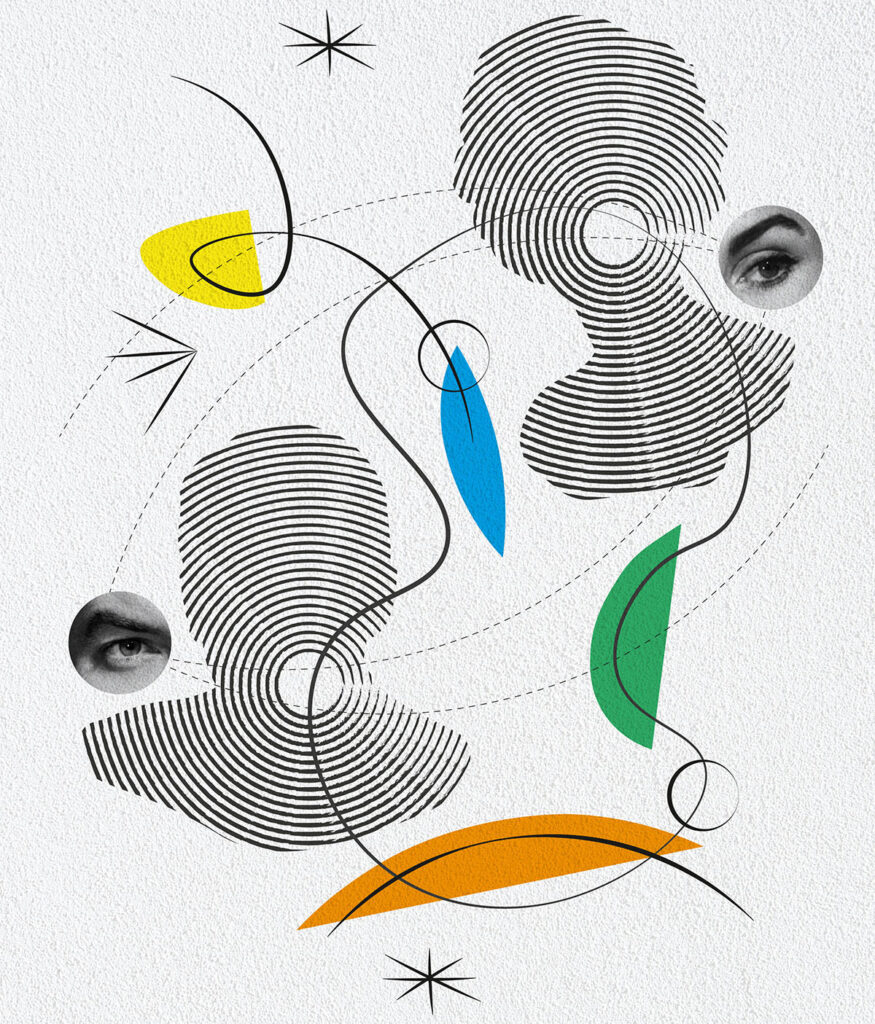1.
O entendimento dos termos literários são elásticos a ponto de causarem um sem-número de desconcertos. Um dos pontos mais complexos em teoria envolve os conceitos de narrador, ponto-de-vista, voz narrativa, foco narrativo etc. Exceto pela longa e precisa taxionomia proposta por Norman Friedman, de persistente uso acadêmico, as outras perigam enredar-se em ambiguidades pouco encorajadoras. Todas e qualquer uma, se ajudam os estudantes a analisar um texto, são, entretanto, de sofrível utilidade a quem percorre os caminhos da aprendizagem da escrita literária. Assim, aqui será proposta uma classificação instrumental que poderá parecer nova, embora não o seja. Não custa lembrar Lope de Vega, em La Dicha por el Desprecio: Vienen a ser novidades/ Las cosas que se olvidaran.
2.
Essencialmente considerada, uma história só existe quando é contada por alguém. No bar, na academia, no divã. Na narrativa ficcional ocorre o mesmo, com uma diferença: não é o autor quem a conta, mas uma entidade camuflada, instituída por ele que, via de regra, leva o consabido nome de “narrador”; se isso serve bem para textos em primeira pessoa, o termo apresenta-se esdrúxulo quando a narrativa se apresenta em terceira pessoa — ou em segunda pessoa, em casos excêntricos, como em Aura, de Carlos Fuentes, ou Imitação da morte, de José Martins Garcia. Melhor pensar num conceito mais puro, leve e mais frugal: “focalização”, proposto há anos por Gérard Genette. Essa é a cosa olvidada do parágrafo anterior. Importa, para quem está começando a escrever, pensar, antes de tudo — antes da onisciência total, antes da focalização externa, ambas tão desusadas — na focalização interna. A focalização interna realiza a fantasia do autor de que está dentro da pele da personagem, vivendo tudo o que ela vive, e em sua própria perspectiva. Isso, em primeira pessoa, é fácil de entender e natural; mas somente com algum esforço o leitor aceitará que tal pode acontecer também com o artifício da terceira pessoa; mas, ao fim de tudo, a terceira pessoa, se dotada da focalização, sempre será uma primeira pessoa disfarçada. A prova dos nove é simples: basta trocar o “ele”/ “ela” por “eu”. Funciona. É só experimentar, por exemplo, com a personagem Robert, de Fuga para escuridão, de Schnitzler. Resumo: tudo é artificialidade e invento em termos de focalização, e temos de nos contentar com isso e, com isso, tentar convencer o leitor. É obra.
3.
Pôr em ato a focalização implica assumir um estratagema bastante sutil, fortemente extraliterário, no qual são acionadas inesperadas inflexões intelectuais e emocionais. Esse estratagema deriva da necessidade de colocar-se na pele da personagem, sim, mas a isso, como vimos noutra coluna, se acrescente a operação de atribuir-lhe circunstâncias: temores, experiências vitais e culturais, angústias, esperanças, valores éticos, traumas, complexos, opções estéticas, neuroses. Significa, enfim, dar-lhe uma complexa questão essencial. É desse estofo ontológico da personagem que dependerá o conflito da história. Não é de todo herético comparar a posição do ficcionista à do ator, pois ambos se descolam de si e assumem uma personagem; o que distingue um caso do outro é que, se o ator a interpreta, o ficcionista deve criá-la “do nada”, num processo com seu quê demiúrgico. A par disso, coincidindo com a função do ator, deve interpretá-la no decorrer do romance. É obra, mesmo.
Não custa repetir: uma história não cria a personagem; é a personagem que cria a história.
4.
O caso de Mme. Bovary é exemplar quanto ao tema. À pergunta do juiz, ele deu a bombástica resposta que ressoa até hoje: “Mme. Bovary c’est moi!”. Claro, a frase tem um tanto de performático cinismo. Se ele disse que Mme. Bovary era ele mesmo, é porque quis safar-se de um processo criminal por difamação e proclamar a autonomia do autor, certo, mas poderia também significar, ainda que de modo inconsciente, a versatilidade farsesca do ficcionista. Sim, Flaubert se colocou na pele da triste senhora, e, ainda, embora em menor grau, na pele do monótono marido, Charles, do cético farmacêutico Homais e dos sórdidos amantes de Emma. É de convir-se que qualquer ficcionista deveria estar preparado para isso, pois, para rechear a personagem de complexidades humanas, a condição é de que o ficcionista as tenha dentro de si. Quanto à habilidade de traduzir isso em palavras, bem: esse é o pressuposto de quem quer escrever ficção. Não por outro motivo se diz, errada e pitorescamente, mas com todo o grau de sedução das pseudoverdades, que só se pode ser romancista depois dos quarenta anos.
5.
O olhar da personagem nunca será inocente, e “inocente”, aqui, significa ausência de juízos sobre as outras personagens; ao contrário, o olhar da personagem será sempre judicativo, sempre contrastante, sempre armado dos sinais identificadores da diferença em relação ao outro. O ficcionista, ao subsumir o olhar de sua personagem, terá de, ao mesmo tempo, pôr-se em contato com os outros olhares, e neste ponto se instaura o conflito. Esse olhar será o inferno do outro, se pensarmos no paradigma de Sartre. Admita-se que o outro, no romance, também é criado pelo ficcionista, o que remete a uma guerra de olhares que — surpresas da literatura! — promanam de uma mesma pessoa, isto é, do próprio ficcionista. A selvática esquizofrenia daí decorrente faz com que alguns autores iniciantes, para resolverem a insuportabilidade dessa tensão, criam vários focalizadores, sem se darem conta de que o uso tal técnica, na mão imperita, faz o conflito dissipar-se; além disso, pode levar à desagradável armadilha de um romance com tantos finais quantos são as personagens focalizadoras. Tal acontece em A fogueira das vaidades ou A guerra do fim do mundo.
6.
Um cuidado especial deve ser dado à escolha da focalização, pois dela, dentre outras consequências, decorrerá o tom do que se vai escrever. Num romance que tenha como tema um caso de corrupção na política, se for a perspectiva da delegada da PF, grosso modo, a história será um romance policial; se for a perspectiva do indiciado, será um drama de esconde-esconde e, talvez, de patifarias; se for da esposa do indiciado, poderá ser um romance intimista; se da filha adolescente, uma história de decepção e abandono. É insuficiente, portanto, e ligeiro demais, responder de modo categórico à pergunta “primeira ou terceira pessoa?”. A resposta, para ser íntegra, deverá indicar a personagem “que focalizará” [reiterando: seja em terceira ou primeira pessoa], pois ela é que dará o tom da narrativa.
7.
Se fosse possível dar um conselho a ficcionistas que começam, esse seria: caso tenhamos uma história previamente pensada, melhor é escolher como focalizadora a personagem com a qual tenhamos alguns pontos de contato. Como estamos sempre na iminência de perder algo, a personagem será, na trama, a que mais tem a perder. Objetivamente considerado: perder a vida, como Ivan Ilitch. A paz de espírito, como Paulo Honório. Perder a pessoa amada, como Gustav von Aschenbach. Depois, reiterando o dito acima, o trabalho é o de colocar-se na pele dessa personagem mas, inesperadamente, ir muito além das exigências da história; com isso, a mesma personagem ganhará a perenidade e o estatuto de ente verdadeiro e estará pronta não somente a “recriar” essa história, subvertendo-a, transformando-a, instituindo-a de uma originalidade impensada, mas, também, ser potencialmente capaz de gerar outras histórias: daí se explicam romances com várias narrativas em sequência, provocadas pela mesma personagem, como Macunaíma ou D. Quixote. Não custa repetir: uma história não cria a personagem; é a personagem que cria a história. E isso acontece através olhar da personagem que cria — mas que também conta.