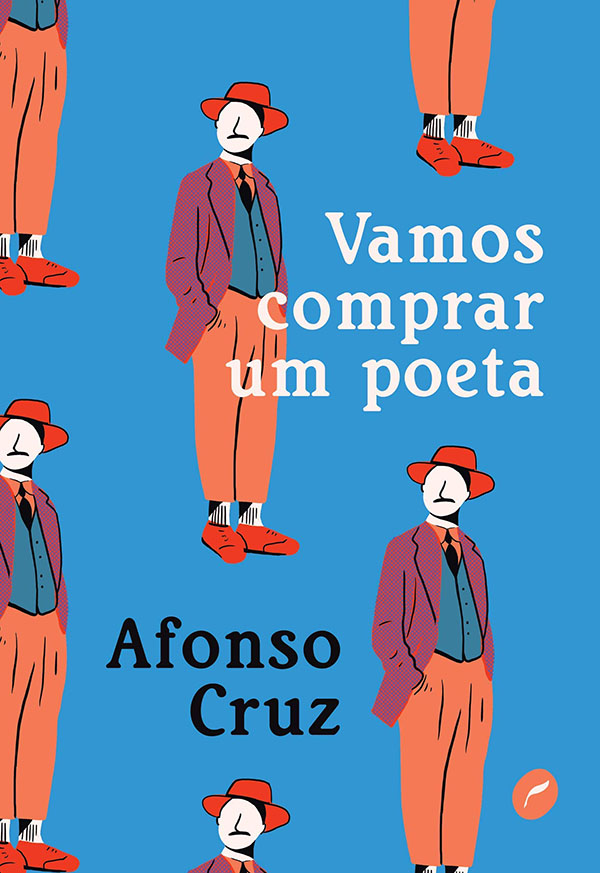O mote não guarda grande mistério, é simples até (tipo de repente a morte parar de matar, um homem acordar inseto, um pedaço de pau ganhar vida): uma família atende ao pedido de uma das crianças da casa, vai a uma loja especializada e compra um poeta — isso acontece logo nas primeiras dez páginas do livro.
Não se trata, obviamente, desta nossa sociedade atual em que não fazemos isso com poetas nem outros artistas, mas com cães, gatos, roedores de tipos fofos, passarinhos. Compara-se uma situação a outra apenas porque a família que assim adquire um novo habitante vivente na casa passa a cuidar de seu alimento e lhe dá um canto de dormir. O vendedor recita instruções úteis ao pai da menina que seria a dona do poeta: “Para o entreter, compre-lhe cadernos com folhas brancas e canetas. Pode também adquirir alguns livros. Temos de várias marcas”.
Note que é um verdadeiro nicho de mercado este, não? A partir da necessidade da família de obter um ser para cuidar, há de alimentá-lo, distraí-lo, para que não viva infeliz nas condições que passam a obrigar que o escolhido viva.
A questão é que a família tem problemas para se adaptar àquele poeta na casa: ele muda o dia a dia da família com sua existência ali, até fala!, apesar de que pouco o compreendem, ao menos no início.
Afonso Cruz nos escreveu de uma sociedade — quanta imaginação! — que busca ser muito precisa em tudo o que faz, em números e medidas principalmente, e que também busca especificar as coisas do mundo pelas marcas comerciais, qualificação que transcende a imprecisão do adjetivo, ao contrário, é muito objetiva, eficaz. Aliás, as pessoas têm ali suas individualidades respeitadas ao extremo da precisão, nisso que aqui, nesta nossa sociedade “real”, costumamos chamar de identidade.
Levei as minhas melhores amigas lá a casa para verem o meu poeta. A 76C levava uma saia patrocinada por uma célebre empresa de massagens. Tinha pintado as unhas das mãos de amarelo e o cabelo estava preso na nuca com três ganchos de plástico castanho. A E60 trajava calças de ganga, patrocínio de um resort oriental.
O poeta intriga a jovem, irrita o pai dela, que é o provedor da casa, ainda que em crise econômica. Irrita a mãe, que cuida da ordem da casa e do que se alimentam seus habitantes. A irritação é pela insistência da criatura em deslocar as palavras de seus sentidos mais próprios, sabe?, induzindo a uma reflexão, que é para os seus donos pura perda de tempo, energia, dinheiro por consequência. Se deslocamos o olhar, afinal, o resultado é que nos distraímos, perdemos o foco, porque acabamos por ver mais (ou demais?). Há quem chame isso de poluição visual.
Puxa vida: tem um dia que o poeta rabisca a parede de seu quartinho de meia cama, tão generosamente cedido. A menina da casa, que é a narradora da história, pergunta a ele do que se tratava, ao que respondeu: “É uma janela. Tem vista para o mar”. Ela enxergava letras, vinte e três delas: “Como é que o mar, tão grande, cabe numa janela tão pequena?”.
No fim do livro, depois que acaba formalmente a ficção, há um apêndice muito interessante, com entendimentos de diversos autores sobre poesia. Há também uma explicação sobre os versos que aparecem ao longo da prosa, que uns são adaptados, outros transcritos mesmo, das obras de gente grande, como Whitman, Szymborska, Helder, Frost e Bukowski, entre outros. O mais interessante é o autor escrever sobre a parte de baixo do iceberg: “Há muitos mais que, não tendo participado diretamente nesta novela, são blocos construtores daquilo que sou”.
Curioso como uma prosa tão agradável dá conta de ser uma potente aula de poesia. Décio Pignatari escreveu (em O que é comunicação poética): “A questão da poesia é esta: dizer coisas imprecisas de modo preciso”. Mais imprecisa que definição de poesia, só a vida (mas a poesia não tem nem a biologia pra ajudar um pouco), apesar de todas e tantas tentativas. É um delicioso jogo de aproximações, não é?
Irônico e reflexivo
O livro é ao mesmo tempo uma fábula, uma distopia, um manifesto pela valorização da poesia, uma reflexão sobre sua função social. É de leitura rápida — sua tipologia generosa, seu formato quase de bolso, peso leve nas mãos em menos de cem páginas, é uma edição que ajuda.
Nesse outro mundo criado pelo autor, ele é irônico ao descrever uma sociedade pouco dada à ironia. Ao mesmo tempo em que abraça o senso comum sobre poetas e poesia, de que são pessoas descoladas da vida vivida, que têm um olhar otimista e bonitinho para as coisas do mundo, oferece sua combatida utilidade para os humanos, de aprofundamento e expansão das experiências — como se isso fosse inútil.
A família que adotara e depois livrara-se do poeta se desmantela para acertar-se. “A poesia é um dedo espetado na realidade”, arrisca a narradora no finzinho. Não é um toque ingênuo nem isento de consequências. José Castello escreveu que poema não é para agradar, mas para perfurar. É coisa que age pelo afeto, que afeta.
Terminei de ler com a sensação de ter experimentado um grande livro. Penso em grandes livros em pequenos volumes e me vem logo à cabeça o também leve e confortável A casa de papel, de Carlos María Domínguez, edição da Realejo, tradução de Joca Terron. Terminei pensando em me pôr à venda. O que tenho de poeta, uma porção medrosa de mim, mal é suportado por quem me ama, quem gastaria dinheiro para me tirar de uma vitrine, dar teto e alimento adequado — banho de vez em quando? Poetas são insuportáveis! Há de se ter muita generosidade para mantê-los. Se lhe tiram além de tudo a utilidade na existência, o que sobra? Aliás, ó Charles Darwin, como explicaria a não extinção dessa espécie, hã? Qual dispositivo de evolução mantém esses indivíduos, multifacetados, de ambientes, tons e gêneros tão diversos, vivos e se reproduzindo? Como disse, na poesia não temos nem a biologia para ajudar… Mas a prosa de Afonso Cruz.