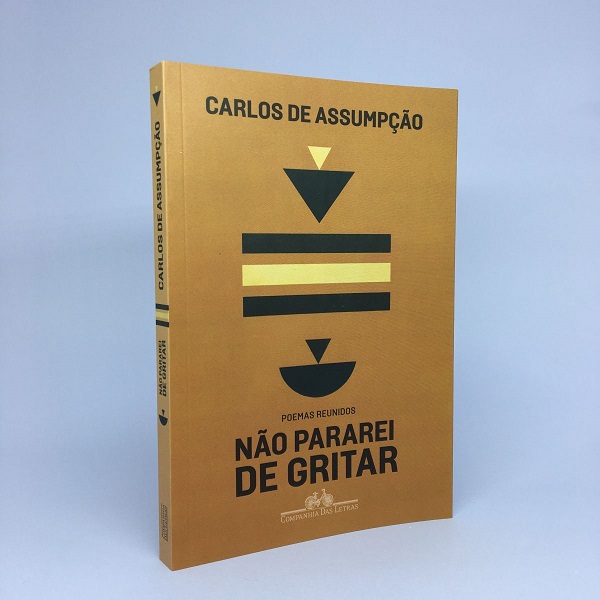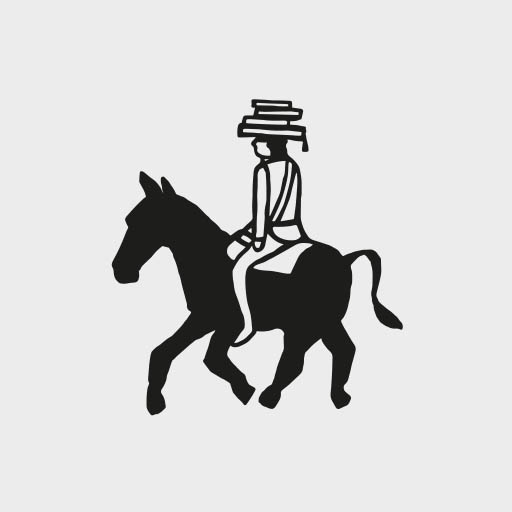Em setembro de 2018, o Museu Nacional estava em chamas e um sentimento de decisiva derrota pairava sobre o Brasil. Em meio a uma de suas maiores crises políticas e humanitárias recentes, o país via serem destruídas parte da sua memória, bens comuns e patrimônio, além de anos de trabalho científico realizado e ainda porvir, tudo isso num anúncio macabro do que estaria a caminho nos anos seguintes.
Se aquilo nos chocou com tamanha intensidade, se foi compreendido como algo “novo”, foi também porque não fomos capazes de perceber que o incêndio é uma espécie de regra em nossa história.
Algo como um Museu Nacional imaterial e imemorial é sistematicamente destruído desde as ações das elites coloniais e de seus herdeiros. Com focos de fogo vindos das antigas Capitanias Hereditárias, dos latifúndios de ontem e hoje, da escravidão e do extermínio dos povos indígenas e negros, dos traficantes de escravos e seus navios macabros, da catequese e das tentativas de aculturação em massa, bem como das oligarquias que se sentam por trás dos bancos do poder.
A destruição do Museu Nacional realmente existente e desse outro, simbólico, são a destruição, em curso há muitos séculos, de um mundo. É o que podemos lembrar com a poesia de Carlos de Assumpção, que parece se mover poeticamente entre o protesto e a “procura dos Deuses protetores/ que regiam os acontecimentos/ antes do cataclismo branco”. Isto é, a sua poesia se faz, como a de tantos poetas não herdeiros, a partir de enunciações lançadas depois do fim de um mundo.
A permanência do mundo branco se faz às custas da submissão dos não brancos. “O alicerce da nação/ Tem as pedras dos meus braços/ Tem a cal das minhas lágrimas/ Por isso a nação é triste/ É muito grande mas triste/ E entre tanta gente triste/ Irmão sou eu o mais triste”, diz o poeta.
A nação triste, o poeta triste, se fundam em estruturas históricas como a da escravidão moderna, em que os povos africanos foram submetidos à condição de mercadoria que lhes retira o direito sobre aquilo que produzem (como, depois, acontecerá aos operários e operárias). Nas palavras do filósofo camaronês Achille Mbembe, em Crítica da razão negra, “tudo o que foi produzido pelo escravo foi-lhe retirado — produto do trabalho, progenitura, obras intelectuais. Não é considerado autor de nada que lhe pertença”. Diante desse espólio generalizado, pede Assumpção ao seu instrumento:
grita tambor
grita
estamos do lado de fora
com as mãos vazias
Humanidade prorrogada
No entanto, segundo Mbembe, ao mesmo tempo que “o escravo pode ser mercadoria, objeto de luxo ou de utilidade que se compra e se revende a outros”, e que “sua humanidade intrínseca pode ser negada pelos seus proprietários, que deles extraem trabalho não remunerado”, essa humanidade “não é inteiramente apagada”, e se esforça, “desejosa de entrar num movimento autônomo de criação”. Nos termos de Mbembe, essas humanidades resistentes produzem, ainda, humanidades prorrogadas — uma estranha espécie de herança, tão distinta das heranças de posses dos dominadores.
Senhores
Atrás do muro da noite
Sem que ninguém o perceba
Muitos dos meus ancestrais
Já mortos há muito tempo
Reúnem-se em minha casa
E nos pomos a conversar
Sobre coisas amargas
O trecho de Protesto, poema de Carlos de Assumpção, é ambivalente. Remete tanto a uma condição de espólio e sofrimento quanto a uma conversa intergeracional que não cessa. Poderíamos mesmo dizer, uma transmissão. Há algo que se transmite, como um anel de família.
Sobre isso, o poeta e crítico Alberto Pucheu, organizador do volume Não pararei de gritar, que reúne (pela primeira vez) os poemas de Assumpção, nos diz, em artigo publicado na revista Cult em março deste ano, e intitulado justamente O grito como herança: “há nessa poesia um grito que, provindo do passado, envia-se a um futuro”.
Junto a esse grito, percebido por Pucheu (que acrescenta ao volume um pequeno ensaio que localiza e lê Assumpção em meio a uma história de sua recepção no âmbito do movimento negro, desde pelo menos o final da década de 1950), podemos ler também a transmissão de uma conversa — “sobre coisas amargas”, nos diz Assumpção, mas também sobre sonhos de uma outra nação que teria sido possível. Uma herança de um mundo anterior ao “cataclismo branco”, que também se projeta para o futuro.
Poucas instituições têm tanta amplitude e consequências para a vida cultural quanto a da herança. Ela atravessa como um raio a história das civilizações ocidentais e de seus bens materiais e imateriais, bem como as relações de dominação do ser humano sobre outras coisas ou sobre outros seres humanos.
Domínio
A herança trata também da perpetuação das relações de domínio, tanto no âmbito econômico como no cultural. Salvo raras exceções, os subalternizados não têm direito a heranças materiais. Por isso em Memórias póstumas de Brás Cubas há tanto significado que um senhor da elite carioca do século 19, cercado de pessoas escravizadas que eram obrigadas a lhes satisfazer os mimos, não tenha transmitido o seu legado. Brás Cubas termina o romance enumerando tudo aquilo que não logrou realizar, e sem filhos que recebessem mesmo a sua “herança negativa”.
Uma outra forma de “herança negativa” está em Carlos Drummond de Andrade, que tenta deserdar a si mesmo num ato ético-poético no poema Os bens e o sangue. Primeiro na voz da família, que diz ao menino ainda jovem “mais que todos [o] deserdamos”; depois, em sua própria voz, com a confissão: “os parentes que eu amo expiraram solteiros”. Com isso, o poeta tenta se aliar aos deserdados historicamente: “Os parentes que eu tenho não circulam em mim”.
A persistência do tema da herança na poesia brasileira associada à questão da escravidão tem um motivo bastante material: do ponto de vista racial (que não esgota a questão), podemos evidenciá-lo a partir da lenta e tardia abolição da escravidão no país, quando não foram criadas as condições de emancipação negra em nosso território.
Muito principalmente por causa da Lei de Terras de 1850, que vigorou por mais de um século, e que estabelecia a posse da terra somente mediante a compra, inviabilizando o acesso à terra (e ao autossustento) dos largos contingentes de ex-escravizados que agora configuravam batalhões de desempregados forçados a vender a sua mão de obra a preços injustos. Sem reforma agrária, as elites brancas preservam o seu domínio sobre os descendentes não brancos desde então.
Quanto a esta dívida, sentida ao mesmo tempo como culpa e responsabilidade por Drummond, é bom lembrar o que diz Wendy Brown em A política fora da história: “a justiça não tem a ver apenas com nossa dívida com o passado, mas também (…) [com a] responsabilidade por nossa presença (fantasmal) no futuro”. A presença fantasmal no futuro se faz com a visibilização dos corpos que ameaçam desaparecer por força da opressão.
Nesse sentido, a publicação de Carlos de Assumpção é a um só tempo tardia e bem-vinda: é inacreditável que nós, enquanto “meio literário”, tenhamos demorado tanto tempo para ler autores e autoras que vingam como podem, não graças aos “sistemas literários” oficiais, mas muitas vezes a ações como as do coletivo cultural Quilombhoje, que publica os Cadernos Negros de literatura desde a década de 1970 (onde vigoravam as publicações de Carlos de Assumpção junto a outros poetas).
Em artigo publicado na revista Litterata, Lizandro Calegari e Fábio Moreira atribuem essa invisibilização não apenas à história da escravidão, como ao substrato ideológico que fundamentou a representação da negritude nos escritos da branquitude em nossa história literária: “Como resultado dessa herança cultural autoritária, [os negros] foram excluídos do cânone ou apresentados marginalmente. Isso, provavelmente, justifica não só a exclusão e a marginalização de personagens negros, mas também de escritores negros”.
A publicação dos poemas reunidos de Carlos de Assumpção nos seus 92 anos funciona como anti-incêndio do outro Museu Nacional, que está sob chamas há cinco séculos. Em todo território nacional, apesar da queimada das forças destrutivas avançar, muitos se esforçam por criar mais focos desse antifogo.