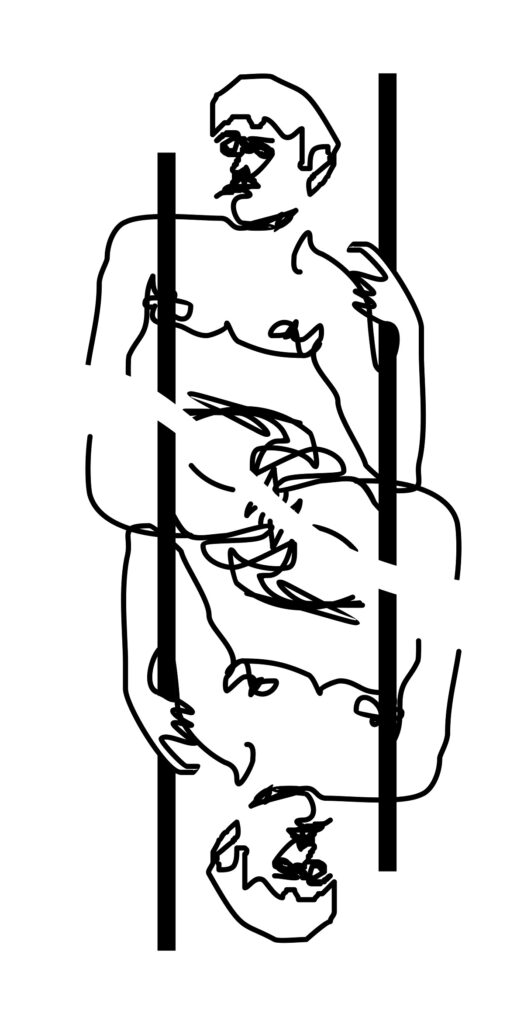Museu de memória
Desta vez, não sei muito bem por onde começar.
Não, por favor, não se preocupe; jamais recorreria ao expediente batido do colunista que se descobre sem assunto.
Toda a questão reside em equilibrar o desapontamento e a lucidez.
Pois bem: um passo atrás.
No mês passado, relatei uma visita ao Museo Nacional, da Cidade do México, destacando a importância do acervo e, sobretudo, sublinhando o apuro com o percurso narrativo meticulosamente preparado pela curadoria. Ao mesmo tempo, sugeri que o seu sentido — a progressiva afirmação de uma arte propriamente mexicana — ensombrecia aspectos realmente singulares de algumas telas; singularidade essa irredutível às amarras do “espírito nacional”. Em todo o caso, assinalei o caráter orgânico da mostra permanente do museu.
Enquanto percorria as salas do Museo Nacional, lembrava de experiência similar que realizei inúmeras vezes no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, cujo acervo fez parte de minha formação como estudante da Faculdade de História da UERJ.
(Mais tarde, levava os alunos de Letras ao museu. Era, hoje bem o vejo, um rito de passagem às avessas.)
Dediquei inúmeras tardes a palmilhar a “Galeria dos 3 séculos”. Principiava numa pequena sala, cujo eixo eram os quadros de Frans Post — se bem me recordo, três telas (ou seriam quatro?) estavam expostas, nas quais sempre me surpreendia a falta de atividade dos escravos e das escravas retratados. Nos quadros de Post, eles não são necessariamente apresentados enquanto trabalham, porém, em suas poucas horas de repouso; às vezes mesmo dançando, e sempre com uma linguagem corporal fascinante.
Na quarta ou quinta visita — lembre-se: era aluno de graduação, numa época pré-internet; disponibilidade não me faltava! — entendi a razão do espanto. As cenas de Post me remetiam à reflexão de Helena. Durante um passeio bucólico, em aparência desligado das miudezas do cotidiano, a protagonista do terceiro romance de Machado de Assis, lançado em 1876, acompanhada de Estácio, vislumbra um negro placidamente sentado, literalmente matando o tempo, como se ousasse transformar um breve instante de descanso numa autêntica porém impossível experiência de otium cum dignitate!
O bem-nascido Estácio realiza de imediato um cálculo certeiro, porém mesquinho:
— Valem muito os bens da fortuna, dizia Estácio; eles dão a maior felicidade da Terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade; mas imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, de sua natureza transitórios, mas sim essa escravidão moral que submete o homem aos outros homens. A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que ali está? Para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar, a pé, mais uma hora ou quase.[1]
O vocabulário escolhido é tanto mais perverso quanto mais naturalizador da ordem escravocrata, e também alveja Helena, pois, em sua condição de agregada, ela nunca chegaria a usufruir da anelada “independência absoluta”. Porém, como é do tempo, esse “fugitivo bem”, de que se trata, Helena observa com agudeza corrosiva o que escapa ao despreocupado herdeiro, embora sutilmente ela saiba disfarçar o veneno, como convém à sua situação social:
— Tem razão, disse Helena: aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o esperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo; é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada, e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. (p. 297, grifo meu.)
Eis o instante flagrado nos quadros de Frans Post!
Na sequência, eu me detinha em alguns poucos objetos do século 18, geralmente religioso: oratórios; ex-votos; imagens de santos; uma ou outra tela.
Passava, então, para uma grande sala, a fim de ingressar no século 19 — vencia dois séculos com um punhado de passos: nem o rico Estácio poderia tanto assim. No início, ainda predominava o caráter devocional das peças, mas logo se alcançava um ponto de ruptura: 1816 e a Missão Artística Francesa. Na narrativa implícita na organização da “Galeria dos 3 séculos”, eis o princípio de uma futura “arte brasileira”, sua condição de possibilidade, ainda que o modelo tenha sido importado.
Esta segunda sala reunia obras oitocentistas, com destaque para a primeira geração de artistas brasileiros formada pelos mestres franceses. Compreendia-se bem o propósito, aliás também presente no motivo “evolucionista” dominante no Museo Nacional: de grão em grão, a arte torna-se genuinamente o próprio de si mesmo.
Numa palavra: nacional.
(Aliás, palavra onipresente na mera denominação dos museus…)
O motivo conhecia uma tradução visual impactante. No final da segunda sala, conduzindo à terceira, na verdade, numa espécie de cruzamento entre os dois espaços, encontrava-se o quadro icônico da pintura brasileira oitocentista: A primeira missa no Brasil (1861), de Victor Meirelles.
Pronto: tela-batismo, estrategicamente situada na encruzilhada entre os primeiros discípulos da escola francesa e, imaginemos, os primeiros pintores “propriamente” brasileiros; logo, essa “primeira missa” inaugurava a ideia de uma arte nacional. Por isso, a terceira sala girava em torno dos pintores que consolidaram a iconografia brasileira: Victor Meirelles e Pedro Américo.
Mais: as duas maiores telas do nosso século 19 conquistavam a atenção do visitante: A Batalha dos Guararapes (1879) e A Batalha do Avaí (1877), respectivamente, de Victor Meirelles e de Pedro Américo.
Esqueçamos a rivalidade que os separou, gerando a chamada “Questão artística de 1879”, e que tantos afetos mobilizou, com fervorosos partidários de uma ou de outra tela. Pelo contrário, sublinhemos o elo temático que associa os dois esforços: afirmação da nacionalidade — e isso do alfa ao ômega, isto é, na mentalidade oitocentista, da expulsão dos holandeses à vitória na Guerra do Paraguai.
Portanto, atando as pontas do passado remoto e do passado próximo.
Vencida a batalha decisiva do século 19, a afirmação da nacionalidade, a quarta e última sala se concentrava sobretudo em telas de suas três últimas décadas. Almeida Júnior recebia o visitante com o Derrubador brasileiro (1879) — e ainda hoje me chama atenção a ironia contida no personagem. Em um instante de inatividade mais do que de repouso, cigarro de palha numa mão, machado em outra, dois símbolos metonímicos de devastação da natureza, esse caboclo parece não manter relação alguma com a natureza que o rodeia, a não ser como seu futuro “derrubador”.
Um Próspero caipira que nunca abrirá mão de sua arte e seguirá controlando os elementos, a fim de afiançar seu domínio sobre a natureza e os homens.
(A consequência mais funesta da predatória visão do mundo fixada por Almeida Júnior veio à tona na destruição do subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana.)
Um pouco à frente, parava mesmerizado diante da tela do espanhol radicado no Brasil, Modesto Brocos; autor de um quadro cuja crueldade magnetiza o espectador, A redenção de Cam (1895), espécie de manifesto visual da ideologia à época dominante.
Você se recorda da tela, não?
O título se refere ao episódio bíblico da maldição do filho de Noé — no século 19, esse episódio era comumente associado à etnia africana. Eis a representação: diante de uma casa pobre, localizada no mundo rural, símbolo do atavismo que impede a modernização, duas gerações de uma família celebram o nascimento de uma criança. A avó, negra, ergue as mãos ao céu, comovida por uma graça muito desejada e finalmente recebida. O conjunto da cena explica o gesto: sua filha é mulata; seu genro, um camponês humilde — pobre, mas branco. Por fim, o neto, no centro da tela, é ainda mais branco do que o pai. Ele olha a avó, para quem a mãe significativamente aponta, como se atestasse o “benefício” derivado da boda, o “embranquecimento” da família. A mensagem é clara, embora brutal. À batalha pela nacionalidade, seguiu-se uma guerra étnica. Entre o caipira de Almeida Júnior e a saga familiar dos personagens de Modesto Brocos, o caminho era exclusivo e excludente.
A última sala ainda apresentava unidades temáticas: indianismo, retratística, paisagens e uma tímida transição para o impressionismo muito bem-comportado de Eliseu Visconti, a par de esculturas que anunciavam o final do trajeto na “Galeria dos 3 séculos”.
Será mesmo assim?
E bem, se alguma leitora esteve recentemente no Museu Nacional de Belas Artes certamente duvidará de meu relato.
Em primeiro lugar, onde se localiza a “Galeria dos 3 séculos”? Somente se encontra uma “Galeria de Arte Brasileira do Século 19” e outra dedicada à “Arte Moderna e Contemporânea”.
Em segundo lugar, a leitora procura, pergunta, sobe e desce as escadas, entre e sai de galerias, mas não vê tela alguma de Frans Post.
Não é tudo.
Alguns quadros teriam sido deslocados? Por exemplo, A redenção de Cam foi levado da última para a terceira sala. De igual modo, a emblemática e premonitória cena de Félix-Émile Taunay, Vista de uma mata virgem que está se reduzindo a carvão (1843), foi levada da sala que se encontrava na ala da “Galeria das Esculturas” para completar a “Galeria de Arte Brasileira do Século 19”. Idêntico destino foi dado a uma tela notável, embora praticamente ignorada, a Elevação da Cruz em Porto Seguro (1879), de Pedro Peres.
(“Galeria das Esculturas” — espaço involuntariamente atravessado pelos princípios da “poética da emulação”. Trata-se duma coleção de gessos, cópias de peças oriundas sobretudo do Louvre. No pedestal da Victoria de Samotrácia, por exemplo, encontra-se uma placa que afirma ser esta cópia uma das últimas cópias autorizadas pelo governo francês da cópia anterior, feita do molde diretamente obtido no Louvre. Eis a novidade (boa demais para ser verdade!): a última cópia da cópia do molde extraído do original possui em si mesmo um valor singular. Aritmética não hegemônica: dois + dois = soma zero.)
Intrigante a obra de Pedro Peres, pois à diferença de A primeira missa no Brasil, na qual portugueses e indígenas não interagem, Peres imaginou instantes de troca efetiva. No centro da tela, um padre coloca um crucifixo numa indígena; no canto inferior, à direita do espectador, um marinheiro aparece de torso nu e com adornos indígenas, num espelhamento pelo avesso do gesto do religioso — como se o marinheiro que se deixa desnudar ilustrasse avant la lettre a irreverência do poema de Oswald de Andrade, Erro de português:
Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio
Tinha despido o português.
Pedro Peres reuniu as duas possibilidades no mesmo espaço pictórico! E isso para não mencionar a Primeira missa (1948), de Candido Portinari, mural que, numa crítica corrosiva do sentido solipsista de todo projeto colonial, simplesmente elimina a figura do indígena da representação.
(Como se antecipasse a atual [ausência de] política indígena do país. Um futuro ensaio?)
Minha leitora hesita: o museu que eu descrevi e o que ela visitou possuem diferenças inquietantes.
Falamos do mesmo espaço?
Sim: tratamos do Museu Nacional de Belas Artes.
Não: minha leitora acabou de conhecer o Museu; eu recorri às lembranças que tenho da “Galeria dos 3 séculos”; memória afetiva porque tal Galeria deixou de existir. Aliás, e já há um bom tempo, os quadros de Frans Post permanecem em reserva técnica.
Algumas salas do museu estão fechadas; o ar condicionado não funciona em todo o edifício; o café que ficava na “Galeria das Esculturas” foi fechado e um planejado salão de chá segue sem previsão de abertura. Ao subir as imponentes escadas que conduzem à atual “Galeria de Arte Brasileira do Século 19”, o visitante se depara com fitas adesivas de segurança que envelopam o corrimão de mármore e dão ao percurso um ar de precariedade que entristece.
Contudo, por que traduzir meu desapontamento numa crítica fácil, e no fundo injusta, da gestão do Museu Nacional de Belas Artes? É preciso manter a lucidez: administrar instituições como a Biblioteca Nacional, o Museu de Arte Moderna e o Belas Artes, entre tantas outras, exige que intelectuais ou funcionários de carreira se transformem em autênticos malabaristas do impossível.
Ótimas ideias e parcos recursos os males da cultura são; por isso, faltam verbas, sobram problemas. E, como se não bastasse, os governantes de plantão talvez nunca tenham frequentado esses centros de arte, documentação e memória.
Ressalte-se, então, um dado estrutural que deve ser motivo de reflexão crítica: no Brasil, a cultura sempre foi vista como adorno, mero acessório, sem dúvida descartável no primeiro sinal de crise.
O atual estado do Museu Nacional de Belas Artes é apenas mais um capítulo dessa história.
(Infelizmente, em lugar de valorizar preciosos acervos já existentes, criam-se novos museus. A seguir nessa toada, vale a pergunta: amanhã teremos algum museu funcionando em condições razoáveis?)
Por isso, mudei o título deste artigo.
No mês passado indagava “O que deseja um museu?”. Essa pergunta supõe uma estrutura favorável à manutenção, constante, de “exposições permanentes”, permitindo uma análise do propósito subjacente à estratégia de exibição dos acervos.
A frase acima é tautológica e no limite deselegante — você está certa. Afinal, uma exposição que se declare “permanente” exige um nível mínimo de constância. Ademais, nada impede que um museu lance mão da totalidade de seu acervo, renovando sempre sua “exposição permanente”. É o que faz com grande êxito o Centre Georges Pompidou, em Paris; aliás, na última renovação, dedicou-se uma seção à antropofagia e à obra de Oswald de Andrade.
(Tema para novo texto — anoto.)
Já nos tristes trópicos, precisei mudar o título deste artigo. Optei pela modéstia: “O que pode um museu?”.
No Brasil, pouco.
Talvez sobreviver.
Manter as portas abertas, ainda que o ar condicionado seja um retrato pendurado na parede. Ainda que para tomar um simples café o visitante tenha de sair do museu.
O importante é não deixar de frequentar o Museu Nacional de Belas Artes. E, claro, depois do café e da necessária pausa, regressar e admirar, na “Galeria dos 3 séculos”, que não mais existe, as telas de Frans Post, que já não estão expostas.
(É uma hora de pura liberdade. Da imaginação.)
Nota
[1] Machado de Assis. Helena. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 296. Nas próximas citações, indicarei o número de página.