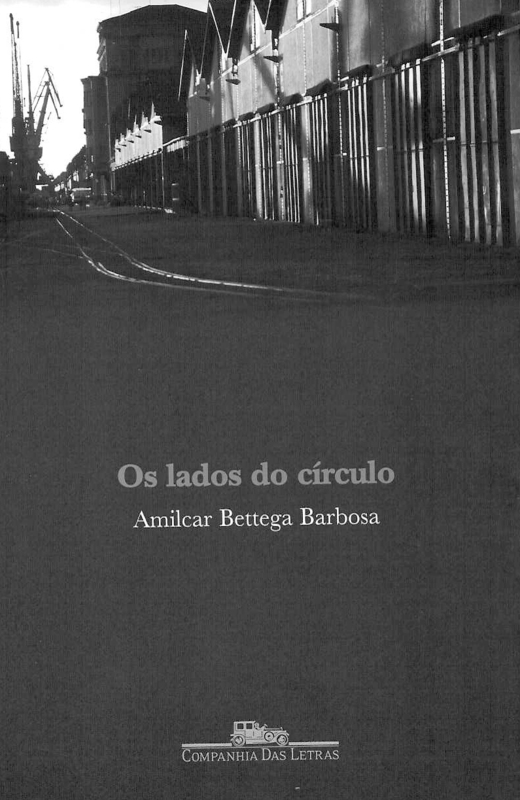Em C. os ônibus andam como baratas atarantadas rumo às frestas do bueiro; ou formigas em dia de chuva em busca da proteção de gordas folhas de samambaia. Subo no ônibus que circunda C. e dela nunca sai. Voltas e voltas num itinerário desconhecido. Cada rua é uma nova rua. Rostos se misturam nas paradas. Sacolejamos todos. Escolho um banco duplo no fundo, ofereço-me para acompanhar o escritor Amilcar Bettega Barbosa nesta primeira visita a C. Insisti para que fizéssemos o passeio em meu velho Clap, comprado de Manoel Carlos Karam — sujeito estranho com quem deixei de falar desde que negociamos o carro há uns dois anos. Amilcar optou pelo ônibus, de circular trajeto, para adentrar as veias de C., percorrer suas estrias, descobrir os sons e afastar-se da organização francesa a que se impôs. Porto Alegre está próxima, sei. Bafejo no vidro do ônibus e faço uma interrogação. Amilcar apenas observa o ônibus ainda vazio neste começo de dia. Aos poucos há de ser sufocado por seres de outros mundos. Gente pouco preocupada com nossas divagações, fantasmas e pouca praticidade para esta vida que nos estrangula.
(Amilcar Bettega Barbosa nasceu em São Gabriel (RS), em 1964. É tímido, fala baixo e nunca se esquece do seu interlocutor, de dar-lhe atenção. Coisa rara nestes seres, muitas vezes, tão egocêntricos — os escritores. É contista, autor de O vôo do trapezista, Deixe o quarto como está e deste último livro que carrego comigo agora: Os lados do círculo.)
Isto é coisa de temperamento. Sempre fui meio arredio. Além disso, sou lento para escrever e não sei fazer várias coisas ao mesmo tempo, e muito dispersivo. Ou seja, se não me cuido, não faço nada. Então, tenho que estar quieto no meu canto para conseguir fazer alguma coisa. Quanto menos agitação à minha volta, melhor. Mas é importante o barulho. É bom que tem gente que, com um outro tipo de temperamento, faz barulho ao mesmo tempo que continua fazendo, e bem, o seu trabalho. Ajuda a movimentar as coisas, o mercado editorial, a crítica, as idéias; chama a atenção para aquilo que se produz agora, no calor da hora, sem esperar pela decantação do tempo. Isto cria uma dinâmica interessante. Embora eu não tenha vocação para o barulho, acho-o saudável.
Presto atenção no que Amilcar me diz e não entendo por que escolhera, então, este ônibus que aos poucos ganha uma balbúrdia infernal, novos odores, falas e olhares. Observamos as ruas e suas frestas. Vivemos em mundos que não nos pertencem. O escritor cria o seu e nele mergulha. Amilcar o faz com a excelência de quem tem o conto sob suas rédeas, percorre-o com segurança e nele constrói janelas e portas para outras realidades, mesmo quando o leitor acredita percorrer as ruas de Porto Alegre, seu habitat literário em Os lados do círculo. É apenas uma localização geográfica, uma desculpa para desvendar outras galáxias, infestadas de imaginação e interrogações. A pulsação das cidades está nas linhas; nas entrelinhas moram seres/objetos imaginários que dão rumo a uma obra em profundo diálogo com a vida e com a literatura. Os sentimentos afloram — amor, rancor, traição, medo, ódio… —, pulsam em 12 contos, lapidados de maneira que se aproximam e se afastam, num jogo de espelhos — tão ao gosto de Borges.
A opção pela forma e a linguagem está implícita na opção pela literatura. Se quero me exprimir através da literatura, não tenho como me esquivar da forma e da linguagem; se quero a literatura é porque quero a forma e a linguagem, pois é isso que lhe dá corpo. Se a questão aqui é a velha discussão que opõe o fundo, a história, à forma, não tenho outra senão a igualmente velha resposta de que tudo é uma coisa só, inseparável, chamada literatura. Preciso contar, mas não posso contar de qualquer jeito. A criação de mundos paralelos me parece também uma evidência e algo intrínseco à literatura. Todo escritor trabalha com mundos paralelos. A única certeza que se tem quando se abre um livro de ficção é que aquilo não é real, não é factual ou, pelo menos, não o é inteiramente. O livro, a ficção, é um mundo à parte, com sua lógica própria. Sempre se parte do (dito) real, do vivido, mas entre a presença bruta do fato e sua representação está a imaginação, que aponta para todas as possibilidades. Assim, a representação do mundo pela imaginação não é irreal, mas sim uma possibilidade do real: é muito mais amplo e mais rico, é algo que alarga a própria realidade, que em geral é tacanha.
No primeiro terminal — o Capão Raso — uma horda invade o ônibus. Acotovelam-se, distribuem grunhidos e safanões pelos exíguos espaços no corredor. Os bancos estão todos ocupados. Entre os passageiros, vejo Dr. Onagro, com quem troco um cumprimento silencioso. Aos poucos, a cada parada, a multidão esparrama-se pelas ruas. Dr. Onagro diz um “cuide-se”, que interpreto como um amistoso adeus. Acho. O sol alto descortina C. Olho para Amilcar, que parece não acreditar no que vê: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges são guiados por João Gilberto Noll, após ultrapassarem a catraca. Borges espreme os olhos e enxerga longe na escuridão. Cortázar tem dificuldade para acomodar suas pernas infinitas ao sentar no estreito banco. Sentam-se de costas para nós. Bafejo no vidro e faço outra interrogação.
Essencialmente os meus caminhos com Borges, Cortázar e Noll se cruzam num lugar: no Sul. Não só no Sul do Brasil, mas da América, no Sul do mundo. Quem nasce, em 64, e cresce nesse Sul e começa a se interessar por literatura e depois resolve escrever, não tem como escapar de nenhum desses três autores e de mais uma pá de outros que, de uma ou de outra forma, vão participar na formação do escritor. Se a gente escreve, é também porque lê, e leu, alguma coisa. Em maior ou menor grau, o que se leu acaba refletindo no que se escreve. Mas o que é bonito na literatura é que ela só oferece a possibilidade (infinita) de ampliação, de alargamento, nunca o contrário. Em relação aos autores citados, Cortázar tem uma atração pelo jogo, uma certa idéia da literatura como exaltação da vida que fazem parte da minha maneira de sentir a escritura. Quando escrevo tenho a impressão de recuperar a alegria infantil de brincar, de jogar. E sinto a porosidade entre esses espaços que o jogo inventa, o que em Cortázar tem muita força. Borges, mais do que qualquer outro, dá a dimensão infinita da literatura, os tais mundos paralelos, que se multiplicam num infinito jogo de espelhos — o que implicitamente realça a importância do olhar, algo bastante recorrente, acho, nos meus textos. Já no Noll, há uma concepção da literatura quase como um ritual litúrgico que me impressiona e me faz sentir um profundo respeito pelo escritor que ele é, para além do seu texto, que é simplesmente admirável — mas não vejo, no meu, muitas aproximações possíveis, infelizmente para mim.
(De Noll, Amilcar herdou o gosto pela errância de seus personagens, a ânsia pelo movimentar-se e descobrir saídas. A importância de sua literatura não está nas referências facilmente identificáveis, mas no fato de não ser um mero diluidor de seus mestres. Não os envergonha agora que os encontra neste ônibus em C. Encara-os com a dignidade de respeitá-los ao discutir os limites da literatura, suas fragilidades e grandeza. Mesmo quando lemos que os escritores “no fundo são uns incopetentes para qualquer atividade que interaja com a realidade”. A realidade está fora ou dentro do ônibus?)
A minha literatura cria os mundos que só ela pode criar; mundos que, fosse outro o escritor, seriam completamente diferentes. Ninguém olha do mesmo jeito. Quero o mundo colhido pelo olhar vesgo do escritor, reflexo da experiência de estar vivo, um mundo que pode ser apenas uma vertigem de ilusão, mas que abre um buraco na realidade.
Quando viramos à direita na principal avenida de C. — a Relva 125 —, não consigo esconder o espanto ao ver a fileira de formigas no corredor do ônibus. Caminham numa ordem militar, sob o olhar atento de Italo Calvino, que se senta logo atrás de Borges. Mira-lhe a nuca em silêncio. O alemão Günter Kunert arrasta grandes caixotes com pernas e braços daqueles personagens que ele dilacerou sozinho numa casa na antiga Alemanha Oriental. Estão todos acomodados; a conversa é baixa. O ar asséptico de C. é destruído pela fumaça do cigarro de Juan Carlos Onetti. Sua fala engrolada distribui alguns impropérios ao cobrador, que demora em lhe dar o troco. Em C. a passagem custa R$ 1,90, mas somente são aceitas notas de R$ 3,00 no coletivo amarelo. Os estranhos ocupantes afastaram todos os demais do ônibus. Apenas observo tudo muito distante. Não pertenço a este mundo. Não crio. Sou uma réplica de algo torneado num passado distante. Faço um sinal para Amilcar, que parece compreender e me explica como mergulha neste mundo de névoas:
O escritor trabalha a partir de si próprio, seu mundo e seu olhar sobre esse mundo, suas vivências, etc., mas mesmo que a sua escritura — ou seja, a representação desse mundo — seja apenas uma imagem, um reflexo da realidade, ela é potencialmente reveladora de algo que ultrapassa essa realidade. Escrever é se olhar, sim, mas não com uma postura narcísica e sim com a intenção de se descobrir, de se questionar, de se investigar. O que o espelho da literatura vai mostrar — se a literatura é boa — é sempre mais interessante do que o que está diante do espelho. Considero-me um escritor intuitivo, mas o mesmo tempo bastante rigoroso e exigente com o meu trabalho, o que por vezes pode dar, no texto final, a impressão de um certo cerebralismo, uma premeditação, que na base eu não tenho. Não planejo muito, vou escrevendo à medida que a história me vem à cabeça. Claro, parto de alguma coisa, e sei que quero passar por outras, mas são coisas muito vagas. Na maioria das vezes é uma imagem, mais raramente uma fala, uma frase, mas tudo sempre muito, muito vago, como uma nebulosa, como algo cheio de véus. Escrever é retirar esses véus. É escrevendo que me aproximo do que está no centro dessa nebulosa. Aquilo que já se disse sobre a escultura vale para a minha maneira de trabalhar: em teoria, a escultura já existe no interior do bloco de pedra, cabe ao escultor descobri-la, retirando toda a pedra que não é escultura. Funciono um pouco assim, o texto já está lá, à espera de que eu o descubra, que eu o desvista, e a maneira de fazê-lo é escrevendo, livrando a forma de tudo o que não é forma. Evidentemente este é o primeiro momento, o momento mais criativo, mas também o mais difícil e inseguro, o mais angustiante. Porque nunca sei se vou conseguir chegar a alguma coisa mais ou menos concreta, nunca sei se daquela nebulosa conseguirei ter algo mais ou menos palpável para continuar trabalhando. Se conseguir, o que terei é uma série de folhas escritas à mão (escrevo sempre à mão), um rascunho muito tosco, que está ainda muito longe do texto final, mas que já não me escapa mais, que me dá segurança para continuar trabalhando. Então é o momento de esmerilhá-lo. Passo para o computador, imprimo e corto e emendo à mão. Passo de novo as alterações para o computador, imprimo e corto e emendo à mão, dezenas de vezes, entre bons intervalos de tempo, até sentir que não consigo ir além, que é o limite — não o do texto, que talvez pudesse render mais, mas o do escritor.
Olho os limites de C. Esta cidade não me pertence. Este mundo no ônibus me pertence apenas à distância. Salto pela janela e bato com força o corpo no asfalto. Deixo-os que sigam viagem. A conversa será longa.