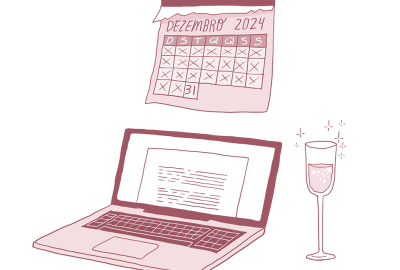O sêmen do homem nu — na praça de cheiro acre — joga seus filhos pelo meio-fio, arrasta-os feito restos destes lados de C., cujas sombras desconheço e muito me assustam. É nesta praça que afio a faca na lima redonda a rodar sob meu comando. Prendo-a com força contra a pedra. O sol faz a lâmina brilhar, sem ofuscar os resquícios de vida que voam dos meus olhos. Do outro lado da rua estão aquelas mulheres, sempre sozinhas, encostadas na parede, com suas crateras na carne à mostra na minissaia. Tenho nojo e pena destas mulheres, que sufocam a cada ônibus vermelho que lhes arranha a pele gasta. Nos ônibus, espreme-se a horda. Ainda nos dizem que são felizes. Muito duvido. Estes animais já estão em extinção.
Mas pouco me importam estes que aí estão apenas de passagem. Afio a lâmina, turvo a minha memória nestas névoas nodosas. Preparo o fio que, lento, vai dilacerar meu peito. Em C. há regras em excesso. Faltam-lhe o improviso, o falseio, tudo é inerte, tal o corpo esquecido no caixão a espremer-se no crisântemo. Vou subverter as regras, pular os arames que cercam a cidade, abrir o meu corpo e deixar o coração neste banco. O sangue vai se misturar ao sêmen e entupir os bueiros pútridos.
À minha volta os arames — malditos arames que fazem desta cidade um vasto campo de penitentes. Os fornos cremam os que se rebelam. O silêncio é nosso fim. As vozes não saem das rachaduras, estrangulam-se. Esta cidade não nos pertence. Foi construída para nós, mas, como areia fina, escapa por entre os dedos rumo ao esquecimento. Seremos também uma invenção, uma criação corriqueira, marionetes neste teatro de neblinas? Talvez nem isso: apenas uma tentativa que não deu certo. Somos um risco mal-feito na prancheta do arquiteto. Não há conserto; nossas estruturas estão comprometidas. O som da cidade não nos invade; não o conhecemos. Não construímos C.; fomos construídos para ela.
(Quando abri os olhos, já estava aqui. Corria trançado nas mãos de minha mãe pelas imensas ruas. C. sempre foi deste tamanho, nem maior, nem menor. Assim como a vemos agora, com seus carros, suas gentes, loucuras e tristezas. Sempre pensei em C. como um lugar triste, grande e triste. Fomos nos moldando a ela, e ela a nós, num pacto silencioso, como tudo em nossas vidas. Desde a chegada — a manhã nascia na neblina, como seriam muitas outras vezes; a neblina é a cor mais presente em C., dia e noite, sem cessar, como um moto-perpétuo, sem cansar; talvez isso explique um pouco os olhares atentos das pessoas, querendo identificar-se mutuamente na névoa, uma névoa triste —, C. sempre fora um mistério que tínhamos muito receio de desvendar. Aventurávamos por suas ruas, corríamos sob a fúria dos carros que queriam nos expulsar do asfalto. Minha mãe nos guiava com seus passos analfabetos naquele novelo de ruas, prédios e rostos, suas mãos tornavam-se ainda mais duras ao agarrar-nos pelos braços, ombros, cabelos, numa desabalada corrida a cortar a mais larga das avenidas, em frente ao shopping, onde nunca, nunca, ousamos entrar, pelo menos até a adolescência, quando C. parecia que encolhia. Era apenas impressão — nos sufocava ainda mais.)
As lembranças de C. são assim: fragmentadas, como um osso quebrado em vários pedaços. Aqui, nesta cidade, crescemos todos nós (essa nossa pequena família de retirantes). O sorriso amarelo e falhado de C. tenta nos engolir, triturar-nos. Aos poucos, vai conseguindo. Somos acrobatas sem a rede a nos esperar na queda inevitável. Todas as lembranças desta cidade são fragmentos. Nada se sedimenta. Vou colando ao corpo as impressões, os sons, os cheiros, o traçado dos rostos conhecidos e desconhecidos que habitam este infinito campo de desfigurados. Desde que cheguei, não consigo ver além de uma indelével névoa. Sou um cego nesta terra de visionários e deslumbrados, onde a fé vem embalada numa voz abafada e pastosa deste homem de fala engrolada, como se a mão de Deus o sufocasse, para que se calasse. Para sempre.
É nestes escombros que ouço o lamento da mulher encostada no muro: “Tenho medo desses homens que entram em mim como se eu fosse uma casa velha, abandonada. Não pedem licença, os desgraçados. Apenas entram. Arrastam o pó para os cantos, escancaram portas e janelas. Vão embora como os fantasmas que vez ou outra habitam as minhas entranhas”.
Perco as esperanças e não me resta outro caminho. Acarinho a lâmina da faca que relampeja às réstias de sol. Enfio bem devagar na altura do peito. O corte deve ser preciso, cirúrgico. A ponta entra e desenha uma fenda na horizontal do lado esquerdo do peito, afasto as costelas (apenas uns fiapos a impedirem que o corpo desmorone ao vento) e, lentamente, corto os vasos da base — aorta, pulmonar e cavas. O sangue jorra sem preguiça pela praça. O homem nu, pétreo, olha com indiferença. Deixo o coração sobre o banco de madeira.
C. não existe. Um mínimo gesto e esta cidade esboroa-se.