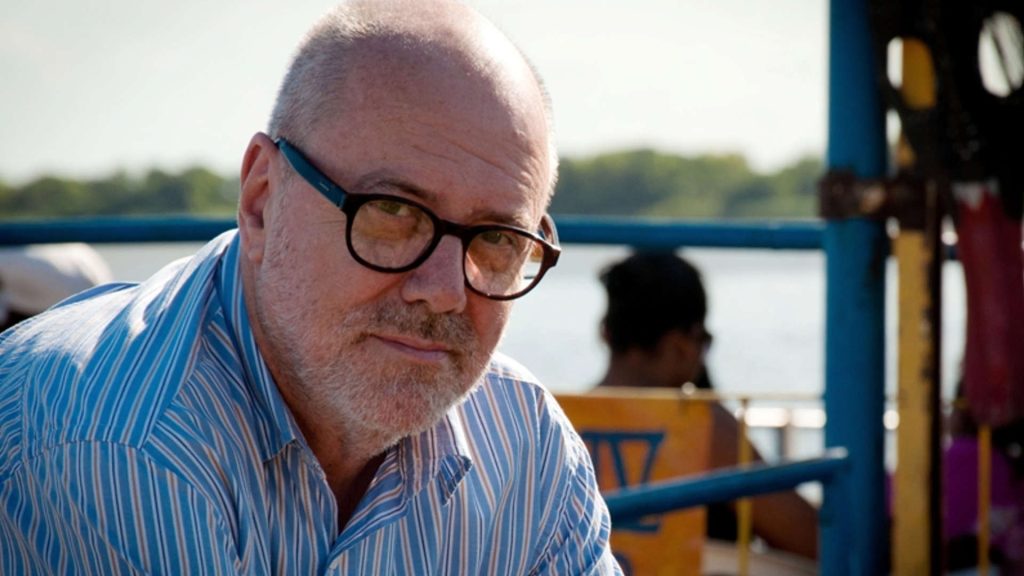A impressão é que João Gilberto Noll escreve sempre o mesmo livro. Ele próprio costuma repetir, em entrevistas, que a voz de seus romances é sempre a de um mesmo personagem, que vem de uma criatura que o habita. Também as ações se passam com freqüência em hotéis, aviões, margens de rio, estradas, lamaçais, tudo o que, enfim, transforma e desestabiliza os corpos. Quem já o ouviu lendo passagens de seus livros pode ter notado o tom ambíguo entre exagerado e oco da sua fala, numa música característica baseada no sotaque gaúcho, que alonga e alteia as últimas sílabas da frase. A impostação como que piedosa e comovida, espécie de reza, ganha muita força na voz do narrador que, por razões pouco claras, desamarrou-se do trabalho, da família, da casa — do que enraíza a vida. A outra vida de agora, aquela que é narrada nos livros de Noll, arrasta os corpos dos personagens que, pouco atentos ao curso de suas histórias, escolhem sempre, sim, estar com outro corpo (pessoa, lama ou rio) e experimentar uma incurável solidão.
No caso de seu novo romance, Solidão continental, a metáfora é geográfica. O personagem é professor de língua portuguesa em Chicago, depois está acidentalmente na Cidade do México e vem ao Brasil: o continente americano está desenhado. É semelhante ao personagem que se desvinculou das coisas — o continente que se desvencilhou do outro continente colonizador, como se o curso do indivíduo rememorasse o curso da História, e este rememorasse ainda o curso geológico do próprio continente que se desvencilhou, há centenas de milhões de anos, do outro. O desdobramento geológico da metáfora amplia de uma só vez as dimensões de tempo e espaço em jogo na solidão nomeada pelo título do romance. É na tensão entre esses dois tempos, o da solidão — que parece referir-se ao indivíduo — e o continental, que a narrativa e a História se fazem no romance; assim, ao ler “solidão continental”, leia-se História.
Note-se que narrativa e História, na obra de Noll, se produzem no intervalo entre duas dimensões de tempo. Assim, fruto das tensões lançadas pelo livro, é decisivo que aquilo que mais chame a atenção em seus livros sejam as repetições — o que dá a sensação de ele escrever sempre o mesmo livro. É que este escritor não produz exatamente romances; antes, oferece-nos uma escritura, ou seja, um conjunto de marcas (ritmo, vocabulário, temas, imagens, personagens etc.) repetidas e insistentes que produzem a narrativa em aparente improviso e representam a História refazendo-a em palavras. É essa autonomia de produção da História por meio da escritura que faz da obra do escritor gaúcho uma que pensa o lugar da literatura e da cultura no contexto pós-colonial.
Por exemplo, o narrador conhece, enquanto dava suas aulas de português nos Estados Unidos, um rapaz chamado Tom, que lutara na Guerra do Iraque e pelo qual se sente atraído. O vislumbre desse relacionamento é logo elaborado pelo narrador da seguinte maneira:
Em troca eu ganharia intimidade com um soldado americano que servira na Guerra do Iraque, experiência que jamais teria fora daquela oportunidade. O que ganharia com isso? Quem sabe a confissão de que ele assassinara tantos civis. Eu não precisaria mais pesquisar sobre o assunto. Ouviria o segredo de seu próprio bafo. Eu seria uma nova testemunha da História. E receberia o assunto secreto de um homem igual a mim. Um homem que eu desejara ou desejava ainda, que eu podia apalpar se ele deixasse. Teria o inimigo no meu regaço. E poderia escrever o meu primeiro romance esculpindo a sua figura que naquele bar eu voltava, sim, a desejar inteira.
Testemunho cego
Tornar-se testemunha da História sem testemunhar os fatos significa retirar do olho e da presença a autoridade da experiência. Não se testemunha um assassinato pela televisão ou apenas por se estar na cena do crime; o testemunho se inscreve no corpo e, por isso, é, no limite, indizível — não há como falar pelo outro que não está mais aqui para falar. A cena do sexo é familiar, nesse sentido, à cena do crime ou da guerra, e não só os poetas o atestam por meio dos inúmeros poemas que fazem do sexo uma batalha, como também porque em ambos os casos o corpo do outro desaparece diante de si e lega a sua falta.
Assim é que a prática de escrever entra em jogo, para além da imagem do narrador do romance que deseja escrever o seu primeiro romance. Parece haver também, nessa possibilidade de escrever, um efeito da História que é atravessado pelo desejo pelo outro. Trata-se de, ao fazer literatura, produzir uma testemunha que não viu. Nesse caso, por não ter visto mas ter testemunhado, a História se produz durante a narrativa. A ficção afirma-se com a produção de um testemunho cego. Desconhecemos o livro que o narrador poderia escrever, como testemunha, mas conhecemos o livro em que ele, narrador, se constitui como testemunha, só que cega.
A História começa a se produzir no lapso dos fatos, como o devaneio dos personagens. É comum que de uma distração ou de uma mentira o personagem passe longo tempo imaginando-se numa situação em que não se encontra. Quando, por exemplo, o narrador chega ao hospital acompanhando um rapaz ferido e desacordado que conhecera em Porto Alegre, deixa-se levar pela resposta mentirosa que dá à moça de branco: “O que ele é do senhor?, a figura perguntou. Sobrinho, respondi, filho do meu irmão mais velho. Ao dizer isso me veio um profundo amor por esse irmão que eu não tinha. Surpreendi-me com o desejo de orar por esse irmão inexistente, eu, um sem-fé, para que ele recebesse a notícia de seu filho com resignação.” Inventa-se a família, com “profundo amor”, assim como é familiar qualquer estranho que encontra ao acaso pela rua. Qualquer contato com outro personagem significa ao mesmo tempo uma localização familiar do outro (é como um filho, é como um sobrinho, é como um irmão) e a iminência do ato sexual sempre procurado. O choque entre a devoração do outro pelo sexo e o afeto familiar torna a identificação da narrativa com o leitor problemática, na medida em que o livro parece irradiar uma vida que não há.
Algumas cenas, nesse sentido, parecem anotações para uma performance. Na passagem mais comovente do livro, o narrador encontra o corpo de Frederico, o rapaz que posteriormente levaria ao hospital por insistência dos passantes, na beira de um rio, ferido e desacordado, e cercado por um grupo de curiosos. Anunciando-se parente do rapaz, pega-lhe o corpo, sobe a ribanceira carregando-o pelos ombros e sai caminhando estrada afora, sem direção. O rapaz ferido. Dia e noite de caminhada. Após o descanso:
Dessa vez escolhi jogar sua parte de cima para a frente do meu corpo. Sua cabeça batia na minha barriga e eu pensava que isso seria apenas por mais um tempo, até que eu decidisse o que fazer com ele. Se bem que eu não conseguia imaginar nenhuma solução que não fosse a de carregá-lo para sempre, por períodos tresnoitados, dias esfaimados, calor, inércia perambulosa, pendor para o abandono.
Andei alguns quilômetros com o garoto no ombro. Meu lado esquerdo começava a doer. O trajeto seria o meu Calvário talvez. Já era madrugada. Eu carregava um atlas no meu ombro, e era difícil acreditar que aquele universo de ossos, músculos, cartilagens, vísceras poderia estar de passagem para um estado de paralisia e desintegração.
Há nessa cena muito da força de se ler João Gilberto Noll. O corpo a corpo entre o andarilho e o doente constitui uma alegoria que representa forças de sobrevivência muito presentes no cotidiano das grandes cidades. O esquecimento, por parte do narrador, da solução de procurar um serviço de saúde é sinal de que o homem se inscreve em outros termos que não os do Humanismo na literatura de Noll. A solução de “carregá-lo para sempre” é simbolicamente comovente pela disponibilidade que demonstra o narrador para sustentar a doença do outro; ao mesmo tempo, é de uma crueldade notável — o que a torna mais comovente, nesse caso — por arriscar a vida do doente, que é cruz e é atlas.
Representa-se, nessa cena, uma beleza indesejável. É também por isso que, por mais distante que seja o seu estilo ao de um texto cênico, os personagens de Noll assemelham-se a atores que representam papéis que todos representamos na vida urbana. Carregar a doença do outro, ser carregado pela gana do outro. Esses personagens são criaturas, como aquelas que aparecem nas pinturas de Iberê Camargo. Segundo a formulação do crítico de arte Ronaldo Brito, as telas de Iberê que pintam ciclistas trazem, de fato, criatura — como homens que perderam seus traços mais superficiais de humanidade. “Pois toda essa atmosfera sombria, pós-hecatombe, termina prontamente redimida pela intensidade de seu brilho estético — o que quer que ainda sobre de autêntico e positivo na ideia de Beleza encontra-se com certeza aqui.”
Essa formulação poderia muito bem aplicar-se à obra de Noll. Com a diferença de que, em se tratando de literatura, também a língua entra no jogo dos restos de que fala o crítico de arte. O professor de literatura que protagoniza Solidão continental lida sempre, mesmo quando se encontra no Brasil, com estrangeiros que desejam aprender português. No seu exílio, a língua é o que resta do seu mundo familiar, mas é nela que se representam as experiências estranhas e estrangeiras. Nesse sentido, a língua funciona como uma espécie de sonda que tateia o real e alarga o território pelo qual se move o narrador. Assim é que a História se produz durante a narrativa, pois a língua é instrumento de pesquisa e maquinaria de produção do real a se descobrir em território estrangeiro, em outras línguas, outros corpos, outros países…