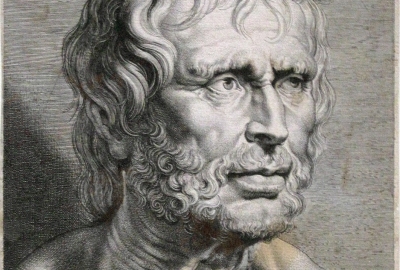Only the man of goodwill carries always
in his heart this capacity for damnation.
Graham Greene, The heart of the matter
Nascida em 1925 em Savannah, no estado sulista da Georgia, a americana Mary Flannery O’Connor (sim, ela era uma mulher) surgiu na literatura como alguém que ia à contramão do seu tempo. E quais eram as características deste Zeitgeist? Ortega y Gasset o chamava apropriadamente de “a desumanização da arte”. Se alguém quiser listar os pontos principais deste momento que vivemos ainda hoje e tiver fôlego para segui-los em suas minúcias, fique à vontade: a falta de preocupação com os problemas humanos e com a própria natureza do homem; o interesse pelo artifício, pela técnica, como uma maneira de evitar qualquer aproximação de uma forma viva, orgânica — o que faz com que a obra de arte se preocupe apenas com si mesma, participando de um mundo auto-suficiente, fechado, hermético. Assim a arte é vista como mais um jogo, algo feito sem nenhuma seriedade para com os assuntos que realmente atormentam a humanidade, reduzindo-se a uma ironia essencial, a uma brincadeira pela brincadeira, na triste intenção de épater les bourgeois. Para atingir tal intento, a obra deve ter uma artificialidade, para não dizer uma falsidade, graças à realização escrupulosa de uma auto-consciência criadora em que o artista controla cada detalhe do seu trabalho. E disso tudo resulta, enfim, uma arte sem transcendência, sem nenhum contato metafísico, completamente “fora deste mundo”.
O mesmo Ortega também afirmou que a arte já teve, no passado, a intenção de ser um veículo para a transcendência, especialmente para os “homens sem imaginação”. Uma vez, narrou o que aconteceu quando entrou, por acaso, em uma catedral gótica — e foi arrebatado por “um torvelinho, pelo próprio peso sobre a terra”. Deixemos o filósofo espanhol falar por si mesmo, em uma digressão retirada do ensaio A arte deste mundo e do outro:
Subitamente, de mil lugares, dos altos cantos escuros, dos vidros confusos dos vitrais, dos capitéis, das remotas chaves, das arestas intermináveis, se descolaram sobre miríades de seres fantásticos, como animais imaginários e excessivos, grifos, gárgulas, monstruosos cães, aves triangulares; outras figuras inorgânicas, mas que em suas acentuadas contorções, em sua fisionomia ziguezagueante poderiam parecer animais incipientes. E tudo isso veio sobre mim rapidamente, como se, sabendo que eu fosse entrar naquele mundo daquela tarde, tivessem se colocado a esperar-me cada coisa em seu lugar ou em seu ângulo, o olhar atento, pescoço espichado, os músculos tensos, preparados para o salto no vazio. Posso dar um detalhe mais comum daquela algaravia, daquele pandemonium mobilizado, daquela irrealidade semovente e agressiva; cada coisa, com efeito, chegava em mim em aérea carreira desaforada, jadeante, peremptória, para me dar a notícia em velozes frases, entrecortadas, desejosas, algum tipo de acontecimento terrível, incomensurável, único, decisivo que tinha ocorrido alguns momentos antes lá em cima. E assim, com a mesma rapidez, como se tivessem cumprido sua missão, desaparecia, talvez retornasse ao seu covil, à sua alcândora, a seu canto cada besta inverossímil, cada impossível passarolo, cada linha angulosa viva. Tudo desaparecia como se tivesse esgotado sua vida em mímico ato.
A visão de Flannery
Flannery O’Connor fez justamente uma literatura para essas pessoas que “perdiam a serenidade”, para quem só existe o finito e, muitas vezes, cometem o deslize de entrar em uma catedral gótica ou então ler alguma história desta escritora admirada por muitos mas compreendida por poucos, uma vez que ela sempre esteve à espreita, como se preparasse armadilhas concebidas por uma rigorosa imaginação moral e que a ajudasse a caçar “essa terrível besta veloz do infinito”. O eixo que a orienta é, na sentença lapidar de Bruno Tolentino, “a dialética do pecado e da graça”, e sua curta obra é composta pelos seguintes livros: Sangue sábio (romance, 1952), É difícil encontrar um homem bom (contos, 1955), O céu é dos violentos (romance, 1960), Tudo o que sobe deve convergir (contos, 1965, publicado postumamente), além dos ensaios de Mystery and manners (1969) e as cartas de The habit of being (1979).
Ela construiu o seu corpus ao longo de quinze anos, enquanto lutava com uma doença auto-imune, degenerativa e incurável — o lupus eritematoso, apelidada de “lobo vermelho” por causa da dor atroz que provocava nos ossos, além das manchas vermelhas espalhadas na pele iguais às mordidas do animal em questão. Foi um feito que, infelizmente, seu pai, também portador da mesma moléstia, não conseguiu cumprir; ele morrera quando Flannery era adolescente. Para uma época em que o tratamento médico ainda era incipiente sobre esse assunto, o que ela fez foi algo improvável, impossível e, não seria exagero dizer, corajoso. Sua morte, em 1964, aos trinta e nove anos, é lastimada não só pelo que poderia ter feito, mas também pelos enigmas deixados pela sua literatura e que ainda incomodam os leitores.
Seu estilo é único no mundo das letras anglo-saxão e caracterizava-se, antes de tudo, por um humor negro que sempre vinha de mãos dadas com uma violência próxima do grotesco e do absurdo. O ambiente onde vivia era propício a isso: em um Sul ainda traumatizado pela derrota da Guerra Civil, sobravam críticas tanto ao racismo entre brancos e negros, negros e negros, brancos e brancos, como também para o protestantismo puritano que, se não atingia o limite do fundamentalismo, era porque Flannery, como uma católica inteligente, intuía que havia algo de verdadeiro naquelas manifestações que se aproximavam da histeria. Ser um membro da igreja de Roma e ter antepassados irlandeses não ajudava em nada no convívio social, acentuando ainda mais o isolamento. Mas isso pouco importava: protegida por uma forte crença religiosa, ela escrevia seus romances e contos com a ajuda de um apuro estético-formal que não devia nada a um Faulkner e convicta de que o que fazia era impossível de ser reduzido a uma “teoria” literária ou sociológica.
Esta certeza se devia ao fato de que ela sabia que tinha um dom. Uma vez, quando perguntaram por que escrevia, apenas respondeu: “Porque eu sou boa naquilo que faço”. Ou então, como respondeu de outra maneira ao ouvir a mesma pergunta: “Escrevo para descobrir aquilo que sei”. Para Flannery, o escritor digno de nota tinha esse dom que deveria ser preservado a qualquer custo; pois o resultado de seus escritos era semelhante ao de uma de visão, de uma revelação em que a obra de arte tinha de afetar a mente do leitor igual à profissão de fé que ela sempre citava das palavras de ninguém menos que Joseph Conrad: “Minha tarefa que tento alcançar, através do poder da palavra escrita, é fazer você sentir, ouvir e, sobretudo, fazê-lo ver. Isto – e nada mais, e é tudo”. E o que ela queria que o leitor visse?

Méconnaissance
Nos ensaios de Mystery and manners, ela afirma que sua intenção era forçar o leitor a ver uma verdade que ficou esquecida naquilo que seria (para citarmos novamente Ortega y Gasset) “o fundo insubornável do ser”. Tal verdade não era algo pleno e acabado, como se fosse o resultado de uma equação matemática ou a resposta decorada de um questionário de catecismo. Apesar do catolicismo exigente, Flannery sabia que o artista não podia se desviar do mal que estava ao seu redor, como também da bondade que raramente dava mostras de existência. Por isso não perdia a chance de citar um aforismo de São Cirilo de Jerusalém — “O dragão senta–se ao largo da estrada, olhando aqueles que passam. Tenha cuidado para que ele não o devore. Nós caminhamos ao Pai, mas antes é preciso passar pelo dragão”. Ela conhecia como poucos o fascínio do olhar do monstro, especialmente para quem se dedicava à loucura quase diabólica da arte. A verdade que buscava só seria encontrada se fizesse a travessia pelo mal em todos os seus passos; e, ao escrever para saber se conhecia ou não o que realmente deveria ser conhecido, Flannery O’Connor nunca deixava a forma artificial da art pour l’art dominar os problemas espinhosos que suas histórias abordavam. Para ela, havia uma unidade e, mais, uma continuidade entre experiências tão díspares como “mistério” e “costumes”, “natureza” e “graça”, “pecado” e “salvação”; e sua obra parece estar possuída por aquele daimonismo que elevava Sócrates quando este tinha uma iluminação filosófica ou que ordenava Coleridge a escrever sobre o albatroz perdido no oceano imenso dos nossos fracassos.
Esta possessão consentida tinha um motivo e, de certa forma, fazia parte de uma estratégia tão astuciosa quanto a de qualquer diabinho; ao afirmar que possuía uma certeza que deveria ser constantemente relembrada ao leitor, também tinha consciência de que a dúvida era um fato que não devia ser colocado de escanteio. Afinal, como freqüentemente reforçava aos seus correspondentes nas cartas de The habit of being, ela provocava esse incômodo a quem lesse suas histórias porque todos os seus contemporâneos (e talvez possamos estender isso a nós mesmos?) respiravam o ar do niilismo, que infectava a alma de cada um como se fosse um miasma imperceptível, contribuindo para a falência do sentido da vida, um fenômeno que acontecia especialmente entre “os católicos com consciência moderna” — como a própria Flannery se auto-intitulava com assombrosa humildade.
E como experimentamos esse niilismo? Quem ler o seu trabalho perceberá que isso acontece por meio do desconhecimento, da méconnaisance, para usarmos o termo proposto por René Girard, do qual vivemos em constante desejo mimético. Em outras palavras: uma pessoa deseja o que a outra quer porque uma terceira também deseja a mesma coisa. A tensão neste relacionamento cresce conforme os dois pólos de desejo se encontram em uma mediação interna, seja no mesmo ambiente ou com a mesma finalidade. Quando ambos não conseguem o que querem, a violência que surgirá é inevitável. Contudo, Flannery tem uma maneira bem peculiar de ver esse fenômeno: em suas histórias, a violência é como a verdade esquecida por nós no mundo moderno pode reaparecer; é uma ferida que não vem de graça, que custa um preço muito alto, mas, ao mesmo tempo, é a única forma de recuperarmos algo que perdemos e mal sabemos ainda se podemos reconhecê-la.
No conto Um homem bom é difícil de encontrar, presença constante de qualquer antologia dos melhores contos do século passado, encontramos a méconnaisance na ignorância mumificada da avó que irrita a família e a leva por engano a um local que só existe na sua memória. Ali, deparam-se com o Desajustado, um assassino serial que, com seu bando, é um sério precursor de Hannibal Lecter. Ele e a avó conversam enquanto os outros capangas eliminam a nora, o filho e os netos sem demonstrar misericórdia. O tema do diálogo é inusitado para a situação: trata-se do medo do Desajustado em lidar com essa figura espectral que se tornou Jesus Cristo. Para ele, Cristo só veio para complicar as coisas deste mundo; “ele desequilibrou tudo”, afirma o assassino, apontando a arma para a testa da velha. Antes de levar um tiro na testa, ela o imagina como sendo uma de suas criancinhas — e de fato ele é, já que o orgulho empedernido da avó está intimamente ligado com a psicopatia do Desajustado. Mas, ao mesmo tempo em que reconhece essa ligação, ela percebe algo que, até então, nunca havia surgido em sua vida. O que seria isso ninguém saberá; o assassino trata de eliminá-la antes que proferisse uma frase inteira. E este também continua no desconhecimento, mesmo que seja plenamente reconhecido por si mesmo, uma ignorância ativa porque ele, de certa forma, também percebeu o momento de misericórdia que a velha senhora experimentou no exato instante de sua morte.
O desequilíbrio na harmonia do mundo, provocado pela revelação cristã, junto com o desconhecimento inerente ao comportamento humano surge com mais matizes em outro conto impecável, O deslocado de guerra. Em uma fazenda tipicamente sulista, a sra. McIntyre, dona do local, recebe a família polonesa Guizac, exilada da Europa por causa da Segunda Guerra e vítima dos campos de concentração nazistas. O sr. Guizac é um DG, sigla do governo para um deslocado de guerra que vem para encontrar uma segunda chance em solo americano; ao contrário do que os outros empregados esperavam, em especial o sr. e a sra. Shortley (típicos white trash do Sul), Guizac se mostra um funcionário exemplar: além de fazer de tudo, faz bem e por um preço muito mais favorável ao que a sra. McIntyre paga a quem está na sua fazenda há tantos anos. É óbvio que a inveja começa a imperar — e os resultados serão trágicos para qualquer um que não saiba que está envolvido na ciranda do desejo. No caso específico desta história, o desejo em questão não é o meramente sexual, como podem pensar os intoxicados pelos nossos baixos sentidos; é um desejo mais profundo, que atinge as raízes do espírito porque o que esses personagens querem não é apenas ter alguma coisa, mas sobretudo ser o que o objeto desejado é. O mimetismo transforma-se em inveja espiritual — e quando, na fantástica cena final do conto, em que a violência é a revelação que o leitor espera desde o primeiro parágrafo, vemos literalmente “o olhar de conluio” entre os participantes do desfecho infeliz que aguarda o sr. Guizac, sentimos que também somos participantes nesse desequilíbrio que contamina a sociedade.
A batalha do lobo
Pode-se afirmar que essa desarmonia da modernidade é estruturada no choque entre duas rivalidades: a da razão e a da fé. Flannery O’Connor expande esses temas ao máximo até chegar à concisão de um cosmion — pequeno mundo—, independente do tempo e do espaço, no romance O céu é dos violentos. Logo na primeira sentença deste livro, somos jogados em uma cena insólita: um garoto de quatorze anos chamado Francis Tarwater deve enterrar o seu tio, auto-intitulado profeta, que morreu subitamente no café da manhã. Não há ninguém que possa ajudá-lo. Enquanto ele tenta realizar essa tarefa, sabemos, por meio de rápidos flash-backs e por uma voz que não reconhecemos se é divina ou diabólica e que conversa o tempo todo com Tarwater, que o tio o educou para uma missão específica: batizar o filho de seu sobrinho, um professor chamado Rayber, já que este resolveu criá-lo conforme os modos do racionalismo e do ateísmo. Detalhe: a criança é deficiente mental.
Com esta trama cheia de reviravoltas e escrita em um estilo tenso, que deixa o leitor eriçado a cada página virada, acompanhamos também a luta da própria Flannery em conciliar tanto a sua fé e a sua razão para descobrirmos se há ou não uma unidade entre essas duas faculdades da natureza humana. A batalha que ela trava consigo mesma é com o lobo da dúvida e o desespero da certeza. De nada adianta ser uma crente — em especial, uma católica moderna em um mundo secularizado — se o próprio artista não se confrontar com a incômoda pergunta de que o niilismo tem uma persuasão incrível, que faz a razão humana preencher as lacunas que a fé supostamente não teve a coragem de explicar. Ao contrário de alguns de seus discípulos explícitos na literatura contemporânea — como Don DeLillo, Cormac McCarthy e David Foster Wallace —, sua obra não se debate com a dúvida para depois chegar a uma certeza, como se tivesse de vislumbrar uma conversão igual à da figura geométrica da parábola invertida, em que, no caso, o ápice das sombras é apenas o ponto de partida para uma ascese implacável; se para estes, a existência do mal é garantida por um desencanto com a idéia do sagrado, com Flannery a certeza de que o mal será finalmente derrotado já existe logo na primeira sentença esculpida a custo de muita paciência e muito estilo, camada por camada; mas agora o problema, para uma artista que quer se afirmar como católica em um universo contaminado pela “cristofobia” (sobretudo na casta intelectual), é manter o que lhe parece ser o certo sem deixar infectar-se pelas seduções da escuridão, mesmo que esta pareça estar envolta na mais radiante das luzes. Assim, o que está em jogo, seja em O céu é dos violentos ou nas outras histórias, não são mais frases feitas como “o problema do mal”, “a soberania do bem” ou “o dilema da graça”, slogans comuns a quem infelizmente decide ser um homo religiosus e usar uma linguagem já degradada há mais de cinco séculos; é o espinho na carne que nos incomoda porque estamos constantemente assombrados por uma vida incapaz de ser explicada de qualquer forma, pela fé ou pela razão, uma vida que nos assusta devido a um espectro que nos acompanha em nossos pensamentos mais íntimos e que sempre nos avisa de que, não, não há como fugir do invisível que nos sustenta.
A linguagem deturpada do dogma mal meditado, que se distancia da experiência vital de um mundo que pede por uma nova forma de compreensão, é o estopim de um dilema moral para o artista que se apoia no edifício do catolicismo, mesmo com as trevas à espreita: Será que o dogma restringe a visão do escritor? Desde Baudelaire, esta é uma pergunta que incomoda os nossos estetas da decadência ou da “imparcialidade artística”, e é sempre jogada para debaixo do tapete como se fosse um bicho cabeludo que ninguém ousa enfrentar. É algo compreensível; afinal, no século 20, escritores como Georges Bernanos, François Mauriac, Evelyn Waugh e o nosso Gustavo Corção se depararam com a encruzilhada de retratar o mundo moderno tal como é — com sua sensualidade exacerbada, o fascínio pela mística do pecado e o medo de enfrentá-lo por meio de um puritanismo que chega às raias da imaturidade, típico de quem se torna um “novo converso” — e por um milímetro não caíram na tentação igualmente perigosa de cobrir suas ficções com a ótica tacanha da dona de sacristia, deixando-as com um sabor na boca que suplicava ao leitor para que se tornasse mais um papa-hóstia. Flannery O’Connor não se esquivou da questão e resolveu-a de forma admirável e audaz: para ela, o dogma amplia a visão do artista, permitindo-o enfrentar as questões que o atormentam, seus verdadeiros demônios, dentro de uma tensão existencial implacável que o faz ficar aberto à realidade tal como ela se apresenta aos seus olhos renovados — violenta, bela e sempre misteriosa. Se o escritor for um católico, ele deve ser, antes de tudo, um escritor; o fato de ser católico apenas lhe dará forças para encarar a verdade que todos querem esquecer. Dessa forma, não adianta nada retirar qualquer parcela de transcendência na obra de Flannery, como querem alguns de seus estudiosos, limitando-a somente ao aspecto formal. Sem este detalhe, o leitor não terá como compreender, por exemplo, a paradoxal sensualidade que se esconde nas cenas intensamente eróticas de contos como Gente boa da roça (em que uma perna artificial pode ser a metáfora do defloramento) ou As costas de Parker (a carne tatuada com o rosto do Cristo Bizantino é o estopim para a excitação histérica de uma crente perturbada).
Abrir-se a esta verdade implica também estar sujeito a, como Flannery bem escreveu em uma de suas últimas cartas antes de falecer, saber que “o lobo está dentro de mim e me estraçalhando”. É claro que ela se referia à doença que a consumaria; contudo, a metáfora também tinha outras finalidades. O dogma católico a ajudava no seu ofício, mas não curou a luta em seu corpo, da mesma forma que acontecia com seu O. E. Parker, o homem tatuado que transformou seu corpo em um bestiário: “era como se a pantera e o leão e as serpentes e as águias e os falcões tivessem penetrado sua pele e viviam dentro dele em uma guerra indomável”. Graham Greene, outro escritor católico que também sabia dos dilemas da arte e da crença, escreveu certa vez que o desespero é o preço que se paga por se impor uma meta impossível: “Dizem que é o pecado imperdoável, mas é o pecado que o homem corrupto ou mau nunca pratica. Ele sempre tem esperança. Nunca chega ao ponto do fracasso que paralisa. Só o homem de boa vontade carrega em seu coração essa capacidade para a danação”. No fim, queremos ser esse homem de boa vontade; apenas nos falta a coragem de admitir o fato de que somos todos “christ–haunted”, perseguidos por uma sombra que nos caça como uma terrível besta diante do infinito, pedinte somente de um olhar mais atento. Flannery O’Connor sabia que esta caçada está no centro de tudo que se move — e que precisamos passar por uma “lição de modelagem” em que cada um de nós fitará as mandíbulas do monstro parado à beira da estrada, sendo limados na argila da comunhão esculpida nos detalhes, sabendo que o desespero da certeza às vezes é a única forma de vencer uma batalha que parecerá perdida, mesmo que, no final, reconheçamos que a guerra foi vencida a muito custo.