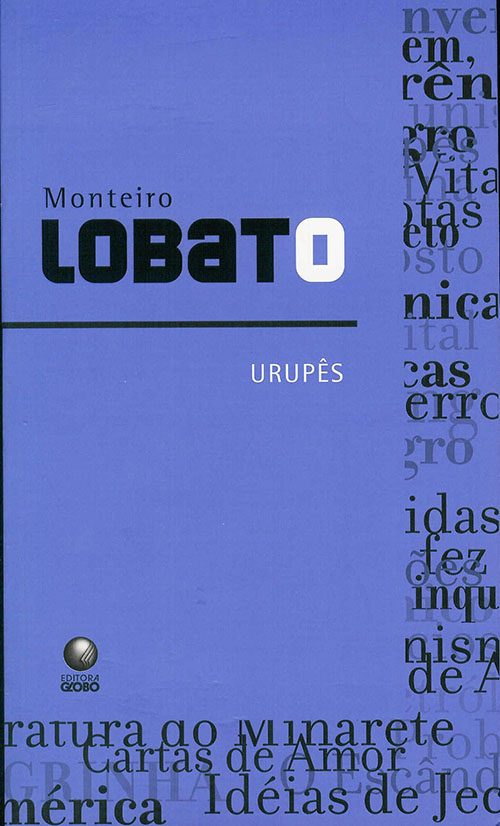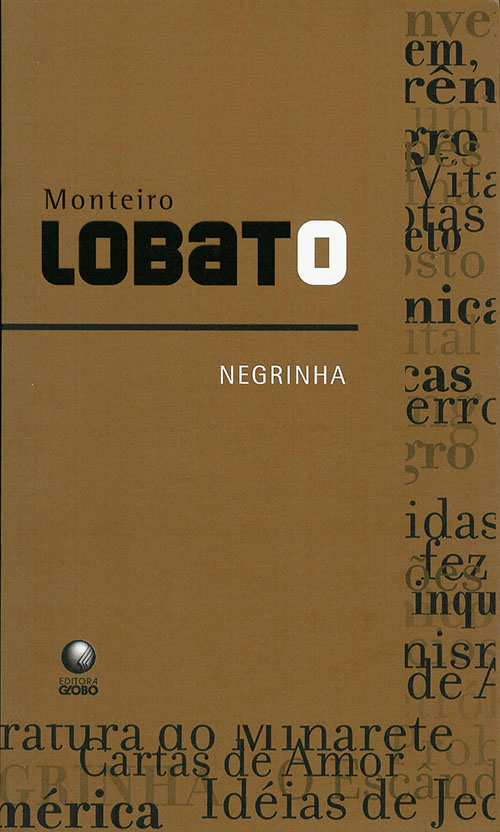A reedição da obra completa de Monteiro Lobato pela Editora Globo, após longo e controvertido litígio entre os herdeiros e a Brasiliense, é um dos melhores acontecimentos do mercado editorial nos últimos dois anos — principalmente àqueles leitores que discordam de Alfredo Bosi, para quem o escritor — “um intelectual participante que empunhou a bandeira do progresso social e mental de nossa gente” — não passa de um “medíocre paisagista acadêmico”.[i]
Se considerar Lobato “acadêmico” é inaceitável — pois ele não foi um seguidor rigoroso dos modelos consagrados pela tradição nem se manteve infenso a inovações —, chamá-lo de “medíocre” parece-me um qualificativo extremamente infeliz.
Esse tipo de reação destemperada não é difícil de se encontrar quando falamos de Lobato. Para a maioria dos seus detratores, o artigo Paranóia ou mistificação? — A propósito da exposição Malfatti (O Estado de S. Paulo, 20 de dezembro de 1917) estigmatizou o escritor, transformando-o em inimigo de tudo o que significasse um avanço para a arte brasileira. Lido com atenção, o artigo apresenta inclusive elogios à obra de Anita Malfatti; porém, aos criadores do senso comum não importa a verdade — interessa, sim, preservar certa posição a qualquer custo. Passam a valer, dessa forma, as versões que, reafirmando a voz geral, garantem aos incansáveis repetidores a aprovação do partido, a chancela dos iguais. Sem dúvida, o gregarismo cobra um alto preço da inteligência.
Mas à parte os comentários de Lobato sobre a obra da artista, sua crítica às vanguardas está lá, indefectível, no famoso artigo:
Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma — mas caricatura que não visa, como a verdadeira, ressaltar uma idéia, mas sim desnortear, aparvalhar, atordoar a ingenuidade do espectador.
A fisionomia de quem sai de uma de tais exposições é das mais sugestivas.
Nenhuma impressão de prazer ou de beleza denunciam as caras; em todas se lê o desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros, incapaz de raciocinar e muito desconfiado de que o mistificaram grosseiramente.
Outros, certos críticos sobretudo, aproveitam a vasa para épater le bourgeois (chocar o burguês). Teorizam aquilo com grande dispêndio de palavreado técnico, descobrem na tela intenções inacessíveis ao vulgo, justificam-nas com a independência de interpretação do artista; a conclusão é que o público é uma besta e eles, os entendidos, um grupo genial de iniciados nas transcendências sublimes duma Estética Superior.
No fundo, riem-se uns dos outros — o artista do crítico, o crítico do pintor. É mister que o público se ria de ambos.
Lobato, então, foi realmente um “acadêmico”? Um conservador, um retrógrado? Pior: um reacionário? Que alguns ainda se condoam da crise emocional em que Anita Malfatti teria imergido, supostamente por causa das palavras de Lobato, bem, esse é um problema de psicanalistas e biógrafos. A verdade é que o escritor mostrou-se lúcido o suficiente para, cinco anos antes da Semana de 22, colocar-se de prontidão contra a típica maneira de proceder dos subdesenvolvidos: acatar os modelos estéticos importados, já diluidíssimos, desgastados de sua força original, como se fossem verdades atemporais; e aceitar de forma acrítica o que aparenta ser novo, apenas por trazer pespegado na testa o rótulo de vanguarda — ou de escândalo. Não por outro motivo parte dos jovens escritores nacionais — e também dos não tão jovens — insiste em reescrever o Finnegans Wake…
Um ano depois do polêmico artigo, a publicação deUrupês, contendo textos produzidos entre 1915 e 1917, definiria o perfil não de um modernista, mas — como bem sintetizou José Aderaldo Castello[ii] — de um moderno que, no papel de escritor e empresário, foi uma das principais influências da Semana de 22.
Aliás, não deixa de ser curioso o fato de que, apesar do genial sintetismo de Machado de Assis, falecido em 1908, sua influência tenha feito germinar poucos seguidores diretos até aquele início de século: dentre eles, Lobato e Lima Barreto. Ou, dizendo de outra maneira, chega a ser desalentador que, apesar de Machado, fosse Coelho Neto (ele, sim, um acadêmico) o escritor de maior êxito naquela época. Realmente, não mudamos muito de lá para cá.
Se o comentário de Luciana Stegagno Picchio[iii] sobre Lobato é verdadeiro — de que “a prepotente personalidade” do escritor “cava um vazio” em torno dele “nas batalhas cívico-literárias” —, não é menos verdade que raríssimos editores tiveram a coragem de Lobato e publicaram tantos e tão jovens autores nacionais. Sem a explosão do mercado editorial patrocinada por ele, a Semana de Arte Moderna teria de esperar, certamente, pelo caráter empreendedor de José Olympio.
Audácia editorial
De promotor público no interior do Estado de São Paulo e fazendeiro, Lobato passou, em 1918, a proprietário da Revista do Brasil. Além de revitalizar a publicação, deu vida a uma editora. O panorama do mercado editorial e a revolução empreendida pelo escritor foram delineados por Laurence Hallewell:[iv] em meio ao desalentador comércio de livros do pós-guerra, as obras da maioria dos autores nacionais eram importadas de Paris, onde a Editora Garnier as produzia, ou de Portugal. Inconformado, Monteiro Lobato sabe que, primeiro, deve criar uma ampla rede de distribuidores. Escreve, então, a todos os 1.300 agentes postais do país, “solicitando nome e endereço de bancas de jornal, papelarias, farmácias ou armazéns que pudessem estar interessados em vender livros”. Quase todos responderam. No final do processo, Lobato dispunha de dois mil distribuidores. Ele diria: “os únicos lugares em que não vendi foi nos açougues, por temor de que os livros ficassem sujos de sangue”. Também se mostrou original na propaganda, fazendo publicidade em jornais, coisa raríssima na época. Importou novos tipos, mais modernos, e alterou os padrões de diagramação e ilustração, não só para melhorar a aparência do produto, mas preocupado com a legibilidade das obras. No início de 1919, importava seu próprio papel e começou a montar a oficina gráfica. Em 1923, tinha quase duzentos títulos em catálogo e se tornara uma referência no mercado.
O grande impulso à cultura, no entanto, o que Hallewell chama de “pequeno renascimento literário”, centralizou-se na publicação de novos autores. O próprio Lobato diria: “Nada de medalhões, nada de acadêmicos com farda de general de opereta do tempo de Luís XIV, armado daquela espadinha de cortar-papel. Gente nova, de paletó saco, humilde nas suas pretensões”. Com um discurso assim, ele não poderia ter subido ao palco do Teatro Municipal de São Paulo para declamar, em certa noite de fevereiro de 1922, aOde ao burguês, de Mário de Andrade?
Mas Lobato também publicou Guilherme de Almeida, Amadeu Amaral, Gilberto Amado, Alphonsus de Guimaraens, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, além de vários outros. E, ainda segundo Hallewell, “a todos pagava generosamente, e freqüentemente antes da publicação”. O caso de Lima Barreto é exemplar: em novembro de 1918 ofereceu ao escritor “metade dos lucros de Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, com o que o autor não concordou” — no fim, acabou oferecendo uma cifra que significou “direitos de mais de 13% sobre toda a edição de três mil exemplares”, assumindo um evidente prejuízo.
Esse Lobato pronto a ajudar os escritores seguiu atuante mesmo depois da falência do seu primeiro projeto editorial, ocorrida em 1925. Vinte anos mais tarde, por exemplo, o sergipano Paulo Dantas,[v] depois de tentar a sorte no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, chegou a São Paulo. Já havia recebido o Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, pelo romance Aquelas muralhas cinzentas, mas estava doente, desempregado e sem economias. Além de pagar seu tratamento em um sanatório de Campos do Jordão, o “prepotente” de Luciana Stegagno Picchio abriu para ele as portas da Editora Brasiliense.
Sem artificialismos
Voltando ao ano de 1918, a publicação de Urupês trouxe a público não a linguagem de um vanguardista, mas a de um escritor que, sem render-se aos modismos, “optando por escrever sobre a flora, a fauna e os habitantes do interior do Brasil, e, acima de tudo, pelo seu constante uso do diálogo idiomático natural, talvez tenha desempenhado papel tão importante quanto o de qualquer outro escritor no abrasileiramento da linguagem literária”. O veredicto de Laurence Hallewell não é apenas equilibrado, mas justo. Talvez, como também afirma o pesquisador, não tenha existido, da parte de Lobato, “o desejo consciente de inovar”, mas considero essa ausência um mérito, uma qualidade que o distanciou de todos os artificialismos.
Ler Urupês nos dias de hoje não exige as sucessivas consultas ao dicionário que são imprescindíveis, por exemplo, em Euclides da Cunha. E se há um tom coloquial, não é aquele utilizado nos grandes centros urbanos da época, mas outro, próprio da zona rural paulista. No conto A vingança da peroba, por exemplo, duas famílias de sitiantes se enfrentam em rivalidades mesquinhas:
Boa peça! Nunes gozava-se da picuinha, planeando derrubar a árvore à noite, de modo que pela madrugada, quando os Porungas dessem pela coisa, nem Santo Antônio remediaria o mal.
— Está resolvido: derrubo a peroba!
Dito e feito. Dois machados roncaram no pau alta noite, e ainda não raiava a manhã quando a peroba estrondeou por terra, tombada do lado do Nunes.
Mal rompeu o dia, os Porungas, advertidos pela ronqueira, saíram a sondar o que fora. Deram logo com a marosca, e Pedro, à frente do banco, interpelou:
— Com ordem de quem, seu…
— Com ordem da paca, ouviu? — revidou Nunes provocativamente.
— Mas paca é paca e essa peroba era o marco do rumo, meia minha, meia sua.
— Pois eu quero gastar a minha parte. Deixo a sua pra aí!… — retrucou Nunes apontando com o beiço a cavacaria cor-de-rosa.
Pedro continha-se a custo.
— Ah, cachorro! Não sei onde estou que não…
— Pois eu sei que estou em minha casa e que bato fogo na primeira “cuia” que passar o rumo!…
Esquentou o bate-boca. Houve nome feio a valer. O mulherio interveio com grande descabelamento de palavrões. De espingardinha na mão, radiante no meio da barulhada, Nunes dizia ao Maneta:
— Vá lavrando, compadre, que eu sozinho escoro este cuiame!…
A Porungada, afinal, abandonou o campo — para não haver sangue.
— Você fica com o pau, cachaceiro à toa, mas inda há de chorar muita lágrima por amor disso…
— Bééé!… — estrugiu Nunes triunfalmente.
Os Porungas desceram resmoneando em conciliábulo, seguidos do olhar vitorioso de Nunes.
— Então, compadre, viu que cuiada choca? É só chá de língua, pé, pé, pé; mas chegar mesmo, quando! O guampudo conheceu a arruda pelo cheiro!
E assombrou o velho com muitos lances heróicos, quebramentos de cara, escoras de três e quatro, o diabo.
A cena não é só divertida, mas tem uma agilidade incrível. Lobato faz Nunes caçoar da família rival com um jogo de palavras no qual ele troca o sobrenome “Porunga” pelo substantivo “cuia”, praticamente sinônimos — sem esquecer que “cuia”, em algumas regiões, significa “meretriz”. E há outras boas escolhas: o “ronco” dos machados, o uso das interjeições e o dito popular, chulo, referindo-se a Pedro como “guampudo”, ou seja, corno. Seria plausível dizer que o conto, por sua modernidade, foi produzido em 1930 ou 1940, mas Lobato o escreveu em 1915.
Em O faroleiro, do mesmo ano, o narrador, ávido pela história que o amigo hesita em contar, diz-se “esporeado na curiosidade” — invulgar, deliciosa expressão. E no conto Bucólica, também de 1915, a contraposição entre a natureza exuberante e a humanidade que só decepciona — clara desde o início da narrativa — ganha ainda maior evidência no diálogo entre patrão e empregado:
— Então, meu velho, na mesma?
— Melhorzinho. A quina sempre é remédio.
— Isso mesmo, quina, quina.
— É… mas está cara, patrão! Um vidrinho assim, três cruzados. Estou vendo que tenho de vender a paineira.
— ??
— Não vê que o Chico Bastião dá dezoito mil réis por ela — e inda um capadinho de choro. Como este ano carregou demais, vem paina pra arrobas. Ele quer aproveitar; derruba e…
— Derruba!…
— Derruba e…
— Por que não colhe a paina com vara, homem de Deus?
— Não vê que é mais fácil derrubar…
— Derruba!…
Fujo dali com este horrível som a azoinar-me a cabeça. Aquela maleita ambulante é “dona” da árvore. Urunduva está classificado no gênero “Homo”. Goza de direitos. É rei da criação e dizem que feito à imagem e semelhança de Deus.
Essa, aliás, é outra das características presentes em Urupês: o pessimismo em relação à humanidade. Empresário arrojado, cidadão idealista cujo espírito cívico promoveu campanhas nacionais que se transformaram em atos de resistência contra o governo — chegando a ser silenciado com a prisão —, fundador da literatura infantil brasileira, parece contraditório que Lobato não tivesse, também no que se refere à sua literatura adulta, um pó de pirlimpimpim mágico o suficiente para transportá-lo a um universo em que os aspectos negativos do homem não fossem plenamente vitoriosos. No conto Um suplício moderno, por exemplo, ele diz que “a humanidade é sempre a mesma cruel chacinadora de si própria”. E em Meu conto de Maupassant, a reflexão, acompanhada de fatalismo, surge logo nos primeiros parágrafos: “A morte e o amor, meu caro, são os dois únicos momentos em que a jogralice da vida arranca a máscara e freme num delírio trágico”. Aqui, estamos próximos de Schopenhauer — e a anos-luz da sabedoria de Dª Benta.
Essa inexorabilidade do destino, marcada, na maioria das vezes, pela tragédia, é outro elemento essencial das narrativas de Lobato. O piadista Francisco Teixeira de Souza Prates, de O engraçado arrependido, termina sua jornada tragicômica enforcando-se com a ceroula. Da neta ingrata, em A colcha de retalhos, resta apenas a colcha inutilmente costurada, que servirá de mortalha à avó. Nunes sofre a maldição dos Porungas: a peroba, transformada em monjolo, esmaga a cabeça de seu filho. No tétrico Bocatorta — um dos melhores contos de Lobato, comparável ao famoso Bugio moqueado, de Negrinha — não basta que a heroína morra sem conhecer o amor: ela deve ser condenada à necrofilia, recebendo de um ser hediondo “o único beijo de sua vida”.
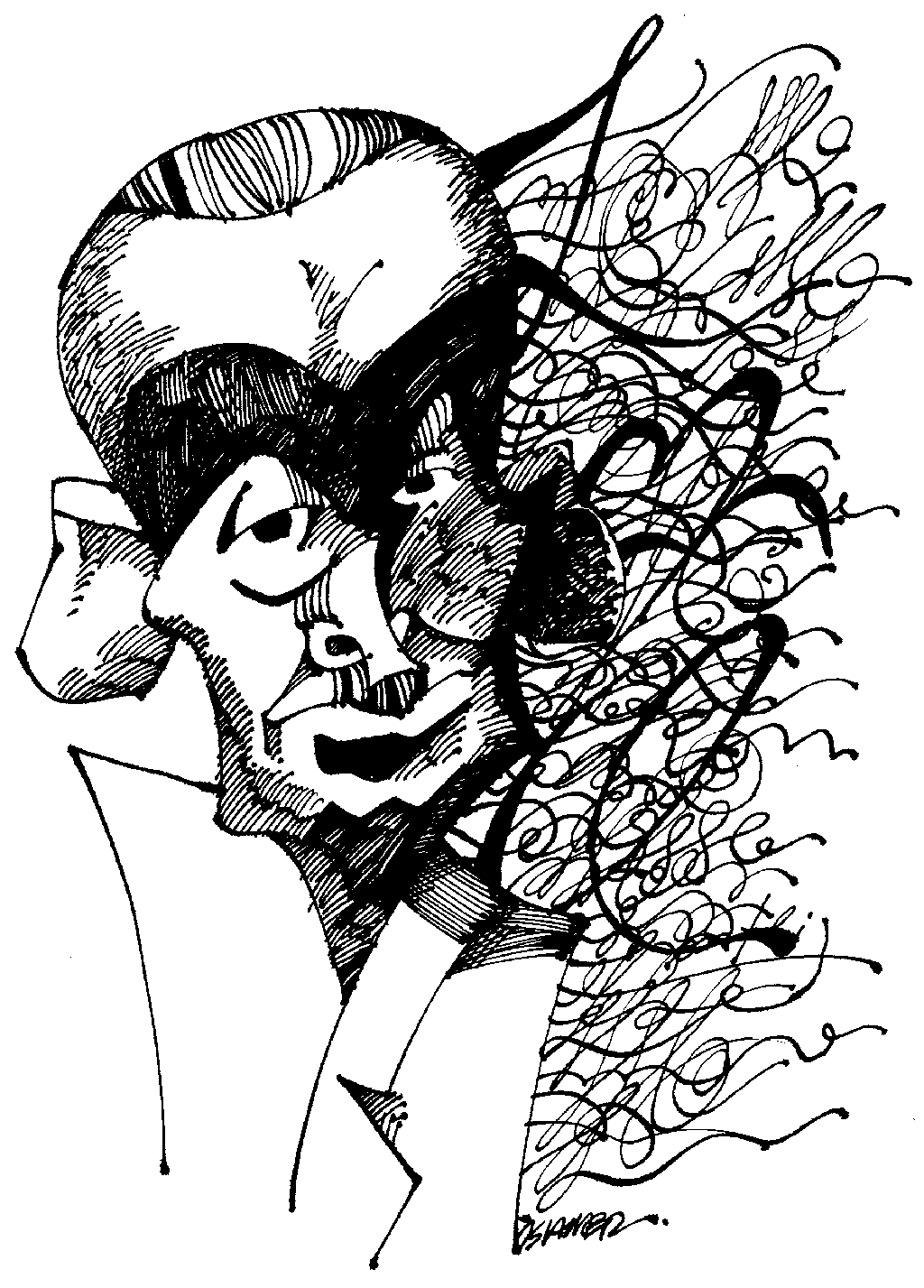
Riso e desprezo
Um só personagem livra-se do final terrível: Izé Biriba, de Um suplício moderno, o melhor conto de Urupês. E é sintomático que o escritor conceda a essa triste figura um destino de liberdade: os inimigos de Biriba são o Estado, os políticos e a burocracia — exatamente aqueles que perseguirão Lobato por toda a vida.
Conto de tese, entre o naturalismo e a modernidade, a história de Biriba apresenta o quadro da política brasileira. As quatro páginas iniciais formam um libelo sarcástico contra a burocracia, a “falange gorda dos carrapatos orçamentívoros que pacientemente devoram o país”, centralizando suas atenções no estafetamento, “avatar moderno das antigas torturas”. Izé Biriba, cabo eleitoral premiado com um cargo na administração pública, torna-se estafeta. Mal sabe os suplícios que o aguardam. No fim, cansado da escravidão, vinga-se do chefe político local e desaparece na estrada, pouco depois de dizer o seu último “Sim senhor”. Lobato nada perdoa: critica os altos salários, o nepotismo, a mediocridade das leis. E apresenta a burocracia como o lugar dos falidos, dos incompetentes, do restolho da nação. A narrativa provoca, ao mesmo tempo, riso e desprezo. Quanto a Biriba, o personagem mostra a habilidade do escritor para construir tipos singulares: por meio de um só gesto — erguer a mão esquerda à altura da testa, arrumando o topete — temos o homem inteiro diante de nós.
O estafeta, aliás, lembra outro extraordinário personagem de Lobato, o impagável Aldrovando Cantagalo, de O colocador de pronomes (em Negrinha): “corcovado, magro, seco, óculos de latão no nariz, celibatário impertinente, dez horas de aula por dia, duzentos mil réis por mês e o rim volta e meia a fazer-se lembrado”. Mas, nesse empolgante O colocador de pronomes, o alvo de Lobato será a gramática: impiedosa, insensível, forçando casamentos, fazendo nascer e matando pessoas. Lobato brinca com a língua, cria uma tragicomédia profundamente irônica e impregna o texto de retoricismo, a fim de expor ao ridículo os absurdos das regras gramaticais.
Retrato do Brasil
Além dos contos, Urupês traz dois artigos. Velha praga, introduzido no volume apenas na segunda edição e originalmente publicado em 1914, no jornal O Estado de S. Paulo — uma “violenta diatribe”, na perfeita definição de José Aderaldo Castello —, apresenta severas críticas ao país: “infelizmente, no Brasil subtrai-se; somar ninguém soma…”. O discurso de Lobato lembra o profético missionário frei Vicente do Salvador, em sua pouco conhecida História do Brasil, na qual, depois de criticar o comportamento dos portugueses que viviam na colônia, refere-se aos brasileiros, dizendo que “uns e outros usam da terra, não como senhores, mas como usufrutuários, só para a desfrutarem e a deixarem destruída. Donde nasce também que nem um homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular”. Lobato investe também contra o método das queimadas, até hoje comuns, criticando impiedosamente o roceiro, o matuto paulista:
Tala cinqüenta alqueires de terra para extrair deles o com que passar fome e frio durante o ano. Calcula as sementeiras pelo máximo da sua resistência às privações. Nem mais, nem menos.“Dando para passar forme”, sem virem a morrer disso, ele, a mulher e o cachorro — está tudo muito bem; assim fez o pai, o avô; assim fará a prole empanzinada que naquele momento brinca nua no terreiro.
A mordacidade retornará no libelo que fecha o livro — e que dá título à obra. Lobato nega-se a idealizar o homem do campo. Ele não repetirá o erro cometido pelos românticos, que criaram “aimorés sanhudos, com virtudes romanas por dentro e penas de tucano por fora”. Para certa antropologia contemporânea, que costuma ser indulgente com o atraso e a ignorância, a tudo desculpando em nome da infra-estrutura econômica, a verve de Lobato continua a provocar urticárias. O Jeca Tatu não é “um forte”:
[…] A verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígine de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso.
[…]
Pobre Jeca Tatu! Como é bonito no romance e feio na realidade!
[…]
Seu grande cuidado é espremer todas as conseqüências da lei do menor esforço — e nisto vai longe.
De certa forma, o escritor se antecipa aos críticos do regionalismo exacerbado que, poucas décadas mais tarde, ao romantizar o subdesenvolvimento, tentaria criar heróis onde só existiam derrotados. Urupês é a síntese do Brasil agrícola, primitivo, no qual a boçalidade se irmana ao misticismo:
Na mansão do Jeca a parede dos fundos bojou para fora um ventre empanzinado, ameaçando ruir; os barrotes, cortados pela umidade, oscilam na podriqueira do baldrame. A fim de neutralizar o desaprumo e prevenir suas conseqüências, ele grudou na parede uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela — santo de mascate.
— “Por que não remenda essa parede, homem de Deus?”
— “Ela não tem coragem de cair. Não vê a escora?”
Não obstante, “por via das dúvidas”, quando ronca a trovoada Jeca abandona a toca e vai agachar-se no oco dum velho embirussu do quintal — para se saborear de longe com a eficácia da escora santa.
Um pedaço de pau dispensaria o milagre; mas entre pendurar o santo e tomar a foice, subir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, baldeá-la e especar a parede, o sacerdote da Grande Lei do Menor Esforço não vacila. É coerente.
O artigo permanece como um repto ao país. É verdade que, na quarta edição do livro, Lobato publicou um pedido de desculpas ao Jeca, reconhecendo outras causas, mais profundas, para o primitivismo do caboclo. Mas a radiografia do Sudeste rural estava feita — e a denúncia seguiria repercutindo, até os dias de hoje.
Literatura e demonologia
Uma das nossas melhores críticas literárias, Lúcia Miguel Pereira, no artigo De Peri a Jeca Tatu,[vi] publicado no jornal Correio da Manhã, em 19 de novembro de 1944, diria que “Jeca Tatu é o único matuto de ficção que tem nome e personalidade, que se tornou um símbolo. O símbolo que Alencar tentou em vão fazer de Peri”. Depois de analisar a “melancólica falta de personalidade” de grande parte da ficção publicada até aquele período, ela reconhece, na arte de Lobato, não só a habilidade de criar um anti-herói, digamos, marcante. Com sabedoria, Lúcia Miguel Pereira resgata Urupês do âmbito da mera denúncia e o insere no espaço da literatura:
E foi quando, no homem brasileiro, não procurou mais o herói, quando não o quis mais exaltar, e sim quando nele viu um pobre coitado, desamparado e humilde, que a literatura o logrou perpetuar como tipo.
A piedade humana foi mais criadora do que a imaginação.
Em sua biografia de Lobato, Edgard Cavalheiro[vii] afirma que Oswald de Andrade colocava Urupês “como o autêntico ‘Marco Zero’ do movimento modernista”. Por tudo o que vimos até aqui — uma pequena parcela do que Lobato empreendeu durante seus 66 anos —, reconhecer os méritos desse escritor não é apenas uma questão de justiça, mas de respeito pela verdade.
Antes de Urupês, Lobato publicou um longo estudo etnográfico sobre o saci-pererê, assinando-o, provocativo, com o pseudônimo “Demonólogo Amador”. Talvez essa tenha sido, realmente, a sua principal vocação: estudar e combater as forças que intimidam e corrompem o homem, impedindo-o de ser o protagonista da sua breve existência. Não só demonólogo, portanto, mas um exorcista mordaz, que se empenhou, durante toda a vida, na tarefa de passar a limpo o Brasil. Acompanhando com rigor o país e seus contemporâneos, foi em tudo semelhante à sua adorável Emília: audacioso, moderno e corrosivo.
NOTAS
[i] História concisa da literatura brasileira, 34ª edição, revista e aumentada, Editora Cultrix.
[ii] A literatura brasileira — origens e unidade, volume II, Edusp.
[iii] História da literatura brasileira, Editora Nova Aguilar.
[iv] O livro no Brasil (sua história), T. A. Queiroz Editor/Edusp.
[v] Presença de Lobato, RG Editores.
[vi] Escritos da maturidade, Graphia Editorial.
[vii] Apud Castello, José Aderaldo. Op. cit.