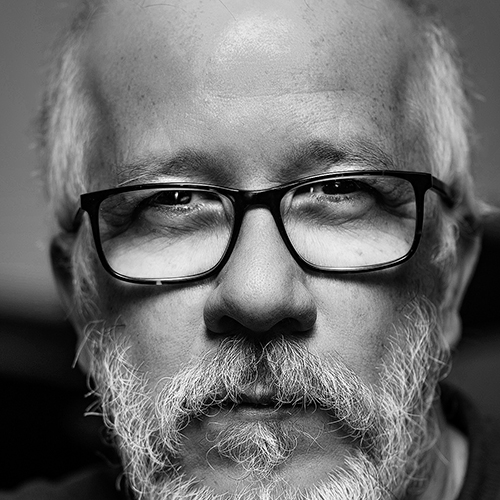Uma oração. Uma ladainha. Um ritmo interno que move os ponteiros do relógio, num ciclo repetitivo, minimalista, e que a cada volta da sua rotação acrescenta um novo elemento à história, e que mesmo assim tem sempre o sentido de uma oração dita como um mantra, como que a expiar episódios, possibilidades, falhanços, recordações, antepassados, animais, países, homens, e a própria História. Uma História específica: a da construção de Timor-Leste.
É assim que degusto o último livro de Luís Cardoso, O plantador de abóboras. É assim que sinto a sua litania, a construção da linguagem de um mundo efabulado num quase realismo mágico, que encerra todas as verdades que nos cercam.
Como leitor, sinto a cadência de imagens e situações como algo repetitivo, como se a própria história à nossa volta fosse uma cantilena de repetições e de erros, mas que no fundo insistimos no desejo esperançoso de alterarmos, de quebrarmos esta lógica perversa que resume o ser humano. É claro que o que nos conta Luís Cardoso, com o seu rosário, com o seu evangelho, é sobre um país, libertado, e cuja libertação ainda traz marcas recentes e que estão em carne viva, e, por isso, sentimos na sua narrativa as várias faces de um povo que busca apaziguar os seus tormentos e vislumbrar um futuro consistente.
Parafraseando um dos pensamentos elucidados por Eduardo Galeano, citando Fernando Birri, questionado para que serve a utopia, ele diz: “serve para que eu não deixe de caminhar”. Desta maneira leio O plantador de abóboras, como uma reza, uma repetição que, de tanto ser repetida, espanta os espíritos que nos tiram o sono (pois eles existem), e anseia um futuro radioso.

…

…

…

…


…

…

…