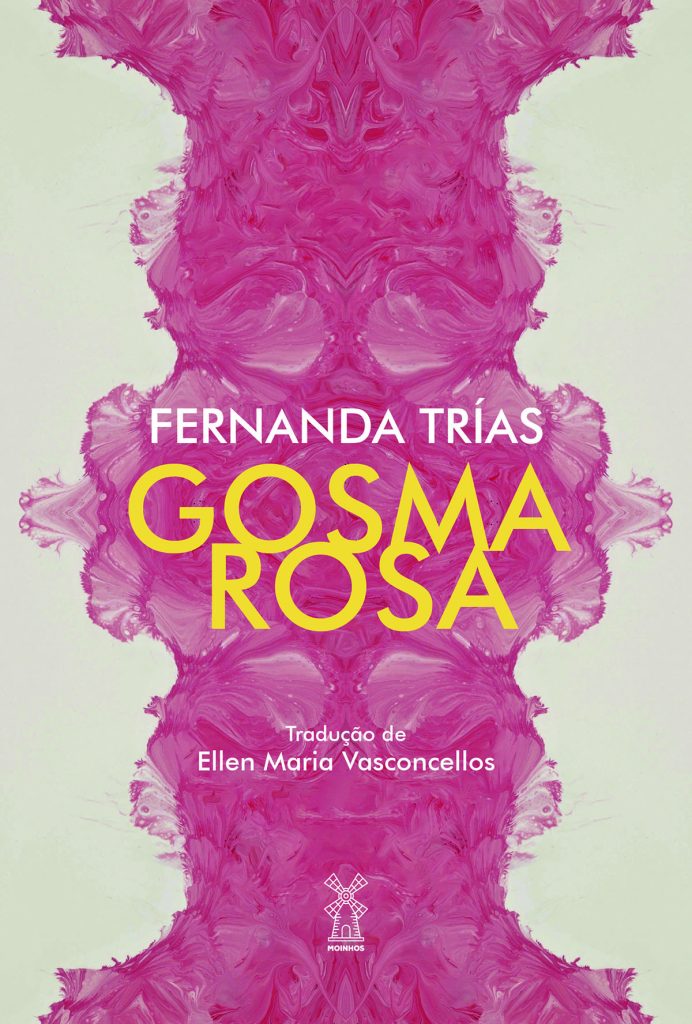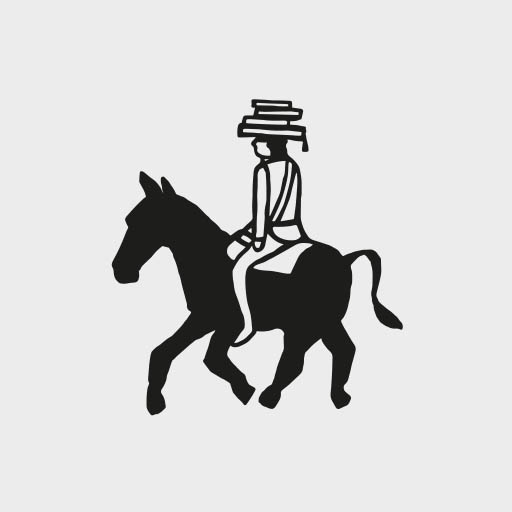Gosma rosa, romance da uruguaia Fernanda Trías, publicado originalmente em 2020, foi um sucesso nos países hispânicos. O fato de o livro ter se adiantado à pandemia de covid-19 é só uma anedota dentro da narrativa, que explora o mundo por meio de uma metáfora cada vez mais próxima da realidade.
A autora aproveitou o discurso ao receber o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz, da Feira do Livro de Guadalajara, no México, em 2021, para alertar contra a mudança climática e os fatores que facilitam seu desenvolvimento.
“Para evitar o pior, as emissões mundiais de dióxido de carbono deveriam se reduzir em 45% antes de 2030. Atualmente, com os compromissos que assumiram os distintos países, só seriam reduzidas em 1%. Assim, é estimado que em menos de 80 anos, 74% das regiões que hoje são habitadas por seres humanos terão virado ambientes propícios a doenças letais, segundo dados das Nações Unidas.”
Trías nasceu em Montevidéu, em 1976, e iniciou sua carreira como escritora em 2001 com o romance La azotea. Discípula de Mario Levrero, publicou os romances Cuaderno para un solo ojo e La ciudad invencible, e os livros de contos El regreso e No soñarás flores.
Gosma rosa, ganhador de diversos prêmios literários, conta a história de uma cidade castigada por uma catástrofe climática que serve de gatilho para a proliferação de um vírus. Há muitos elementos que a pandemia de covid-19 nos ensinou: as máscaras, os movimentos negacionistas, os hospitais lotados, o lockdown. E na narrativa de desespero e horror, a narradora também conta sua própria história, com visões de seu passado, a relação com a mãe, com o ex-namorado, com Mauro — uma das criações mais fascinantes do romance —, uma criança que sofre de uma síndrome rara.
Trata-se de um romance de carácter profético, uma distopia que temos vivido na pele nos últimos dois anos, e já foi comparado ao trabalho de escritores como Ray Bradbury ou J. G. Ballard.
• Lendo Gosma rosa, pensei em A estrada, de Cormac McCarthy, e como aquele é diferente do seu livro. De certo modo, Gosma rosa nos conta sobre um apocalipse abafado. Fiquei interessado com a ideia de apresentá-lo a partir de um tom mais íntimo.
Gosto muito, obviamente, de A estrada de McCarthy. Considero o livro todo fantástico, mas tem uma coisa que me fascina nele — o tom monocromático ao longo da narrativa. Esse tom cinza e essa atmosfera monocromática que geram as cinzas. E depois uma sensação, que me interessa muito, de círculo do inferno, já que os personagens estão perpetuamente caminhando, mas há a sensação de que sempre é, com pequenas variações, mais do mesmo inferno. E ao mesmo tempo é uma distopia do movimento. Já Gosma rosa é bem o contrário, é do confinamento e da quietude. O que me interessava narrar era o durante. Nunca imaginei que fosse haver uma pandemia, e depois a “nova normalidade” passou a estar na boca de todo mundo. Então, não pensei em normalizar aquilo, e que se tornasse a nova normalidade, viver no meio da catástrofe, mas pensava que o durante é um momento de muita confusão, onde ainda não está muito claro o que está ocorrendo, onde tem gente que tenta negar o que está acontecendo, mesmo que esteja acontecendo na frente deles. Essa simulação de vida e esse continuar querer vivendo como se nada estivesse sucedendo, em alguns personagens — alguns são mais realistas, outros menos — é algo muito humano. O ser humano tem essa necessidade de negar o que está acontecendo, em parte como um estranho mecanismo de sobrevivência. Por meio da negação, pode tampar todas essas emoções e ficar nessa simulação de vida.
• Quando efetivamente se desenvolveu a pandemia ao redor do mundo, você se sentiu com o poder de modificar a realidade? Ou seja, você escreveu um livro sobre uma pandemia, e de repente aconteceu uma pandemia. Talvez você queira escrever um livro sobre a paz mundial ou sobre o cancelamento do apocalipse climático.
[Risos] Ao mesmo tempo me fez pensar muito porque, quando eu era jovem, fui discípula do escritor uruguaio Mario Levrero, e ele me disse depois de eu ter escrito La azotea: “cuidado com o que você escreve porque se torna realidade”. Ele era bem místico — escreveu um manual de parapsicologia, acreditava em todos os fenômenos paranormais. Então, penso que se ele estivesse vivo, encontraria uma resposta quase telepática, diria que fiz uma espécie de cambalhota temporal, ou algo do tipo. Mas essas coisas às vezes acontecem. E com as distopias ocorre muito, sinto que as distopias, a ficção cientifica, muitas vezes têm essa capacidade antecipatória, em parte porque a ideia é partir do presente e extrapolar umas coisas que já estão aí.
• A personagem principal menciona muitas vezes o Brasil. Parece que o país é uma espécie de utopia inalcançável.
[Risos] A meta da salvação é ir morar no Brasil, pensado como esse lugar maravilhoso inalcançável. Nunca tinha pensado nisso que vou dizer, e já é me psicanalisar. É lógico que há umas conotações maravilhosas e misteriosas, sobretudo para os uruguaios que, estando tão perto, ao mesmo tempo estamos tão distantes porque são países nada parecidos. E temos estas ideias de que no Brasil é abundante, luminoso, alegre. Parece ser bem diferente do povo uruguaio, que é esse cinzento de Gosma rosa. Já num nível pessoal, eu, que nasci durante uma ditadura, tenho umas lembranças muito velhas porque era muito nova, do meu pai — ele era médico, e na ditadura recrutavam médicos para os centros de tortura — falando para minha mãe que se fosse convocado, ele ia embora pro Brasil. Havia um plano B na família, que estava ali, que era um ônibus até Florianópolis, e daí não sei para onde. Nunca aconteceu nada, mas isso estava flutuando quando eu cresci. Então talvez vazou do meu inconsciente quando escrevi o livro.
• Algo muito interessante em Gosma rosa é que nunca se fala da mudança climática. Não sei se foi algo premeditado, porque se aborda uma pandemia, um pré-apocalipse, mas nunca se sabe muito bem o porquê, embora é possível intuir que a mudança climática esteja por trás de tudo.
É verdade, não se menciona. Porém para mim estava muito claro que tudo estava vinculado à mudança climática a partir das algas, dos tóxicos que vinham do rio. O céu também tinha se escurecido, o sol nunca o atravessava e isso também contribuía para a sensação de cinzento que eu queria construir. E há sempre o nevoeiro estagnado sobre a cidade que só se levanta para trazer algo pior. Queria também que a parte do fenômeno ficasse misteriosa, como essas coisas inexplicáveis que começam a emparentar o fenômeno com o horror. Porque tampouco o horror tem explicação. Embora não tenha me preocupado por trabalhar nenhum gênero específico, queria que estivesse nessa fronteira do “eco-terror”, porque também é terrífico que de repente um fenômeno ecológico chegue com uma ameaça dessas. Sinto que a crítica deu menos importância ao que me parecia importante, que era justamente que falássemos da mudança climática, que falássemos de catástrofes ambientais a partir de toda a destruição do meio ambiente. E ela ficou mais focada no “tem uma epidemia”. Mas não é uma epidemia, o que existe é uma catástrofe ambiental que produz essa doença.

• A história se passa numa cidade não nomeada. Você pensava em Montevidéu quando a escreveu?
Sim, pensava muito em Montevidéu, mas também tinha claro que tomava emprestadas características de qualquer cidade portuária. Inclusive agora que o livro está sendo traduzindo ao francês, a tradutora mora em Marselha, uma cidade portuária que também tem muito dessa coisa industrial. E ela me disse que por muitos momentos lhe pareceu que a narrativa poderia estar se passando lá. Então, acho algo bem interessante, que alguém que mora em Valparaíso [Chile], por exemplo, também possa sentir que estou falando de Valparaíso. Porém, estava, obviamente, com algumas características de Montevidéu bem marcadas na minha cabeça. Muitas vezes quando falo desse tom cinza, os prédios cinza, as ruas cinza, as pessoas cinza… Penso que talvez essa não seja a Montevidéu de hoje, onde as pessoas são cinza, se vestem de cinza, senão a Montevidéu da minha infância. A cidade dos anos 1980 era outra, era zero cosmopolita, vinha muito arrebentada da ditadura, onde inclusive derrubaram árvores, a cidade ficou toda cimento. Então, cresci com essa sensação do cinzento da minha cidade e um certo olhar provinciano, digamos, que em parte foi o que me impulsionou na adolescência a ir embora. Eu ansiava algo muito mais diverso. E, além disso, crescer em Montevidéu na ditadura e na pós-ditadura foi bastante horrível, porque havia uma quantidade de coisas que estavam vinculadas à mentalidade militar, que ia além do governo que estivesse no poder. Estava nas pessoas, na sociedade. Então na escola não era permitido que o cabelo dos rapazes tocasse os ombros, se a cor das meias não era a “correta”, você era mandado de volta para casa. Havia uma sensação de pouca liberdade, e cresci querendo fugir disso. E fugi. Mas também tem de reconhecer que o Uruguai se transformou nos últimos quinze anos, e muito teve a ver os governos de esquerda, que fizeram muito pelo país, e o Uruguai e Montevidéu mudaram muito, mas de alguma maneira ficaram estagnados na minha memória como era antes. Não vivi nada da explosão positiva, da transformação do país, com muito mais coisas culturais, muito mais turismo e uma sensação mais cosmopolita. Isso percebo só quando vou a passeio. Na minha memória ficou gravada aquela outra cidade, e em parte eu queria em Gosma rosa trabalhar essa sensação de voltar à cidade com a memória, com a lembrança, porque do mesmo jeito há um mundo que já não existe para mim. Quando vou a Montevidéu, encontro uma cidade mais bonita, mas não é a que eu deixei. Então sempre me sinto estrangeira, e sempre sinto que há uma cidade que deixei que desapareceu e não sei quando a trocaram por outra. A partir disso, pude emprestar um pouco dessas sensações à narradora, para que ela pudesse trabalhá-las, aplicadas a sua própria história, mas desde outro lado, porque no caso dela é sim um mundo perdido. É esse mundo que evidentemente nunca mais vai voltar a ser como ela o conheceu, onde o mar era protagonista, as praias, tudo o que no Brasil vão entender muito bem porque se, de repente, a água, a praia, a costa — que sempre foi algo que definiu sua identidade como nação — passam a ser o foco da infecção, da doença, há um luto muito grande que precisa ser feito como comunidade, coletividade, como nação. E nessa coletividade há milhões de indivíduos fazendo seu próprio luto e lembrando o que perderam.
• Se fala muito no romance de uma misteriosa fábrica de alimentos…
O assunto da indústria da alimentação está muito presente e muito vinculado ao tema do meio ambiente. Pelo menos, para mim, está vinculado, como eu experimento tudo o que está acontecendo, e o que estamos fazendo como espécie humana à natureza, ao meio ambiente, também é o que estamos fazendo às outras espécies, aos animais. E muito é da indústria da alimentação por meio do consumo, da depredação, da pesca etc. Então está aí presente através da “mugre rosa” [O título original do romance vem de um produto alimentar conhecido em inglês com o nome de pink slime]. Se houvesse uma catástrofe ambiental, todas as espécies vivas obviamente seriam afetadas. Então, pensava, se há um vento tóxico, se o tóxico vem do ar mesmo, irá afetar os cultivos, a agricultura, mas também a produção de carne e de alimentos. E isso é uma corrente imparável. Quando veio a covid-19, entendemos como estava tudo tão relacionado, é um encadeamento de desgraças.
• A parte mais emotiva do romance é a relação da protagonista com Mauro, porque nessa relação é onde se deixa entrever certa esperança. A doença do menino é quase um suplício da mitologia grega. Como surgiu a ideia?
A doença existe e me baseei nela e tratei de descrevê-la da forma mais próxima possível à realidade. Essa síndrome, que se chama síndrome de Prader-Willi, é uma doença sem cura, de nascimento congênita, e ocorre a uma pessoa entre um milhão. Eu li depoimentos e há documentários de pessoas com a síndrome na Inglaterra, na Austrália, em muitos lugares. E por sinal aqui na Colômbia me contatou, depois de o livro ser publicado, a mãe de um menino com Prader-Willi. Na Espanha, existe uma associação que trabalha para trazer visibilidade à doença, para conseguir melhorar a qualidade de vida e para entender mais, porque é uma doença pouco estudada por ser tão pouco comum. Falando do tema da esperança, sei que Gosma rosa é um livro escuro, pessimista, mas não o sinto cem por cento pessimista. Sinto que há uns resquícios de esperança, fissuras muito leves que podiam permitir uma pequena esperança que tivesse a ver com a ética do cuidado, com os laços de solidariedade, em esses breves momentos onde se produz uma conexão humana entre alguns personagens. Mas o central é certamente a relação deles dois, onde ela faz uma defesa dos cuidados como um último bastião de humanidade, que é o que dá sentido à vida dela. Neste momento tão escuro que estamos vivendo — quando Gosma rosa foi publicado o momento era muito escuro, mas não tão escuro quanto o que estava por vir — com pandemia, guerra, ameaça nuclear… Então, é neste momento que tenho muitíssima dificuldade de encontrar a esperança. Este ano tem sido muito difícil para mim animicamente, com tudo o que está acontecendo. Já estávamos muito esgotados animicamente pela pandemia, dizendo que já está aí o final do túnel, e quando você chega ao final do túnel, surge uma guerra sangrenta [da Rússia contra Ucrânia], tão terrível, como antigamente, que ninguém acreditava que podíamos voltar a ver uma coisa assim… Tem sido difícil. Mas do mesmo modo como há uma escuridão muito grande e uma grande capacidade do ser humano para o mal, não se pode negar que também há uma força e uma grande quantidade de gente se organizando, tentando contribuir. Geralmente nas catástrofes, as pessoas se organizam, e se vê uma solidariedade popular que muitas vezes é uma solidariedade que inexiste nas autoridades, nos governos, nos políticos. São as pessoas comuns que te mostram esse resquício de esperança. Queria mostrar isso em Gosma rosa também. Ou seja, você vai receber ajuda do vizinho, não do presidente.
• Pode um livro mudar o mundo?
Não. Mas creio que pode motivar a conversa, o diálogo, e isso é importante porque é a partir da conversa que podemos começar, não só a aceitar o que está acontecendo, mas começar a pensar juntos possíveis soluções.
• Você poderia indicar um livro para entender o mundo?
O primeiro que vem à mente é Crime e castigo, mas é mais um livro para entender a humanidade, a condição humana. Acho que um livro importante pra entender o mundo é Membrana, do espanhol Jorge Carrión. É bem interessante: é narrado por uma inteligência artificial, e vai passando por distintos episódios que têm a ver com a história e a história da inteligência artificial e a história da cultura. Acho que é um livro que ajuda a entender o mundo. Também tenho lido livros não literários, científicos ou, às vezes, ensaios, que vão nessa linha de entender o mundo. Um deles é A sensibilidade e a inteligência das plantas, de Stefano Mancuso e Alessandra Viola. É fundamental para continuar a conversa sobre temas ambientais, porque te faz entender que o mundo vegetal, que nós como espécie humana o consideramos o último degrau da vida sensível, é muito mais inteligente do que se acredita. É sensível, forma comunidades, tem uma linguagem, se comunica. Também a partir de derrubar muitos mitos, abrir a cabeça e entender que somos ignorantes sobre essa espécie, o mundo vegetal, e também como vamos poder entender que nós não temos direito a arrasar com tudo. Uma consciência mais realista de que estamos o tempo inteiro interrelacionados com as outras espécies, e que devemos encontrar uma maneira de começar a consumir a partir de uma ética de respeito às outras espécies. Encontrar outra maneira de nos relacionar que seja a partir da ética do cuidado, como diz Donna Haraway. Não que não se possa comer um frango. O problema é a forma como esses alimentos são produzidos, como esses seres vivem, como se fossem criados unicamente para nosso consumo e não tivessem sensibilidade.

• E um livro para esquecer o mundo?
Já que estamos falando das plantas, poderia indicar algum livro da poeta uruguaia Marosa di Giorgio, que morreu em 2004, no qual você entra num mundo fantástico, um mundo trans, um mundo queer, mas antes do queer, onde os animais e os vegetais têm vida própria e onde há um erotismo “trans-espécie”, e um imaginário tão pessoal, tão único, que consegue te tirar do mundo.
• Para encerrar nossa conversa, você poderia dar conselhos a jovens escritores diante da primeira publicação?
Enfatizo muito a importância de criar comunidades, de cercar-se de pessoas que estejam nesse círculo de interesses. Quando comecei a escrever, fui em busca de Mario Levrero para que ele me guiasse, e ele dava muita ênfase para a necessidade de se criar comunidades. E depois fui vendo com os meus próprios olhos como essas comunidades e essa rede de conexões é o que permite que seu livro chegue a alguém que o leia.