A culpa é minha. Toda. Só minha, e, sendo minha, eu — como Homer Simpson — boto em quem eu quiser.
Essa lógica não é minha (a culpa é), e não sei sequer se é boa — mas, ao menos, funciona para Homer, e, por minha culpa, talvez não funcione para mim.
Homer Simpson admite a sua (culpa, entenda-se), eu a minha, e nossas culpas talvez sejam de natureza diversa nisso: as dele, o velho Homer consegue colocar nos outros — porque são culpas suas —, enquanto as minhas… serão totalmente minhas? Simp(le)son assim (como naquele frase — invertida — das culpas de Baudelaire: “que bom seria fazer o bem e nunca mais ouvir falar nisso”).
Agora, pense na frase em negativo e acenda um cigarro inexistente como o visconde partido ao meio de Calvino, Italo, se um viajante numa noite de inverno acaso quiser me ler neste rascunho de um Rascunho fora de seqüência, etc. Entenderam? Não?
Eu também não — mas acho, penso, sinto que está certo, e, claro, assumo a minha culpa (que não é de Homer), exercendo o meu direito de propriedade, algo muito importante nas sociedades capitalistas nas quais vivemos praticamente sem opção, desde que o Big Mac entrou na China. Na verdade a coisa mais importante, de Washington a Pequim, é: “Ninguém Tasca, Eu Vi Primeiro, Agora É Meu”.
Isso tornou-se o novo lema da nova sociedade de elite que criamos, sob a bandeira neo-petista-liberal da “Ordem Sem Progresso” (o de Lula, o maior intelectual da República — por culpa nossa, minha e de todo mundo que continuar a votar errado, apesar das admoestações do Pelé Simonal: aquele em quem botamos todas as nossas culpas, não é, Jaguar?).
Não, Rogério Pereira, a “coluna” não está a vergar-se (como diria o Francis: hum…) sob a trama político-esportiva, neste jornal eminentemente literário, eu sei.
Leia de novo. Este é um texto sobre a Metafísica de Homer Simpson, e a culpa de pensar que eu a descobri é, sim, minha.
Qual é a sua, leitor? Ora, somos todos culpados, na verdade. O judaísmo tratou de inocular isso no primitivo cristianismo mezzo hippie ao estilo assim meio Woody Allen do Galileu capaz de meter o pau nos ricos (“é mais fácil uma agulha passar pelo fundo de um camelo — sem feri-lo — do que passar pelo fundo do rico, aquela moedinha que o rico-coitado engoliu, a fim de não dar a César o que é de César”, etc. Está na Bíblia da Igreja Universal), sem esquecer de lascar os pobres com a herança de um reino de belas palavras, etc.
Dezembro — que acabou de passar, na voz de Natal de Simone — sempre reforça essa sensação de culpa total, em mim, que sou pobre. Todo pobre é culpado de alguma coisa ou de muitas coisas — das quais a primeira é ser pobre.
O Natal das mesas fartas, a Festa da Natividade das Ceias largas, todo 24 do último mês de cada ano, tudo isso me leva a desejar apenas os caroços das azeitonas devidamente cuspidos pelas pessoas que já compraram a roupa branca do réveillon.
Igualmente, as sobras dos farelos de pastéis de carne no chão também me apetecem mais do que freudianamente, e eu explico: fico pensando no “Che”, na sua sina de ser assassinado pela bala do sargento Mario Terán, para virar imagem de camiseta; penso também no Mahatma Gandhi tecendo fios de cuecas de puro algodão concentrado, desconcentro-me, e paro: que Culpa é a minha, ó Hamlet, príncipe da Panetônia?
Todas. Pra começar, dizem que eu não gosto da Academia Brasileira de Letras, e isso não é verdade. É impossível não gostar de uma academia na qual se preparam empadas e bolos de aipim da qualidade daqueles que são servidos lá, todas as tardes das quintas-feiras, a partir das quinze horas, para acadêmicos que escreveram grandes obras (inclusive sobre a fome) refestelarem-se debaixo da canícula do Rio poluído pela fumaça dos carros que passam pelo centro, indiferentes à imortalidade reunida em torno de uma vasta mesa de chá com acepipes e guloseimas servidas por garçons de luvas brancas impecáveis, os quais, na verdade, são enfermeiros de UTI disfarçados de serviçais do século 19.
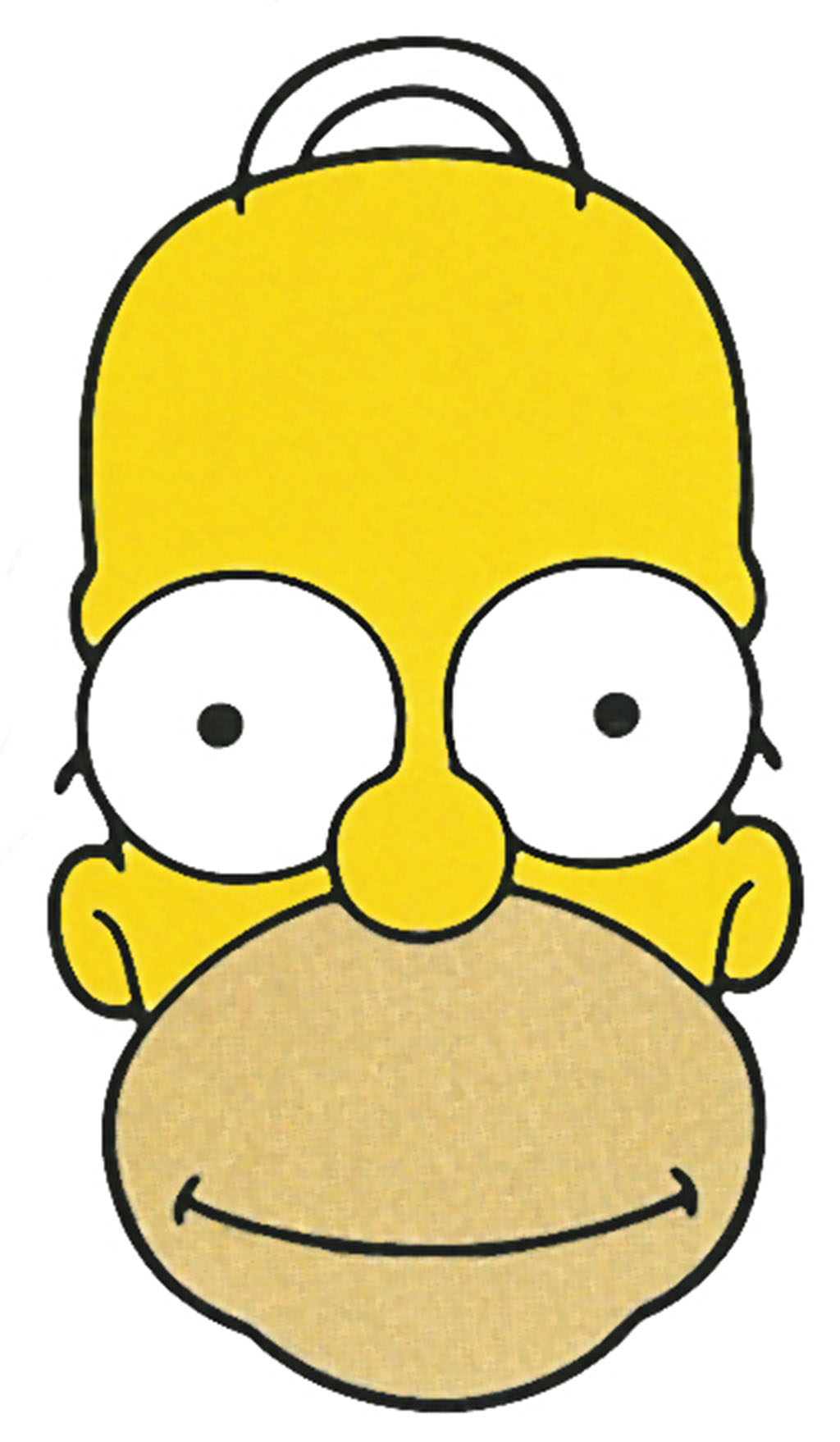
Tudo na Academia Brasileira de Letras, aliás, é de bom-tom e de batom do século 19 (conforme o Manual da Folha recomenda escrever — uma vez que os números romanos caíram em desuso mais ou menos quando o grande Machado de Assis fundou a ABL, há cento e dez anos. “Ninguém é perfeito”, como diz o “Boca-Larga”, em Quanto mais quente melhor).
Na nossa boa e querida Academia, quanto mais velho melhor — porque, lá, todos são imortais por estatuto e imunes a gripes e resfriados desde que Lula mandou reforçar a vacinação dos idosos, e até esteve lá, na Academy — um tipo de lugar que ele adora mais do que churrascaria.
Luiz Inácio Lula da Silva — vulgo “Nove Dedos” — foi convencido a visitar a ABL pelo eminente escritor maranhense José Sarney (acadêmico e autor de dois romances fundamentais da nossa Literatura: Marimbondos de fogo e Marifogos de bunda — este último uma erótica abordagem de um tipo de inseto bastante profundo). Pois Lula foi lá, no nosso aerópago-antropofágico, eu ia dizendo, porque Ribamar Sarney prometeu que iria acelerar a sua alfabetização, etc., oferecendo-lhe uma sopa de letrinhas resumida às vogais (Lula acha que tem consoantes e liberdades demais, aqui “nestepaiz” e na Venezuela), de modo que ele foi e não serviram a tal sopa, e ele ficou puto conforme o nosso primeiro mandatário sempre fica, quando o traem.
E todos o traem. É um destino de ex-metalúrgico, talvez, mas — lembro-lhe, Senhor — todos terminam traindo todos (você mesmo, Senhor, traiu os ideais do antigo PT e traiu seus eleitores de dez dedos na maioria, alguns dos quais se arriscando, agora, a perderem a mão inteira, ao tentar invadir o Palácio para roubar um sanduíche daquele bolso que você vive cutucando, nervosamente, ao lado de Dona Marisa — a que não o traiu, ainda. Quer dizer, eu não tiro a minha mão do bolso para pôr no fogo por ninguém, Dona).
Estou escrevendo em estilo Torto, de Granja, eu sei. É minha culpa e minha modesta homenagem ao gosto literário do presidente “deste País, neste País que é este País”. A Academia Brasileira de Letras e Chás de Espera Pela Morte do Próximo Imortal vai instituir um concurso de redação — para os acadêmicos mais novos, abaixo dos noventa anos —, com a dotação de um prêmio de dois milhões e meio para a melhor redação sobre o pensamento presidencial, que é a máxima preferida na ABL, de Vilaça a Sandroni: Este País é um País como este País nunca foi, neste País.
Neste país das más línguas, andam dizendo que a frase foi elaborada, durante um ano inteiro, pelo ministro Celso Amorim. O que não é bem a verdade verdadeira. A frase foi, digamos, mais ou menos insinuada pelo ministro Nelson Jobim, apertado numa cadeira de avião contra os botoxes inferiores da ministra Martha Suplicy, a qual ajudou na elaboração da mesma, pedindo arreglo não menos que ao filhote — o ainda não ministro do Falso Rock de Garagem (aquele eterno rapaz envelhecido e filho da Casa dos Artistas, Supla, o Chupa-Cabra dos Jardins, SP). Este jornal não devia permitir a publicação de indiscrições como essas. Eu próprio me acuso, me denuncio, me dano com uma esculhambação assim, quando se desvelam os meandros e Leandros das frases elaboradas entre Brasílias e Sampas.
Seja como for, o concurso ora progride, sob a direta supervisão da ABL, da Apae e do Instituto Gerovital (da famosa Doutora Aslan). Quem ganhará o gordo cheque? Paulo Coelho? Cito esse conspícuo nome de Mago e Escriba, porque suas artes têm partes com o Demo, e Coelho costuma ganhar todas, rói tudo, deglute qualquer coisa — meio pavão e meio avestruz de cabeça careca de se enfiar entre as pernas dos acadêmicos dos ovos de ouro que batalharam pela sua eleição lídima, lêdica, lúdica, sádica, médica (ele pessoalmente ajuda os membros, socorre os imortais mais mortais — alguns deles — quando aparece algum furúnculo dentro das bochechas dos mestres reunidos para o repasto das quintas-feiras. Sou um pato — culpado — e adoro coelho).
Mas chega de academia de culpas. Voltemos a falar de letras — também presente nas academias de samba e de ginástica.
Mais uma vez, a culpa é minha, também. Odeio ginástica. Preciso dela como precisam de ar os escritores doentes de enfisema. Não fumo e não bebo, não como e não trepo, não sinto os cheiros emanados de baixo dos acentos (assim, com “c” mesmo) das cadeiras dos chás de qualquer tipo (aipim solta os gases e a imaginação, segundo Branchú e Nosferatu), não tenho mais apetite, sou feio e moro longe. Sou culpado de tudo isso.
No Natal que já ficou para trás, eu deveria estar malhando como o Roberto Justus justamente malha, o Lula Gordinho tenta (apenas tenta) e Carlinhos de Jesus não precisa, enquanto “estepaiz” dança.
Foi um ano e tanto. Ariano Suassuna comemorou oitenta anos tantas vezes que fez dona Zabé da Loca, a pifanotista (é assim que se designa uma emérita tocadora de pífanos e outras coisas pifadas?) de, pasmem, 91 anos, apaixonar-se por ele, Ariano. Ela agora quer casar, de todo jeito, com o autor de “A Pedra no Queijo” (que é casado com Dona Zélia e o Movimento Armorial), e — o amor é lindo — ela, Zabé, sonha em passar a lua-de-mel com Suassuna não em Taperoá, mas em Miami, na mansão cor-de-rosa do artista Romero Jucá Britto, adredemente preparada para mais do que uma aula-espetáculo mais ou menos no estilo visão do inferno.
Pois é. Um ano e tanto. Depois de Clodovil e do técnico Leão — que são a mesma pessoa, conforme descobriu a torcida organizada contra o Imposto de Renda —, o maior macho desta Benezuela é a superministra Dilma Roussef (ou Rouseff? Nunca sei escrever direito o nome dela, assim como definir precisamente aquele rosto que parece ora o de uma Barbie, depois de bofetada, e ora o da pobre Judy Garland da última fase, também levando bolachas roubadas da Academia de Letras do Pai dos Burros tipo Bush).
Este mea-culpa natalino está chegando ao limite de espaço da página. Tenho muito mais culpas pra confessar, todavia (havia dois anos que eu estava querendo escrever “todavia”, num artigo doido o suficiente) não dará tempo, não sobrarão linhas e, afinal, ninguém se importa com quem é tão culpado de tantas coisas, etc., etc.
Todos são inocentes — e só restamos nós, Homer Simpson e eu, realmente culpados, no mundo inteiro. É isso. Feliz 2009 — que 2008 já começou a partir pra terminar.
NOTA DO AUTOR
Escrito para a edição de Natal, este texto — pelas razões chamadas técnicas — “acabou que teve” (em língua paulistana) de esperar para sair neste mês de janeiro achatado pelo carnaval, já. E disso, pelo menos, eu não tenho culpa.
NOTA DO EDITOR
A culpa, agora, é minha.










