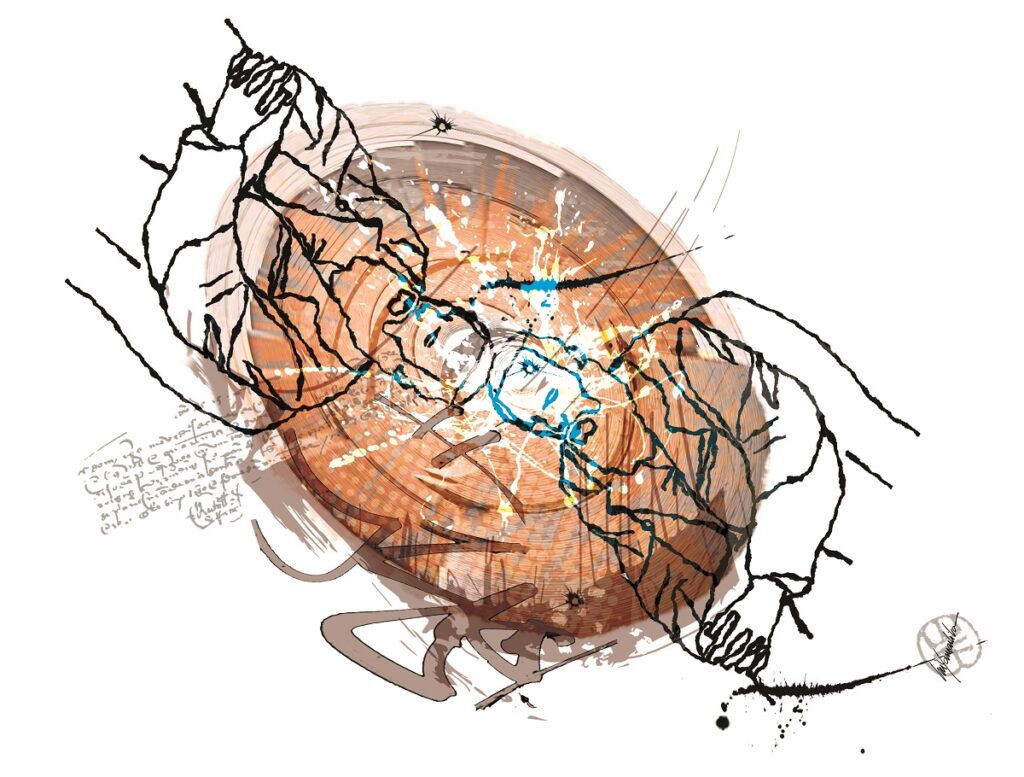“A arte era uma imitação — equívoca — da Bondade que nos criou.” Quem havia afirmado isso?
Talvez nenhum místico inocente houvesse afirmado tal coisa (precisava consultar seus cadernos de pretensões literárias), e a bondade — mesmo a do tipo comum, que apenas olha para os outros — fora também alijada, para ficar somente uma capacidade mimética, isto é, o talento para criar e, de certo modo, imitá-la (a bondade ainda mais misteriosa naquele príncipe cujo enigma continuava a queimar a mente, desde o encontro do título algo brutal, escrito a fogo numa lombada: O idiota).
Tinha, pelo contrário, o medo pânico das pessoas. Era um traço de egoísmo — e não da linhagem de um príncipe idiota (que ele não era idiota) —, fundando qualquer coisa destinada ao fracasso das coisas que não são boas.
De novo, o tema da bondade. A bondade é um dos grandes mistérios, e não apenas um assunto da literatura que, no final, não serve para muito (ou serve, basicamente, para produzir mais literatura)…
Por outro lado, o medo explicava parte da sua vida. O medo o levara a trair o medo — e nunca mais pudera parar. Não havia sonho debaixo das “coisas ermas”, mas o ermo do medo que recusa uma vida natural, uma biografia (“tudo é biografia”) verdadeira, de maneira que podia manter a conversação até por horas, em tom solene, emprestado de leituras descobertas pelos outros (quase tudo fora descoberto pelos outros, no pedestal de areia queimada, de argila cindida pela ação do elemento do poema de Ionesco — que era uma condenação também secreta), e de citações e mais citações de ventríloquo, de diálogos do paraíso da vaidade que fala para ser escutada por si mesma, no fundo indiferente ao mistério, ao enigma da bondade, ao dilema de ser ou não ser cristão — porque não compreendia, de fato, metafísica (a moral cristã, sim, como elaboração posterior, de São Paulo) e aquilo que se inscrevia, de maneira inteiramente física, no corpo de um santo imaculado — depois da santidade —, e do qual haviam tomado o nome para batizá-lo, como por efeito de alguma ironia malévola que zombasse até da pia sagrada.
Sagrada? O que era “sagrado”, para ele? Uma leitura de Eliade (sugerida pelo amigo)? Havia transformado tudo numa espécie de devaneio literário também sem fim, outro bequinho triste na vida de traições secretas e fidelidades difíceis — porém elogiadas pela Bizâncio pálida que elogia o bárbaro e o príncipe, o assassino e a vítima, Raskolnikov e Michalkin…
Qual coisa ele não traíra? Estava escrito na porta: devia trair.
Estava escrito na porta: criaria equívocos.
Estava escrito na porta: conseguiria burlar o passo no fio da navalha, porque era sem nenhum tipo de fé.
Não estava em si mesmo, nunca estivera — conforme rezava a lápide —, e agora era muito tarde para consertar lousa e destino riscados, confundidos, apagados no final (como tudo se apaga, e é um consolo que seja assim, que a miséria possa ser esquecida pelo silêncio).
Acreditava nisso: na alma vazia. Na verdade, estava condenado (a acreditar).
Havia espalhado formas e mais formas sem conteúdo real, disseminando mais confusão oficinal onde era um campo já conflagrado, no qual a honra impunha lutar por absoluta claridade.
Sombras sobre luz
Vindo da parte mais escura — condenado por isso —, compusera sombras sobre a luz mediterrânea do cemitério marinho da arte, longe da certeza de uma branca coluna reta de Brancusi, de uma visão da Acrópole aérea num poema de Elytis, de uma parede de vidro acima da água, numa capela sem mofo, erguida longe e não no lugar de alguma casa.
Agora, era muito tarde para consertar — já se sabe. As esculturas o assustavam, na verdade. Mandara escrever, por último, o título na porta, e, mesmo isso, de que adiantava? O equívoco estava plantado, como a árvore do pecado no meio da criação. Uma vida não basta para desfazer o maior dos equívocos: a vocação adivinhada e, logo, baralhada.
Até se pode não compreender metafísica, a Bondade, ou escolher o caminho da confusão disfarçada de arte, e, no último minuto, ainda ser salvo, por preferir uma forma qualquer de verdade. Seria uma espécie de última chance, de cartada final numa partida desde o início equivocada por vir da sombra, por aspirar ao escuro — por se sentir afastado das coisas claras e preferir os prazeres de “encosta abaixo”.
Existe a luz, e ninguém pode ficar de costas para ela. Refletia sobre isso, mas estava fora e não dentro casa do pensamento, de face para o céu crepuscular.
Escrito na porta: deixou a alma se esvaziar — e isso lhe será cobrado, na posteridade confusa, entre os seixos rolados do seu “Taj Mahal” (um túmulo do trópico também equivocado?).
Escrito na porta: deixou a vocação ser trocada pela sombra do equívoco, e, então, só haverá palavras — o ruído das palavras — da admiração basbaque dos motoristas de táxi, por séculos e séculos que o mundo louco já não contará, felizmente, até chegar a hora de Gea acabar com um gemido. Até lá, entretanto, aumentará o coro de vozes dos motor-especialistas a falar, mais uma vez, em “apolíneos” contra “dionisíacos” e outros chavões da cultura.
Não é bastante escrever nas portas — alguém poderia ter avisado, antes de mais essa providência inútil.
Seja como for, olhava para trás, e, mesmo essa porta, via fechada.
Parecia com aquele pesadelo dos mais recorrentes, talvez saído dos maus presságios de um cemitério ao luar, deserto campo de lápides assustadas.
Imagens soltas no passado, o deserto fértil de túmulos disfarçados pela areia: lá, ainda devia ser legível, na lousa meio comida pela intempérie, a sentença que jazia na sua mente: “ESTE HOMEM NUNCA ESTÁ NELE MESMO”.
O pesadelo cessava — com o acordar suarento —, sem que o verbo se fizesse claro no espírito confuso, na carne que sai, todas as manhãs, da pequena morte do sono. Pelo meio dela, avançamos no terreno incerto do subconsciente mais ou menos livre para tentar decifrar o que pode selar o destino, segundo rezava a frase mais temida da sua coleção de cadernos: nada acontece na vida de um ser humano que não se pareça com ele.
Era uma prova disso, de resto. Podia olhar no espelho partido atrás da porta (Gauguin traíra todos — menos a si mesmo) e perceber — como no sonho — mensagens cifradas na face envelhecida de um Apolo caído para um Dom Pedro vagando numa “Pompeia” morta-viva.