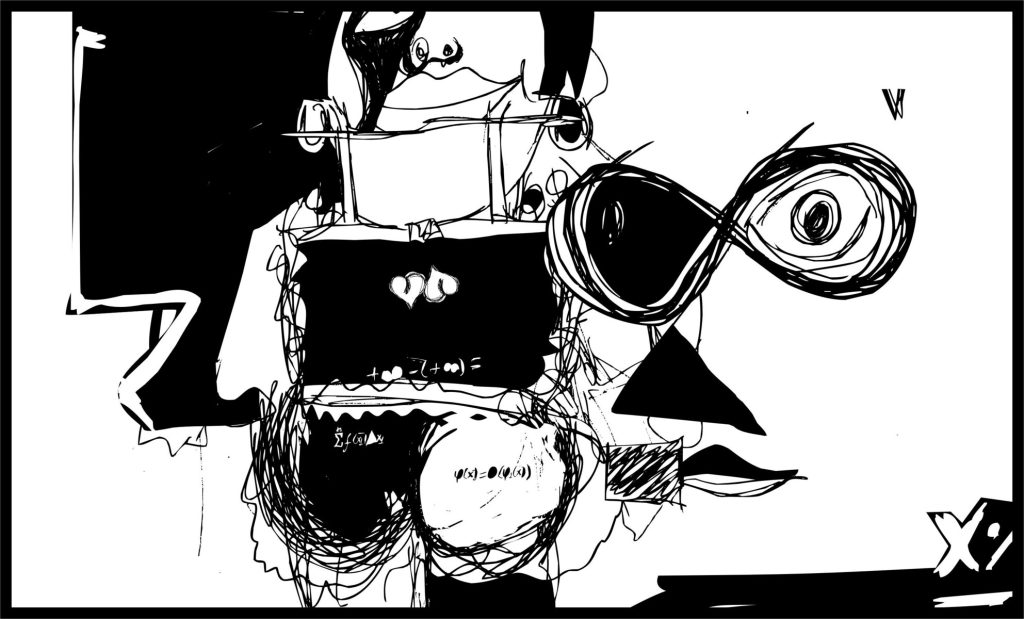Ela levantou a mão para rabiscar qualquer coisa na lousa e notei que a pele do antebraço se movia em direção contrária ao braço, uma sobra de pele que poderia ser mais elegante. Sua mão, suja de giz, era pequena, fofa e livre de qualquer anel. Virou-se. Sentou-se. Olhou para nós e continuou a falar, falar com seu vozerio potente e hipnotizante. Qualquer coisa de raiz quadrada, logarítimo, não me lembro mais. Lá, no entanto, eu devorava as palavras da jovem senhora. Talvez não tão jovem. Talvez não senhora. Sei lá. Reparei que as pontas dos dedos batiam levemente na mesa com impaciência iniciante. Não, não era impaciência. Era só uma vã tentativa de controlar o tempo. O rosto redondo, olhinhos castanhos miúdos e, logo ao lado deles linhas, várias linhas que se mostravam mais presentes quando ela sorria, cabelos ligeiramente sem corte. Não, definitivamente Dóris não tinha o sex appeal das mulheres com quem eu sonhava. Não via suas pernas, mas através da calça as percebia roliças, exageradas. Meu tipo? Ah, morenas com cabelos longos ou loiras com cabelos curtos… Isso era o de menos. Mas gostava de mulheres finas, frágeis, sensíveis, doces. Não, não, Dóris não era assim. E era velha, velha. Quantos anos teria? Uns 35, 40? Difícil saber. Vestia-se de forma bastante informal, mas sua vida acadêmica, bastante titulada, não a permitia ser muito jovem. Por outro lado, dava para garimpar alguns fios brancos escondidos na cabeleira loira que para mim não parecia natural. Difícil saber.
— Vocês já fizeram o trabalho? — pergunta a mestre.
O trabalho, o trabalho. Eu nem começara. Ninguém pedia trabalho, todo mundo queria prova. E ela deu um tema quase livre. Sobre a importância da matemática na atualidade. Não poderíamos escrever. E sim mostrar de outra forma com essa bendita tarefa porque a antiga aritimética tinha um lugar essencial na sociedade. Sei lá o que fazer, sei lá. Poxa, matemática é legal porque me faz pensar o mundo de outra forma, porque tudo faz sentido, porque é perfeita, exata, clara, racional. Mas como mostrar isso em um trabalho? E sem palavras escritas.
Ela falava, falava e eu me dividia entre as anotações e visões parciais do brinco na sua orelha direita. A orelha era bonitinha. A boca bem interessante. Por que certas mulheres insistem em esconder os lábios próprios em batons óbvios? Ela não.
— Tchau, pessoal, até a próxima semana.
— Professora, será que você pode me ajudar no trabalho? Estou um pouco perdido.
— Claro. Vamos lá na minha sala.
Tinha um formato esquisito, sua sala. Oval, nunca vi nada parecido. Duas estantes repletas de livros misturavam títulos quase assustadores de tão técnicos com alguma literatura deslocada, como Balzac. Um pequeno sofá. Três cadeiras. Dois computadores. Ela dividia a sala com um professor que, por sorte, não estava. O lugar apertado, os livros desordenados, as cores ausentes. Não importava. Assim que ela fechou a porta atrás de mim, senti-me quase em casa.
— Não sei me comunicar sem escrever — choraminguei.
— Sabe sim. Talvez você não perceba, mas está a todo momento passando muitas mensagens por meio do corpo, do olhar, de pequenos gestos.
— Mas isso não tem nada a ver com a tarefa que você nos passou.
— Claro que tem. Quero que a turma invente outras formas de falar da matemática que não seja a óbvia, a mais fácil e, provavelmente, a menos verdadeira. Às vezes traçamos caminhos, fazemos planos e imaginamos uma vida toda que parece muito certa, mas que não nos toca e, por fim, acabamos por desistir. Não quero que vocês percam tempo para escrever algo que esquecerão assim que largarem um papel impresso em cima da minha mesa. Quero que vocês lembrem do meu curso, do que aprenderam comigo. Guardem alguma coisa pela vida.
— Tivemos uns quarenta professores durante a faculdade, umas cinqüenta disciplinas. Desculpe-me a pergunta, mas o seu objetivo não é pretensioso?
— Se não fosse, eu não seria professora.
Quanto aos meus colegas, não sei. Mas comigo seu objetivo havia sido atingido. Eu não a esqueceria. Fiz o trabalho com o entusiasmo que tomei emprestado junto com alguns livros de Dóris. Inventei uma peça na qual a matemática não existia e como seria o dia-a-dia de uma cidade moderna sem números. Livrei-me das palavras escritas, mas só para substituir por diálogos falados. Ela adorou. Que bom. Que triste que o semestre acabara. Logo teria o meu diploma de matemático e não a veria mais. Por sorte, novamente a sorte, eu estava enganado.
— Ei, o que você está fazendo aqui? — ela me perguntou na porta do cinema, alguns meses depois.
— Ué, vou assitir Truffaut.
— Eu também.
Ambos estávamos sós. Eu sempre ia ao cinema sozinho porque desistira de levar minhas eventuais companhias para um programa tão íntimo. Mulher fica grudenta no cinema, quer pegar na mão, fazer carinho no ombro. Oh, coisa chata. Gosto de entrar na sala de projeção calado e só voltar a abrir a boca horas depois, depois de absorver o filme. Se levava minhas namoradinhas, sentia-me na obrigação de comentar figurinos ou caráter dos personagens. Ou, pior, ficar olhando para elas sorrindo em uma cumplicidade fingida que eu odiava. Cinema não é lugar para paquera. Nesse campo a objetividade é melhor. Talvez uma boate ou até um show daqueles bem animados para suar junto. Mas admito que adorei trocar o provável prazer solitário pela companhia de Dóris.
Pois bem, estávamos lado a lado na poltrona e pude sentir o cheiro de um perfume que me fazia bem. Sua perna esquerda ficou a um milímitro da minha perna direita. Fiz de tudo para que as duas se encontrassem. Em vão. Não percebi muito bem o que se passava na tela a minha frente, estava mais interessado na respiração contida ao meu lado. Dóris aceitou tomar milk-shake na lanchonete da esquina depois do filme. Descobri, finalmente, sua idade: 39. Eu tinha 24, mas agia feito um adolescente apavorado. Logo eu, tão racional, logo eu que gosto das finas, frágeis. Falamos sobre… Do que falávamos? Nossa, não consigo me lembrar. Gravei, no entando, o seu colar azul, os seus brincos prateados e um anel diferente. Notei também que pintara o cabelo de vez. Estava loira. E que fizera a unha dia desses. Saia, nem pensar. Ela vestia calça como sempre.
Viramos improváveis amigos. Falávamos por telefone, trocávamos e-mails, e repetíamos o cinema+lanchonete vez ou outra. Nada sabia eu sobre ela, exceto que tinha um cachorro chamado Platão e que lia sem parar para o seu doutorado. Ela sabia tudo de mim: que pretendia dar aula, mas era tímido demais, que odiava ver futebol na tevê, mas jamais contara para o meu pai para não decepcioná-lo, que costumava ler crônicas do Rubem Braga quando achava as aulas chatas demais, que acabara de sair da casa dos meus pais, mas não sabia se conseguiria pagar o aluguel. Quando contei da recente mudança, ela perguntou onde ficava o apartamento.
— Aqui perto, quer tomar um café? É a única bebida, além de água, que tenho a oferecer por enquanto.
— Quero sim.
Fomos. Ela falava. Eu pensava: “Ela não é meu tipo, ela não é meu tipo, ela não é meu tipo, que importa tipo, gosto dela, ai deus, lá em casa, ela não é meu tipo, é sim, café? só café seu idiota você não poderia ter um vinho ou pelo menos uma cerveja? ela não é meu tipo, ela foi minha professora e devo respeito, ai que boca deliciosa, por que não arrumei a sala? respeito, será que suas pernas são branquinhas como o seu rosto? rosto? meu tipo não, pense em uma atriz atraente, esqueça ela, será que ela tem marquinha de biquíni? pelo menos faça um café bom, seu burro, boca, idéia idiota, boca, idéia, tipo, boca, boca, olhos, boca, boca…”
— Mateus, acho que a água já ferveu.
— Ãh? Ah! Sim, claro. Cafezinho novo saindo.
Não ouvia mais nada do que ela dizia. Só escutava minha dúvida, meu desejo. Foi quando Dóris olhou para mim de uma forma que eu não conhecia. E eu quis que aquela noite durasse vinte vezes mais do que o discurso mais longo de Fidel Castro.
Eu fazia de tudo para que o momento não chegasse. Não queria o ápice porque depois do ápice tudo acabaria. E eu não queria o fim. Por isso lutava contra meu corpo e meus instintos e não parava nunca. Quando sentia uma certa contração, a possibilidade do alívio, dava um pulo para trás, contava até dez e só depois voltava. Voltava sempre, como o incansável adolescente que eu não fora. Mas era agora com aquela misteriosa e completa mulher. Também ela buscava a prorrogação, eu podia sentir, não por esperar uma maior intensidade — não existia tal possibilidade, estávamos no auge — mas para atingir o perene. Ambos sabíamos, porém, que isso não era possível. Que em alguma hora, ela teria de ir embora. Eu iria tomar banho, lavar a cabeça, olhar o mundo e tentar dormir sem sonhar. E ela voltaria para casa, para escrever uma apresentação qualquer que tanto tempo lhe roubava. Eu escovaria os dentes sem vontade, pularia na cama e sentiria um frio, um calafrio que não me deixava depois que ela me deixava desde aquela tarde no cinema. E, por certo, dessa vez seria pior.
O tal ápice nunca veio. Há catorze anos tentamos entender o que aconteceu naquela noite. Sem sucesso. Repetimos a cena dezenas, centenas, milhares de vezes. E toda vez é uma surpresa, uma novidade, um choque. Mesmo sabendo que ela não irá a lugar nenhum depois, um manso calafrio ainda me assombra depois do suspiro. E as loiras e morenas frágeis, tipos delgados, enfim, o meu tipo, vocês devem estar perguntando. Minha resposta? Do que estão falando?