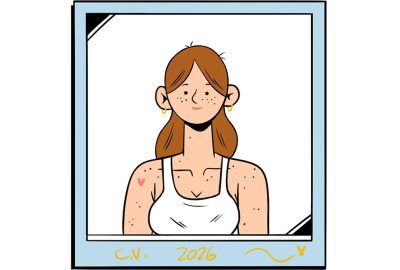Egydio Squeff me chamou:
— Precisamos de uma capa! Estamos a descoberto! Precisa ser urgente. Tem uma idéia? Há alguém novo no teatro, no cinema, na televisão, na noite, no teatro de revista?
A descoberto era uma gíria de redação, queria dizer sem matéria boa. Teatro de revista era um gênero que atraía muito público e havia vedetes estelares. Moda era um segmento que praticamente não existia. Não era como hoje que as modelos são estrelas.
Egydio, editor de UH Revista, o caderno de variedades do jornal Última Hora naquele ano de 1962, gostava de buscar gente nova, descobrir talentos, apontar para o futuro. Cinqüenta anos atrás, era necessário colocar um nome, alguém famoso na capa para atrair leitores. Ou alguém que pudesse vir a ser famoso, coisa complicadíssima de prever, julgar. Faz alguma diferença, hoje? Squeff, homem baixo, atarracado, grisalho, cara de mal-humorado, mas gentil, grande jornalista, tinha sido do famoso trio de correspondentes brasileiros que se celebrizou durante a Segunda Grande Guerra: Joel Silveira, Rubem Braga e ele. Eu funcionava como sub-editor, colunista de cinema, repórter.
— Não vejo ninguém… Espere, espere um pouco.
Tinha me vindo à cabeça o nome daquela jovem atriz do teatro de Arena (hoje Teatro de Arena Eugênio Kusnet) que tinha acabado de estrear Os Fuzis da Senhora Carrar, de Brecht, direção de José Renato. Era linda, sensual, bem interessante. Inteligente, segundo os amigos e os que contracenavam com ela e segundo Albertina Costa, futura socióloga, que naquela época fazia parte do Oficina, grupo em formação. Ela tinha olho agudo para as coisas e eu confiava cegamente nela.
Tinha visto a peça, estava sempre por ali, assistia cinco, dez vezes, tudo o que o Arena e o Oficina faziam. Achava deslumbrante aquela atriz de nome sonoro, Dina Sfat. Poucos a conheciam. E o telefone dela? De ligação em ligação (fazia-se trabalho investigativo) cheguei ao número da atriz, combinamos o encontro no próprio teatro dentro de uma hora.
Ao chegar, o Arena estava vazio, apenas uma luz fraca iluminava aquele palco circular em torno do qual os espectadores se colocavam, quase dentro de cena. Era um teatro de intimidade total, daí o impacto que as peças nos provocavam. Na platéia de apenas 100 lugares, nos colávamos coxa a coxa com a pessoa ao lado, transmitindo energia. Esperei no umbral, palavra que sempre quis usar, e ouvi alguém cantando lá dentro, talvez num camarim:
Um pequenino grão de areia,
Que era um pobre sonhador
Olhando o céu viu uma estrela
Imaginou coisas de amor (1).
Adorava aquela música; ainda adoro. Achava que era uma biografia minha, sempre me achei um grão de areia; ainda acho. A voz era doce e ressoava pelo espaço vazio, ampliando a pungência da canção. Absorto, assustei-me quando Dina bateu no meu braço:
— Cheguei em tempo? Demorei a achar táxi.
Sentados na platéia, uma espécie de mini arquibancada, conversamos. Eu inquieto com a presença dela, insinuante. Ela nervosa porque, confessou, era a primeira entrevista que dava para um jornal grande, e a Última Hora, dos mais lidos da cidade, chamava a atenção pela cor azul do logotipo. Não havia gravador, as anotações eram à mão, numa folha de papel sulfite dobrada. Exercitávamos a memória. Falamos por uma hora, ela contou de sua vida, não havia tanto a relatar em relação a teatro. Nascida Dina Kutner de Souza, filha de judeus poloneses, adotou o Sfat um pouco mais tarde, em homenagem à cidade natal da mãe.
Revelada por Antonio Abujamra em Antigone, fora chamada ao Teatro de Arena. “O que mais quer que eu diga?”, me perguntava. “Me ajude, você é que é jornalista” Falou de sonhos, de infância e juventude com uma ingenuidade comovente. Articuladíssima, viva, era informada, astuta. Claro que deu capa. Ainda hoje me orgulho de ter dado a primeira capa de uma publicação para Dina.
Quase 30 anos depois, em 1989, fui a Israel com um grupo de escritores brasileiros (entre eles Nélida Piñon) e latino-americanos. Num final de semana nos vimos chegando a Sfat, ou Safed, conhecida como a cidade dos cabalistas. Um burgo medieval, casas de pedras, ruas estreitas e soturnas, envolvidas pela neblina da noite. Era shabat, tudo deserto, a cidade me impressionava, principalmente porque adoro este tipo de atmosfera sombria, misteriosa. Nada sabia sobre cabala. Era algo misterioso, para poucos, iniciados. Naquelas vielas me veio a lembrança de Dina Sfat, que tinha morrido meses antes, muito cedo, cedo demais, aos 50 anos de idade, o que provocara enorme comoção em mim e em todos que a conheceram ou a viram em novelas ou teatro. Naquele momento, associei o nome dela à cidade. Uma pessoa como aquela, que eu tinha visto tantas vezes, ao longo dos anos, em peças como Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, A mandrágora, O rei da vela (substituindo Ítala Nandi); em novelas como Selva de pedra, Ossos do Barão, Gabriela (primeira versão), Saramandaia. Ou no delicioso filme de Ana Carolina, Das tripas coração.
Mais do que isso, permanecia em mim um mistério. Naquela tarde, meio século atrás, em que a entrevistei para a UH Revista, ao terminar, perguntei à Dina:
— Quem estava cantando tão bonito aí dentro?
— Não sei, vamos ver.
Percorremos o teatro todo, era diminuto, não havia ninguém. Nenhuma pessoa poderia ter saído sem passar por nós. Quem cantava “Um pequenino grão de areia”?
— Depois descubro para você.
Dina se esqueceu ou nunca descobriu.
NOTA
1) Esta canção foi uma marcha rancho de 1951, enorme sucesso, cantada por Dalva de Oliveira. O autor foi Paulo Soledade, aviador e também do grupo dos cafajestes do Rio de Janeiro, uma turma que eu invejava imensamente aos 16 anos, porque aprontavam tudo e todas, eram ricos, comiam quem queriam, zoavam. Foi parceiro de Antônio Maria, Fernando Lobo e Vinicius de Moraes. Cafajeste e talentoso. Eu pensava: tem gente que tem tudo.