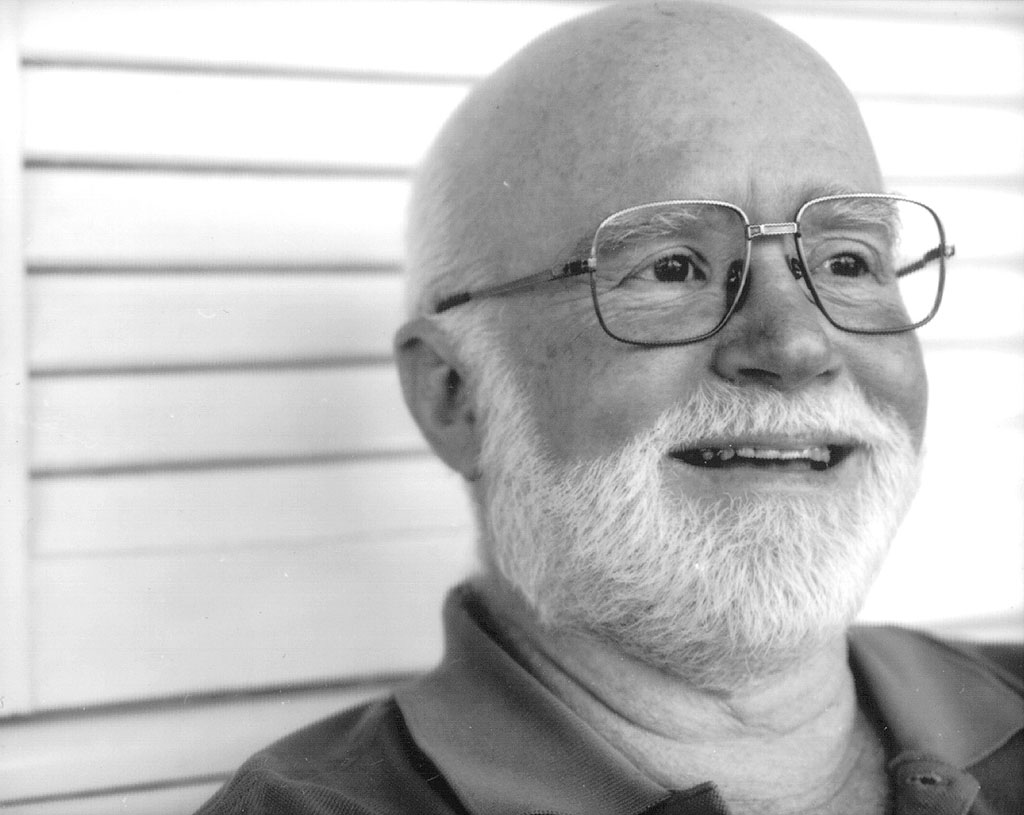Nem mesmo a lembrança das “gomorras incendiadas” de Jorge de Lima aliviou o desalento de Vera, na viagem de volta dos escombros da UNE para Copacabana. “Venho de mãos cruéis, maios sem lírios, embora estejamos em abril, e perseguida de espadas e de gritos”, respondeu, desanimada, a rechear a frase com palavras do poeta. Caminhavam pelas ruas tomadas pelo “lixo cívico”, como Maurício denominou aquela imundície de papéis picados, restos de confete e serpentina, tocos de vela, santinhos variados, esse cenário de xepa, de fim de feira, que sempre ocorre quando se juntam procissão e carnaval. Anoitecia. Ela procurava a chave na bolsa a tiracolo e se assustou ao enxergar o pai no senhor calvo que se aproximava a correr. O velho suava, asfixiado pela gravata inoportuna, e parecia ter escapado a um ataque de bandidos. “É mais ou menos isso, minha filha; escapei da morte, acho!”, desabafou, ao se livrar do traje, agora em relativa segurança, espichado no conforto da bergère. Por curiosidade jornalística, Maurício lhe pedia calma e detalhes da tal aventura. “Ele é um amigo meu, pai; repórter do Jornal do Brasil”, esclareceu, diante da desconfiança do velho.
Tito Lívio bebeu o copo d’água com a sofreguidão de sergipano de Pedra Mole: “Então você é repórter do Jornal do Brasil… isso é bom, isso é bom. Olhe… Maurício, não sei se você sabe mas sou… tá certo, é isso. Então, como vários amigos me telefonaram para dizer que eu seria preso, achei melhor me entregar…”. O velho agitava-se, a reviver aflição tão recente. “Mas o tal sujeito estava sendo torturado pelo próprio comandante do Forte, doutor Tito?”, perguntou o repórter. “Olhe, uma coisa é certa, ninguém grita daquele jeito se não estiver sofrendo tortura braba. Eram gritos horrorosos! Vi o general abrir a porta, chamar o ordenança, que correu e voltou com três soldados. Os quatro carregaram o rapaz pra enfermaria: ele se debatia e gritava, uma coisa penosa de se ver. Aí, peguei a malinha e saí do Forte. Se fui por conta própria, também posso desistir de me entregar”. Vera acendia um cigarro atrás do outro, indignada, furiosa. “Eles não iam ter coragem de torturar Tito Lívio de Sant’Anna!”, explodiu, ao que o pai replicou: “Ah, minha filha, nunca se sabe, nunca se sabe. Você não imagina como encontrei pela vida afora uns simples tenentes que eram verdadeiras feras, verdadeiros monstros. E se um tenente pode ser tão metido a besta, avalie um general golpista. Esses sujeitos se acham os donos do Brasil!”.
Maurício anunciou que estava na hora de ir ao jornal, para ajudar nas páginas de cobertura da Marcha da Família; recolhera imagens e ruídos que poderiam ser transformados em matéria jornalística, mais o rescaldo do incêndio da UNE. Estava tudo na memória e nuns lembretes rabiscados. Disse a Tito Lívio que falaria com a chefia sobre a tortura no Forte de Copacabana e escutou: “Uma coisa precisa ficar clara, esse menino; eu não vi o general em ação; mas acho difícil não ter havido violência, e muita, contra aquele rapaz. Ora, eu, velho sertanejo nascido em terra de machos, sei o que dá medo num homem…”. Maurício sabia a quem recorrer; antes de falar com Carlos Lemos ou mesmo Alberto Dines sobre a quase certeza daquele homem decente porém assustado, iria procurar André, íntimo do comandante do Forte. Pegou o ônibus para o centro da cidade com o pensamento nas palavras de Tito Lívio, trouxe-as pelas ruas ainda tomadas por soldados e carros de combate, levou-as à Redação apinhada e agitada.
André Burnier tomava café às gargalhadas, provocadas por alguma história do editor do Caderno B, Nonato Masson, e respondeu ao gesto do amigo, que o chamava. Escolheram mesa atrás dos arquivos do Departamento de Pesquisa, único local razoavelmente sossegado àquela hora. “Isso é impossível, o comandante não iria torturar ninguém”, garantiu André, com a autoridade do repórter de polícia que conhece bem suas fontes; “pode acreditar, o general é de boa paz, o negócio dele é mulher; o cara só pensa em mulher!”. Maurício ponderou que Tito Lívio de Sant’Anna era homem sério, estava assustado e sua denúncia precisava ser investigada, ao que o outro observou, com propriedade: “E o amigo tá afim de xeretar lá no Forte? Então vá, porque eu te digo que não sou macho pra perguntar se o comandante andou metendo o cacete em alguém… e tem uma coisa: se ele ou outro milico baixou o pau num comunista qualquer, não vai querer que o cara se foda lá no quartel! Conheço aquilo tudo, eles não têm nem cafiaspirina na porra duma salinha de merda que chamam de ambulatório”.
Foi esse argumento que levou o sargento Dionísio de volta ao gabinete do comandante, onde chegou sobressaltado, pois o preso não parava de gritar; não queria se envolver em nada daquilo, por mais dedicado, por mais profissional que tivesse sido a vida inteira. Fora ele quem havia falsificado a assinatura de Timbó no documento, no convite-intimação, a pedido… não, a pedido uma ova, por ordem do chefe. Se acontecesse alguma coisa ao tal Rômulo o comandante iria assumir a responsabilidade? Dionísio não contava com isso; quem era do subúrbio de Maria da Graça e vivera na merda a vida inteira tinha todas as chances de se foder sozinho, como sempre acontece com a parte mais fraca, é ou não é? O zelador do prédio conversara com ele, poderia reconhecê-lo facilmente. “Olhe, comandante, o rapaz não pára de gritar, o senhor não tá escutando? Demos uma injeção de Buscopan, porque ele mesmo pediu, mas está cada vez pior! O senhor não acha que ele devia ir prum hospital?”, sugeriu o sargento. Timbó, que em momento algum deixara de ouvir o clamor do convidado-intimado, concordou; crise renal era mesmo foda! Agora mesmo o Jair Dantas Ribeiro não estava internado com uma porra dessas? Não pudera defender e nem mesmo acompanhar a derrocada do governo escroto que ajudara a manter. “Levem pro Hospital da Lagoa, que é mais perto, mas cuidem de manter vigilância durante as 24 horas do dia, pra evitar qualquer tentativa de fuga, tá entendendo?!”, ordenou.
O sargento tomou as providências. Imobilizado na padiola, agora a gemer baixinho, inteiramente ensopado de suor, Rômulo foi mais ou menos ajeitado na traseira de um jipe, cujo motorista o reconheceu: “Êpa!, conheço esse cara, sargento! Fui eu que transportei ele e a mãe, de Ipanema pro Colégio Mallet Soares… o que aconteceu com ele?!”. Dionísio ficou arrasado; pronto, mais um pra lhe foder a vida, se o cara morresse. Respondeu que ele sofria dos rins, estava conversando com o comandante, aconteceu a crise… Solidário, o soldado ajudou a amarrar a padiola por sobre os bancos do jipe, Dionísio sentou-se a seu lado e o soldado a quem caberia vigiar o doente acomodou-se na traseira. “Toca pro Hospital da Lagoa!”, ordenou o sargento. A trepidação dos pneus no asfalto irregular e o balanço nas curvas, mais o vento fresco que circulava, aliviaram um pouco as dores e Rômulo lembrava-se da proposta do comandante. Como poderia entregar a irmã mais nova, uma criança, àquele filho da puta? Porém, até afastou do pensamento o que poderia sofrer nas mãos do degenerado, se não o atendesse.
O trânsito confuso, ainda mais prejudicado pela falta de luz elétrica em Ipanema, atrasava a viagem. Os soldados reclamavam. As dores ameaçavam voltar. Precisava relaxar os músculos, a tensão só piorava seu estado. Era impossível falar com Mariângela sobre um assunto desses. Era uma criança em corpo de mulher feita, mas uma criança. Inocente. Virgem. O que iria pensar do irmão que tanto amava? Era Rominho pra cá, Rominho pra lá… A menos que lhe contasse as ameaças do comandante, o inferno de vida que aguardava a família e lhe pedisse para dizer não. Para acalmar o monstro, lhe apresentaria a irmã; ela simplesmente se negaria a entregar-se. O irmão faria sua parte e pronto, o resto era com o desgraçado e a menina. Rominho não iria agarrar a irmã para o depravado a estuprar!!! O motorista do jipe gritou com alguém: “Tira essa porra do caminho, caralho, puta que pariu! Não tá vendo que é carro do Exército, seu merda?!”. Estavam chegando ao Hospital da Lagoa. Ele escutou a voz enérgica, porém educada, do sargento: “É uma emergência, minha senhora! Tenho aqui um doente grave que precisa de um médico”. Os dois soldados desamarraram a padiola, conduziram o doente por corredores mal iluminados. Alguém falou: “Bota ele na maca; Alfredo, ô Alfredo! Ajuda aqui, por favor!”. Agarrado pelos braços e pernas, sentiu a reação do rim e se preparou para sofrer um pouco mais.
Aquilo estava insuportável, era uma das piores crises de sua vida. Agarrava-se com força ao colchonete. A enfermeira aproximou-se, passou a mão em seu braço, pediu com voz macia que soltasse a mão direita e tentasse relaxar; Rômulo obedeceu. Ela aplicou-lhe uma injeção e, num segundo, ele identificou a droga, ao sentir-se no outeiro do incenso e leve brisa lhe trouxesse jardins à rede armada. Era morfina, o fim de todos os males, de todas as tristezas. A enfermeira aproximou-se: “Já está melhor, não está?”, perguntou, com macio e solfejado sotaque nordestino. A primeira vez em que havia experimentado tal lenitivo, ainda adolescente, num hospital paulistano, foi tanta a euforia provocada pela injeção, e tamanha a sua curiosidade, que o médico abortou a conversa: “Isso é uma droga muito perigosa, não é coisa pra meninos”, disse-lhe. Em casa, instado, o pai repetiu: “É perigosíssima; é a tal da morfina. Vicia, viciou muitos soldados feridos na guerra mundial”. Procurou informar-se, em dicionários e enciclopédias que consultava na biblioteca do Colégio São Luís, onde estudava, todavia foi em casa mesmo que reencontrou a droga, quando a mãe comprou O Monstro e Outros Contos, de seu autor preferido, Humberto de Campos. Morfina, intitulava-se uma das histórias que o rapaz devorou e que o deixaria entre fascinado e espavorido pelos anos afora; tanto que, depois da falência e mudança da família para o Rio de Janeiro, um dos primeiros passeios desse agora desafortunado foi à Estrada Velha da Tijuca, à procura da Casa de Saúde Santa Genoveva, cenário da tragédia descrita pelo escritor, e onde encontrou apenas miséria, solidão e decrepitude, males nascidos da própria vida nem sempre negligenciada ou viciosa.
A partir de então, quando lhe sobrevinham as crises renais, ansiava e temia o tratamento, sempre que o Buscopan fracassava. Nunca precisou de cirurgia; a droga provocava relaxamento absoluto, ele bebia litros e litros d’água e urinava pequeninos cristais de ácido úrico que o organismo produzia sem parar. Somente uma dieta severa resolveria o problema, diziam os médicos, porém Rômulo resistia; afinal, se as dores eram de alucinar, a injeção de morfina providenciava aquele raro encontro com a felicidade. Como acontecera agora; até o medo do comandante esvaíra-se e ele, alegre, já passeava pela enfermaria, a puxar conversa com os internos. A enfermeira aproximou-se: “Já está bom? Tem um soldado aí na porta, esperando você se recuperar… Aliás, o que você andou fazendo, rapaz?”. O outro aquietou-se; voltou ao leito, contou-lhe sobre a prisão e a crise durante o interrogatório. Ela se chegou, interessada e apreensiva; baixou a voz: “Ninguém está livre…meu marido, que é um jornalista conhecido, diretor do Diário de S. Paulo, assessor do diretor-geral dos Correios, amigo de Assis Chateaubriand, também foi preso, está na Vila Militar”; e completou, talvez orgulhosa: “Você não conhece o meu marido? O nome dele é Léo Guanabara”.
Foi como se Rômulo voltasse repentinamente à sala de torturas do comandante Timbó. Recostou-se, fechou os olhos, deixou-se arriar sobre o leito. A enfermeira perguntou se estava sentindo alguma coisa, ele não respondeu. A angústia tomava o lugar da euforia. Sabia que era impossível escapar, mesmo se fugisse à vigilância do soldado e procurasse refúgio no subúrbio, na casa dalgum colega da Cisper; restariam a mãe e a irmã, sozinhas, à mercê do general vanglorioso e lascivo, cuja autoridade escouceava do outro lado da rua onde moravam. Via-se preso, ao lado do marido da enfermeira, só que este era famoso, diretor de jornal, amigo de Chateaubriand; ele, apenas um escriturário de merda, acusado de comunista e filho de comunista que roubou o próprio partidão. Se havia um sujeito fodido ali naquele hospital, este era Rômulo Colares de Souza. Começou a chorar. A enfermeira perguntou se eram as dores, ele disse que sim; pelo menos teria mais um pouco de morfina, embora desejasse morrer duma vez. A enfermeira aplicou-lhe a injeção e lhe disse: “Agora, você vai dormir, você precisa dormir; quando acordar, se eu não estiver por aqui, peça pra chamarem Terezinha. Terezinha Guanabara. Diga Guanabara, porque tem outra Terezinha que também é enfermeira, viu?”.
Rômulo não dormiu o sono de que o dilacerado organismo necessitava, pois se existe droga capaz de transformar em alegria a dor mais pervicaz, não se inventou ainda o remédio contra o medo. Dormir seria, sem dúvida, cevar-se para despertar no pasto do general. Léo Guanabara. Lembrava-se deste nome. Onde o escutara? Nas ondas de enlevo que a droga incitava, de repente lhe chegou a figura do ordenança à porta do averno no qual Timbó atormentava-o: “Desculpe, comandante, mas ligaram da Vila Militar perguntando se os presos Dagoberto Rodrigues e Léo Guanabara podem vir hoje de noite”. Rômulo ergueu-se num sobressalto. Cadê a enfermeira? Pela primeira vez desde a chegada pôde observar a silenciosa agitação do salão enorme e mais iluminado que as churrascarias do subúrbio. Ouviam-se leves gemidos, queixumes; homens, mulheres, crianças, velhos, expunham todas as misérias; suportes com soro junto aos leitos, medicamentos sobre os carrinhos que iam e vinham em meio àquela feira de provações. Um padre curvava-se sobre alguém, como se lhe encomendasse a alma; à extrema esquerda do salão, cabos de aço, quase imperceptíveis àquela distância, erguiam pernas, tracionavam pescoços, numa visão asséptica do inferno.
Rômulo acionou o comutador, todavia ninguém se aproximou. Ele acenou para os enfermeiros e enfermeiras que circulavam, aparentemente ociosos. Olhavam-no sem nenhum interesse ou curiosidade. Ele então levantou-se e, arqueado entre os leitos, na tentativa de escapar à vigilância apercebida do soldado, foi ao encontro de um senhor gordo, de uniforme encardido, que trazia engravatado o estetoscópio: “Por favor, chame Terezinha Guanabara”, pediu. O gordo olhou-o, sem mínima comiseração: “Por que a Terezinha? É só ela que serve?”, respondeu, com muxoxos de baitola. “É sim, somente ela. Por favor. É urgente…”, insistiu. A exibir mágoa atroz, o gordo levantou-se num arranco caricato: “O senhor vá pro seu leito, é proibido circular sem autorização; vou chamar a Terezinha”. E saiu, numa espalhafatosa rabiçaca. Rômulo imaginou que, noutras e distantes circunstâncias, poderia mandar espancar até a morte a bichona escrota, o filho da puta nojento. Esgueirou-se de volta e esperou.
O puto, o xibungo não fora procurar a enfermeira, pensava, quando ela apareceu à porta e caminhou apressadamente em sua direção. Desligou o comutador: “O que aconteceu? Saí daqui não faz nem dez minutos…”. Agarrou o braço de Terezinha: “Teu marido, Léo Guanabara, vai ser transferido para o Forte de Copacabana”.