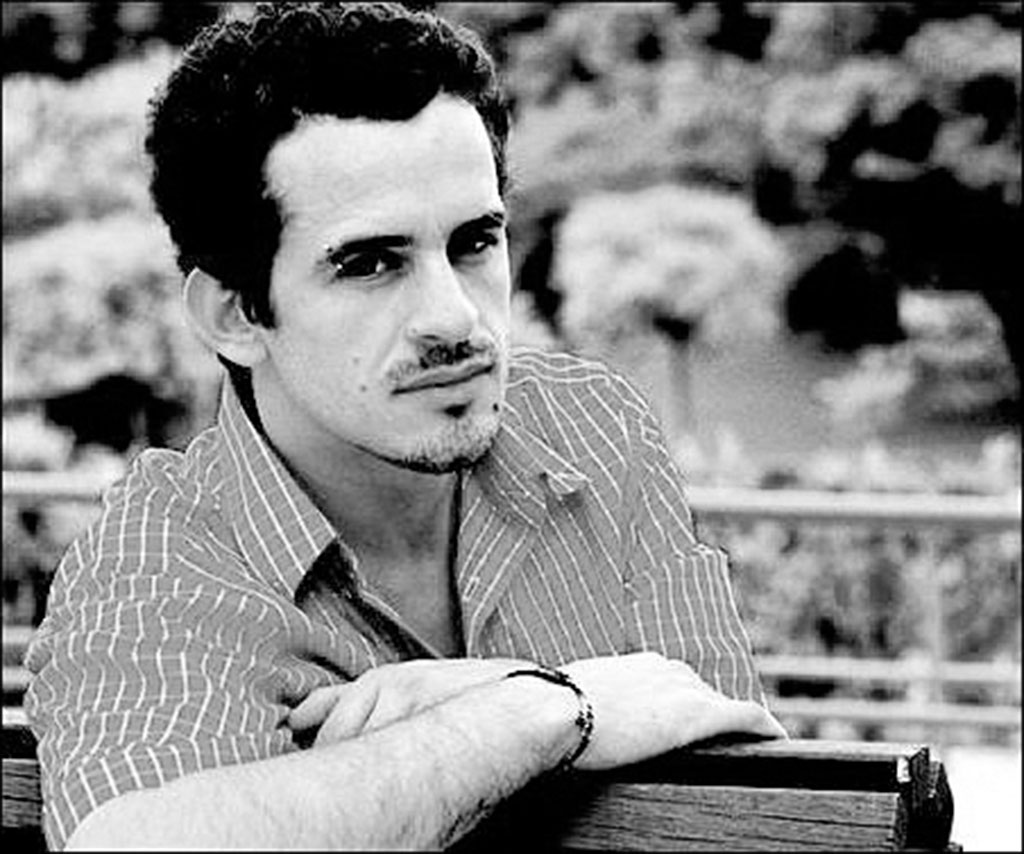Era julho. Era o coração e o sol e o centro do verão. Ele tinha o mesmo nome do pai. Quando as pessoas os viam juntos, ele deixava de existir porque, nesses momentos, o nome pertencia exclusivamente ao pai. Ele chamava-se Josué. Naqueles dias, ele tinha nove anos. Durante o outono, o inverno e a primavera tinha andado na terceira classe. Tinha feito redacções e ditados. A professora tinha óculos grossos, dava as aulas com uma cana nos dedos de anéis e dizia que ele era bom aluno. Depois do último dia de escola, o pai atravessou o recreio, subiu as escadas de pedra e, antes de entrar no gabinete da professora, segurou a boina nas mãos e pediu licença. A professora falava com a maneira das pessoas de Lisboa e, sentada atrás da secretária, numa cadeira que girava, disse-lhe que Josué era bom aluno. O pai saiu da escola, atravessou a vila e, quando entrou em casa, teve pena. O filho tinha arrumado a cozinha. As canecas do café estavam lavadas e escorriam água sobre o mármore do lava-loiça. O filho olhou o pai por cima do ombro. Sorriu. Nas suas mãos, os talheres passavam por um pano e caíam com o som de garfos, lavados e limpos, entre os outros talheres da gaveta. Nessa tarde, ouviu as palavras simples que o pai escolheu para dizer que gostava muito dele.
Era julho. Josué achava que julho e agosto eram meses mais longos porque ele era uma criança e sentia o vagar do tempo a passar pelas ruas. Lembrava-se ainda de outros meses. Lembrava-se das gotas grossas que caíam quando, no ínicio da noite, regressava da escola e ficava à espera do pai. Às vezes, pensava nestas coisas quando ia ao lado do pai no reboque do tractor. No início da manhã, o ar tocava de nitidez os objectos, as casas e os rostos. Josué esperava que o pai fechasse a porta antes de seguirem os dois pela rua. Chegavam ao pé dos homens que estavam encostados à parede. O pai dizia uma palavra, era como se essa palavra fosse feita de terra, e encostavam-se também. Os homens apoiavam um pé no pneu e subiam para o reboque do tractor. Josué levantava os braços e o pai, de braços esticados, erguia-o no ar. Vistos das pedras que alguém tinha passado dias para organizar no chão, o rosto de Josué, o rosto do pai, os braços agarrados e o céu. Sentados em fardos de palha, faziam o caminho até ao campo em silêncio. O mesmo vento que passava pelos rostos, como árvores, dos homens era o vento que passava pelo rosto do rapaz. Quando desciam sobre a terra, havia sobreiros. O pai tinha o machado na mão e começava a subir a um sobreiro que conhecia de outros verões da sua vida. Josué procurava uma saca e, por baixo das copas agitadas dos sobreiros, ia enchendo-a de pedaços de cortiça. Quando os homens arrancavam uma prancha de cortiça, tinham cuidado para que não caísse em cima de Josué. O pai afastava as pernadas do sobreiro para conseguir segui-lo com o olhar.
Depois de almoçarem, sentados sobre a terra mais fresca das sombras, depois de muitas horas da tarde, o pai dizia-lhe que podia ir à pequena barragem que existe depois do cabeço. Ele sabia que devia voltar antes de os homens descerem das árvores, sabia que ia voltar a subir ao reboque do tractor e sabia que iria sentir o fim do sol na pele ainda fresca e húmida. Nessa tarde, a barragem, como uma superfície de brilho, estava diante dele quando se sentou no chão e descalçou as botas. Tirou as meias e guardou-as dentro das botas. A transparência da água foi fresca quando recebeu os seus primeiros passos. No momento em que se baixou para mergulhar os ombros, ficou rodeado por uma nuvem de pó a boiar e a afundar-se lentamente. Nadou por baixo de um sobreiro que se inclinava sobre a água. Sentiu os seus braços a atravessarem a água. Sentiu o seu corpo apoiado naquela frescura que curava as feridas da terra e do sol. Os homens acertavam com os machados nos sobreiros e arrancavam-lhes pranchas de cortiça como se lhes arrancassem a pele. O tronco das árvores ficava mais claro, ficava liso e tinha pequenas gotas de água. Quando o pai passava a palma da mão por esses troncos, fechava os olhos, recolhia algumas gotas de água e passava-as pelo rosto. Nessa tarde, de repente, como um lençol, pousou uma camada fina de céu sobre os campos. Ninguém conseguiu distinguir esse momento exacto; no entanto, toda a gente soube ver que a terra ficou mais fresca, os pássaros apareceram, o vulto luminoso da lua tornou-se nítido no céu. Foi depois desse momento invisível que se ouviram vozes e que os homens começaram, ao mesmo tempo, a descer dos sobreiros e, ao mesmo tempo, a tocar a terra com as botas. O pai lançou olhares bruscos em volta. Naquela tarde, Josué ainda não tinha voltado. E lançou-se a subir o cabeço. O seu coração adivinhava. Os seus pés encontravam lugar entre os torrões grossos de terra. O seu coração adivinhava. E foi lento e foi rápido. No cimo do cabeço, o sol acertou-lhe cansado no rosto quando viu as costas de Josué a boiarem na pequena barragem. Desceu a correr, como se caísse. Houve homens que, à distância, sentiram um pouco do seu desespero e que começaram a correr também. Quando chegaram ao cimo do cabeço, viram o pai abraçado ao corpo afogado e morto de Josué.
Foi sobre ele que a professora falou no primeiro dia de escola. Começou a falar dele, de como ele era bom aluno, bem comportado, e de como era uma pena que tivesse desaparecido assim. Depois, pediu um minuto de silêncio que foi contado pelo ponteiro dos segundos no relógio que estava por cima da sua secretária. O silêncio. Nos olhares das crianças estava o reflexo infantil de todos os olhares que, durante o verão, cruzaram a vila no momento em que se falava de Josué ou do seu pai. Quando o ponteiro dos segundos cruzou o ponto de onde tinha começado, ouviu-se de novo o som dos rapazes a respirar. As palavras da professora assentaram sobre o silêncio. O seu olhar, que tinha sido uma névoa sobre as cabeças, apontou na minha direcção. Tocava-me como um olhar de vidro. Repetiu que ele era um bom aluno, bem comportado, e que era uma pena que ele tivesse desaparecido assim. Cada uma dessas palavras foi dita num olhar que me envolvia. Esse olhar abria portas dentro de mim. Esse olhar caminhava dentro de mim, arrastando o meu próprio olhar consigo. Foi assim que me vi, de novo, naquela tarde. No cimo do cabeço, o corpo do meu pai a aparecer lentamente. O meu pai a correr sobre nós, o seu rosto, o seu rosto, o seu rosto, no momento em que desisti de tentar puxar o corpo do meu irmão para a margem. Estava preso entre limos que lhe cobriam as pernas de fios verdes. Quando começou a chamar, nadei na sua direcção. Vi que engolia água, vi que agitava os braços, agitava a água, mas não saía de onde estava. Nadei na sua direcção. Levantava a cabeça e voltava a afundá-la. Quando cheguei junto dele, agarrei-o pelo braço, agarrei-o pelo braço, as minhas unhas rasgaram-lhe vergões vermelhos na pele. E senti os movimentos do seu braço. Com a cabeça debaixo de água, pareceu-me ouvir a sua voz uma última vez. O meu pai entrou todo vestido dentro de água. Nadou até ao corpo de Josué e, com um só puxão, libertou-o dos limos. Nadou com ele até ficarem com água pelos joelhos. Abraçou-o e começou a chorar. Ao mesmo tempo em que alguns homens desciam o cabeço a correr, eu nadava devagar na direcção da margem. Os homens envolveram o meu pai e o corpo de Josué. Ao lado, eu levantava-me da água. O meu corpo de doze anos dava pequenos passos para sair da água. Como um bando de corvos, na sua confusão, os homens levaram o meu pai e o corpo do meu irmão pelo cabeço acima. Eu, parado sobre o meu próprio corpo, vesti-me lentamente. A camisa de pó sobre a pele molhada. Os cabelos a pingarem água. A minha mão a passar pelos cabelos molhados. Aproximei-me das roupas de Josué. As meias enroladas e guardadas dentro das botas.
Antes, todo esse dia de julho. Quando o meu pai me abanou os ombros e me acordou, distingui os contornos de Josué, pronto e à espera. Levantei-me, vesti a roupa do trabalho e, quando saí pela porta do quarto, já eles estavam a abrir a porta da rua. Atravessei a cozinha em dois passos e saí. Eu sentia que aquela manhã era como a memória que eu tinha das outras manhãs de julho. Era a manhã de um dia que iria ser muito quente. Eu iria passar esse dia a trabalhar e, antes da noite, voltava para casa no reboque do tractor. Eu acreditava que, no dia seguinte, iria lembrar-me assim daquela manhã porque era assim que me lembrava das manhãs anteriores. Enquanto o meu pai puxava o meu irmão, subi por um pneu e subi para dentro do reboque. Esperei que começassem a cair pranchas e comecei a empilhá-las num monte. À tarde, chegariam tractores e eu subiria nos reboques para receber as pranchas de cortiça que iriam ser lançadas em movimentos curvos no ar. Quando abalou o último tractor carregado, o meu pai, no cimo de um sobreiro, sem olhar para mim, disse ao Josué que podia ir à pequena barragem que existe depois do cabeço. Eu sabia que essas palavras me autorizavam a ir também. Subimos e descemos o cabeço sem dizer uma palavra mas com a mesma disposição dos momentos em que nos entusiasmávamos a contar coisas um ao outro. Entrámos dentro de água. Eu nadava e ele nadava. Havia ocasiões em que não o considerava como um irmão mais novo. Havia ocasiões, em que o rosto de Josué era o rosto de um homem adulto, a sua mágoa, a sua seriedade, mais velho do que eu. Eu nadava e ele nadava. Apenas isso que nunca consegui explicar ao rosto do meu pai, ou ao rosto das pessoas da rua, ou dos rapazes que brincavam connosco. No primeiro dia de escola, enquanto a professora dizia o nome do meu irmão, Josué, que era, ao mesmo tempo, o nome do meu pai, Josué, eu era o aluno mais velho da quarta classe e eu era o momento invisível em que uma camada fina de céu pousou sobre os campos e sobre a barragem. Eu estava contigo, Josué, no último dia de todos os verões.