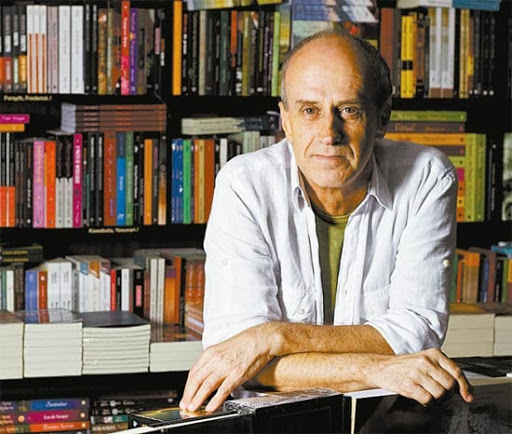Os monólogos à beira dos túmulos de meus amigos estão ficando enfadonhos — provocam-me aborrecimentos. Sobrevivi a todos eles agora dispersos recolhidos em sepulturas; mortos; meus antigos interlocutores vivem no mundo invisível dos mortos; puseram-se em debandada. Fiquei só. Nada-ninguém para reacender diálogos pretéritos. Conluio: morreram antes. Dispersão in totum. Sinto-me culpado: ainda estou vivo. Não suporto tantos despojos. A ida me aterroriza; o medo é maior que a solidão; inquieta-me a possibilidade de passar por essa experiência íntima subjetiva a que chamamos morte. Tenho medo. Meus amigos me ajudavam a realizar o desejo nietzschiano de contemplar a existência com múltiplos olhos, senti-la com múltiplos corações; criá-la com múltiplas mãos. Fiquei só. Escombros de mim mesmo; vagão abandonado sobre dormentes contorcidos numa estação desativada. Vivo agora no istmo entre a solidão e a morte. Ao lado deles amigos a vida existia em sua plenitude. Amizade é invólucro que resguarda o espírito. Completamente dentro dos limites do possível; contrário ao bom-senso é querer viver muito sem perder a proporção harmoniosa do quantum-comunhão espiritual. Lei malthusiana: vivi numa progressão geométrica; eles, num progredir aritmético. Viveram pouco: não tiveram a posse da pedra filosofal. Sei que não há mais nem uma partícula dessas figuras fraternas; ficaram apenas as sombras da retrospecção. Envelhecer é impregnar-se de evocações; minhas lembranças estão em paralelo com aquele pedaço da vestimenta de João Evangelista que ao ser furado jorrou sangue.
Minutos atrás, fazendo a barba — sempre faço a barba nas manhãs em que visito os túmulos dos amigos — trouxe à memória última fala dele inseparável Maestro; ao se despedir, disse-me, irônico: Impossível perder da memória o mestre de Platão. Sim: refiro-me àquele momento em que o juiz disse que Sócrates estava condenado a morte; este, estóico, observou: O senhor também. Amigo Maestro era cego; nasceu tateando nas trevas. Morreu oito anos atrás. Hoje decidi contar que sua viúva casou-se com outro. Há dez anos vivo neste quarto-caverna feito Zaratustra à espera de iluminação. Vou contar. Direi alto e bom som diante do túmulo dele: Ela casou-se com outro dois meses depois que você morreu.
Não consigo esquecer meus amigos; nunca; minhas recordações têm a mesma natureza de Eros: morrem e revivem num mesmo dia. Amnésico ao contrário; também sofro por não poder esquecer — tal qual personagem borgeano. A amizade é similar ao Belo: se revela em si mesma, por si mesma. Ela é o óleo e mel da cura eterna da solidão. Quando todos os nossos amigos morrem apenas fingimos que estamos vivendo. Os confucionistas diriam que a autodisciplina permite aguardar serenamente a morte.
Trajetória de vida dele Maestro foi quase exemplar: se formou em música numa universidade americana; existência quase toda dedicada aos arranjos e composições. Nunca disfarçou suas angústias primum móbile da cegueira congênita; ainda que seu desejo compulsivo de produzir, deitava poeira nos olhos da insistente assiduidade da melancolia. Trabalho excessivo o ajudava a arrefecer os apetites, os arroubos de cólera, outras perturbações da alma. Melancólico estóico — se posso criar cognição natural entre aquele adjetivo, este substantivo. Nasceu cego; vida toda sem participar de um único amanhecer; não ficou desde pequeno à espera da cegueira feito o autor de Aleph; tampouco imitou a punição voluntária edipiana; menos ainda a cegueira auto-imposta de Demócrito — modo de não precisar mais olhar o mundo. Ele amigo Maestro nos disse mais de uma vez que achava irônico o mundo ter sido criado pela palavra luz. Era sábio. Ou melhor: sereno; serenidade talvez seja o anverso da sabedoria. Sei que fará ouvidos moucos; seja como for direi que sua viúva casou-se ato contínuo com outro. Curioso recordar num átimo exemplo dessa aspiração a que o filósofo de Avignon designa pelo nome de desejo mimético: um homem, cuja mulher eu cobiço, por exemplo, teria talvez, com o tempo, deixado de desejá-la. O seu desejo estava morto, e ao tomar conhecimento dela minha contemplação voluptuosa, que está viva, renasce.
Falar sobre amigos mortos é praticar teogonia profana; é recriar fábulas verdadeiras. Esta solidão primum móbile da perda de todos os meus interlocutores pretéritos é prova inconteste de que não sou da família de Noé: não fui poupado deste dilúvio a que chamamos melancolia. Saudade. Ao lado deles me sentia Ciro conquistando Babilônia. Agora os recordo como se fossem meus antigos aedos.
Cristo: Eis que vem a hora, e ela já chegou, em que sereis dispersados — cada qual para seu lado, e me deixareis sozinho.
Certa vez perguntei de chofre: Deus? Que diabo é isso? Amigo Maestro respondeu incontinenti: Vou deixar que Eric Voegelin responda por mim: O Deus que é declarado morto está vivo o bastante para ter mantido seus agentes funerários nervosamente atarefados já por três séculos.
Meus amigos não deixaram rastos nem vestígios. Sou Atlântida sendo engolido pelo mar. Meus cantos fúnebres também passaram a limitar-se a um único refrão, a este melancólico refrão, de nunca — nunca mais. Agora sou Aquiles enterrando os amigos com lamentos selvagens. Subjugado pelas minhas lembranças, vivo apenas a imagem da vida — e não a própria vida.
Ele amigo Maestro dizia repetidas, sucessivas, inúmeras vezes que quando se sentia desatualizado sobre os acontecimentos do mundo relia a República de Platão. Moía remoía ad nauseam — a propósito de meu irremediável niilismo — que o ruim de quem não gosta nada-nada da vida é que raramente encontra interlocutor à altura. Era cruel com a própria persona: No momento de absoluta solidão percebo que não sou boa companhia nem para mim mesmo.
À semelhança da doutrina plotiniana do Uno, o afeto transborda e seu excesso produz algo diverso dele mesmo cujo nome é amizade.
Achava interessante quando ele amigo Maestro dizia — sem maiores explicações — que aqueles que nascem cegos conhecem de modo natural os mistérios de Elêusis. Foi através de sua voz de barítono que ouvi pela primeira vez a palavra hipóstase: A felicidade é uma hipóstase — afirmava irônico: tinha plena consciência de que quase ninguém sabia que estava se referindo a certa abstração falsamente considerada como real.
Meu amor pelos amigos assemelhava-se à paixão de Santo Agostinho pela Verdade. Foram cada um — à sua maneira — sábios supervisores da harmonia do meu mundo particular. Ao lado deles me sentia utopicamente capaz de apreender o sublime e o eterno. Éramos praticantes convictos do Kalam — a arte de discutir. Agora estou só. Estóico enfrentando-se em seu último transe. Impossível acreditar na possibilidade da desventura ser útil aos homens. Desprovido de poderes órficos minhas melodias não fazem regressar os mortos.
Na oportunidade em que algum amigo admitia o próprio erro ele Maestro lançava mão de seu habitual adágio: O exercício do livre arbítrio traz consigo o risco do pecado. Hoje penso que ele praticava — talvez por causa da cegueira congênita — uma ascese realmente rigorosa. Possuía uma fé com argumentos — ao contrário da fé dos ignorantes de que nos falou Averróis.
Quando perdemos todos os amigos entramos ato contínuo para a família dos esmolambados Dedalus — cuja desintegração é absoluta. A amizade me ajudou a sobreviver a muitas vicissitudes. Estou só. Agora sou Ixíon: preso a uma roda da recordação que gira sem parar.
Maestro era colecionador de histórias encantadoras da literatura universal; foi ele quem nos contou pela primeira vez que depois de publicada a primeira parte do Dom Quixote, apareceu na Espanha uma suposta continuação das aventuras do cavaleiro errante, assinada por Fernandez de Avellaneda; quando Cervantes escreveu a segunda parte, jogou com elementos tirados do romance apócrifo, fazendo o próprio Dom Quixote verdadeiro dizer: Esse sujeito escreveu que eu estive nas justas de Saragoza? Pois bem: não irei a Saragoza, só para demonstrar que ele é um escritor mentiroso.
Estou só. Preciso enfrentar sem mais ilusões o destino que me coube — feito Ovídio em seu exílio. Na minha Ilíada particular, a peste, como um castigo divino, afligiu meu exército matando todos os heróis. Roubaram-me de vez a possibilidade de dialogar com os amigos: entreguei-me in totum aos solilóquios. Possivelmente procuro em vão a fé escondida em meus pensamentos. Estou só. Não devemos ajudar os outros; eles sofrem porque devem pagar por uma culpa — diria alguém que crê na implacável lei do karma.
Amigo Maestro levava à risca missão confucionista de afirmar e erguer cada vez mais alto sua própria humanidade. Sabia que o homem é capaz de aperfeiçoar-se indefinidamente; que pode transcender-se a si mesmo. Muitos exigiram cremação; outros tantos, sepultura. Túmulo dele Maestro é o mais simples de todos; mais abandonado também: até o número da placa ficou ilegível. Lápide estóica feita o próprio dono. Mesmo assim ainda é possível ler o epitáfio que eu mesmo criei para homenageá-lo: A MÚSICA FOI SUA VIA PRINCIPAL; A VIDA, ACOSTAMENTO. Muitas de suas perguntas ficavam sem respostas. Esta foi uma delas: Tudo o que existe tem de ter uma causa. E o que não existe? Minha visão, por exemplo? Pouco tempo atrás ouvi alguém dizer que fomos feitos por um aprendiz de criador de mundos que ainda não dominava a sua arte.
Sei que minha vida agora é solitária, pobre, sórdida e rude — independente da idéia do contrato social sugerido por Sócrates ou Hobbes ou Rousseau. Meus amigos desvaneceram-se em ar rarefeito. Libertaram-se das ilusões da miragem. Diáspora definitiva. Vejo-me de uma hora para outra tal qual Jó despojado de todos os bens. Sei que anjos da fraternidade definiram itinerário de suas almas realizando ascese salvadora. Sei que atingiram o eterno. Sei que tal qual Abraão não nos deixaram lamentos. Nenhum nunca se diminuiu rindo-se de si mesmo. Temos que ver nas relações amigáveis a fonte de toda a possibilidade. Com o tempo, conseguimos harmonizar a relação de cada uma delas com todas as outras. Nunca houve uma hierarquização dos afetos. Amizade é aquele laço sagrado que nos aperta. Meus amigos hoje são mônadas leibnizianas: têm origem em um princípio interno, isto é, minhas lembranças. Para não perder os rumos da rosa dos ventos de Leibniz digo que nossa amizade foi a melhor de todas as amizades possíveis. Sei que Hipócrates não estava certo ao afirmar que as coisas não morrem — simplesmente desaparecem. A amizade ajuda a organizar a dor. Foi a terceira coisa criada por Deus — depois da alma e o corpo. Toda a amizade sincera é eqüilátera. Meus amigos morreram. Todos. Acreditávamos na natureza essencialmente desinteressada da amizade. Agora aqui completamente só — encerrado num perpétuo luto. Sonâmbulo caminhando calmamente para o abismo. Orfeu, impaciente Orfeu enganado pelos deuses recebendo fantasmas em vez de amigos. Ainda não fui esquartejado pelas Mênades. Aristóteles teria sugerido a inexistência de Orfeu. É bom acreditar naquele que, pelas doces tonalidades de sua voz e pelos encantos de sua lira, havia domesticado tigres e leões; parado o curso dos rios mais rápidos; teria conseguido até mesmo fazer dobrar-se o deus dos infernos, suspendendo o tormento dos criminosos do Tártaro. Quando a amizade é verdadeira vive-se tempo todo naquele período axial de que nos falou Jaspers. Sustenta-se numa alternância de relação mestre-discípulo, discípulo-mestre. Entre os amigos vive-se a pax deorum — a paz dos deuses. A amizade sincera é virgiliana: concede o perdão aos vencidos, doma os soberbos. Meus amigos estão todos provavelmente na região bem-aventurada do além. Embora diferentes, éramos todos iguais em capacidade potencial; exatamente porque os padrões básicos diferiam que a semelhança era convergente. Sabíamos que uma pedra grande não cai mais depressa que uma pedra pequena. Parodiando Balzac diria que os amigos são deuses uns para os outros. Somos todos igualmente Zeus — não há deuses médios e menores. Amizade-moira que a todos torna iguais. Não tínhamos aquele problema que Freud chama de origem narcísica da compaixão: fazíamos esforços intermináveis para ajudar um amigo sem sermos alheios ao sofrimento maior de outro — a quem amávamos com a mesma ternura. Estou só. Saudade jorra a cântaros. Sei que esse meu olhar-orfeu para trás não trará de volta meus amigos mortos. Sempre os amei — mas não os ofereceria em holocausto feito Abraão. Sei que nunca procurei no amigo encontrado o amigo inacessível. Sei que não consigo esquecê-los. Pior do que esquecer sempre é não esquecer nunca. A amizade verdadeira dura cem anos; o amor verdadeiro vai perdendo alguns zeros pelo caminho. Não sei mais se tal adágio é de minha autoria ou dele amigo Maestro. Se eu recordar uma observação espirituosa — disse Montaigne — é vantajoso esquecer quem primeiro a proferiu. Nesse caso, parecer-me-á que é minha, o que é útil, pois, como muitas vezes se observa, compreendemos melhor as nossas próprias idéias do que as de outra pessoa. Sei também que posso repetir ad nauseam todos os aforismos confucionistas que não trarei meus amigos de volta. Amizade substantiva é feita de admiração mútua — não chegando ao sobre-exagero de Averróis que considerava Aristóteles o homem mais completo que a natureza já criou. O amigo é aquele que nos acompanha durante a longa jornada que nos leva a nós mesmos; possibilitam-nos a decifrar koans com menos dificuldade. São nossos Ulisses nos fazendo alcançar terras desabitadas. Ao lado deles temos sempre a sensação utópica de que não estamos todos (de jeito nenhum) destinados à morte. Ao lado deles sentimos experimentamos que somos eternos. Sentimo-nos menos estranhos ao mundo. A amizade (teleía filía) é, segundo os gregos antigos, o vínculo mais forte que se pode conceber entre pessoas. Ao lado dos amigos podemos esquecer por alguns momentos que toda a vida humana é constantemente abalada de um lado para o outro, entre a dor e o tédio. Com eles é possível atingir o estágio mais alto daquilo a que Aristóteles chamou de Eudaimonia. Não precisamos procurar enredar uns aos outros em redes verbais. A amizade torna possível ver além das sombras projetadas na parede: um ajuda o outro a sair da caverna; são mônadas que — ao contrário do que imaginava Leibniz — interagem umas com as outras. O amigo ajuda a amenizar nossa culpa cristã nos liberando das expiações. O convívio com eles é um jeito inteligente de esquivar-se por alguns momentos do sofrimento e da frustração da vida — dispensando a solidão e o isolamento. Não devemos louvar apenas a ciência e a tecnologia como aperfeiçoamentos da vida humana — mas também a amizade. Os diálogos amigáveis apenas são verdadeiros quando se transformam em kommos — esse canto lamentoso das tragédias gregas. O amigo nunca deixa outro amigo enterrar sozinho o próprio irmão — à semelhança de Antígona.
Maestro dizia para quem quisesse ouvir que Paganini havia feito um pacto com o diabo — acreditava inclusive que ele tocava com as vísceras da amada assassinada. Quando algum amigo panglossiano tentava entusiasmá-lo sobre a reversibilidade de sua cegueira, ele Maestro ironizava: Mais fácil eu decorar de trás para frente todo o Mahabharata e o Ramayana — ao mesmo tempo. Concluía olhando irônico para seu interlocutor: Você é daquela espécie generosa que age sem esperança de sucesso e desprovida de realismo — um Dom Quixote moderno. Sonho dele amigo Maestro era ter sido organista na catedral de Notre-Dame — em meados do século XII. Nunca entendemos por que exatamente em meados do século XII. Dizia também que Verdi, o mestre dos tempos rápidos, sempre se preocupou em prender a atenção do público. O chato — dizia o autor de Aída — é o pior de todos os estilos. Amigo Maestro vivia dizendo de súbito algo completamente desprovido de contexto — mas sempre muito interessante: Ontem minha mulher leu para mim estes versos de um hino dos índios Pawnee: Ó Céu, ó Terra que entrelaçais os dedos, cumes das montanhas e nuvens passageiras, instilai o vosso amor eterno no lago do nosso coração, celebrai o vosso matrimônio nas pequenas almas dos homens. Ficamos sabendo também através dele que os primeiros instrumentos musicais foram as mãos do homem — em cujas pancadas se encontra a fonte primordial do ritmo. Dizia também: Um cego pode ouvir a música das esferas, o grande ruído dos astros — que segundo o precipitado Pitágoras — audível somente pelos deuses. Enchia-se de orgulho quando esclarecia aos menos eruditos que a expressão supostamente cartesiana Penso, logo existo, já havia aparecido nos escritos de Agostinho 12 séculos antes. Gostava de ironizar Bacon dizendo não ter certeza de que o conhecimento é poder — mas sim que é bom poder ter conhecimento. O deus dele amigo Maestro era Anselmo. Orgulhava-se de surpreender a todos os seus interlocutores com esta afirmação do bispo da Cantuária: Deus faz algo melhor que existir. Morreu garantindo que nunca havia conhecido alguém que conhecesse tal frase antes dele. Quem vivia em desconformidade com o Maestro era nosso outro amigo Doutor: longe de ser o último homem nietzcheniano, afirmava, tal qual Hume, que se os tomos eruditos da escolástica não conseguiam fornecer argumentos sólidos ou boas provas para as crenças religiosas, só restava lançá-los à chama. Mas como os contrários se sucedem, metamorfoseando-se um no outro — havia sempre condescendência mútua. Predisposição conciliadora principalmente dele Maestro, espírito independente, revelando sempre profunda aversão ao fanatismo e aos comportamentos extremados. Era leitor do Marquês de Vauvernagues — autor francês que procurava conciliar o sentimento e a razão. Em nosso campo era possível semear duas espécies diferentes de sementes. Vez em quando amigo Doutor provocava dizendo que esse questionamento inócuo sobre a existência ou não-existência de Deus não o inquietava — preocupava-se sim com a entre aspas excessiva existência da religião. Para ele tudo se dissolvia na derrisão. Sondou o mar sem fundo dos prazeres — tal qual Kierkegaard e Agostinho, antes de suas respectivas conversões. Descendente de espanhóis, insubordinado, independente, poderia também feito Baltasar Gracián ter escrito uma epopéia niilista. Amigo Doutor nunca teve a menor dúvida de que descendemos de uma raça de símios antropomórficos evoluídos. Qualquer cidadão era uma tarefa perfeita para sua ironia. Estava longe muito longe de ser um Gervásio — aquele dos diálogos de Giordano Brunno. Ao contrário de Sófocles, nunca acreditou na importância do homem, sequer na sua grandeza. Dizia que somos todos da raça de Édipo — aquela digna de todas as lágrimas. Apesar de tudo era um pessimista à semelhança de Schopenhauer: tocava flauta; pessimista ad captandum vulgus — para conquistar a plebe. Levou a sério a questão levantada por Teofrasto: o sábio deve se casar? Não. Evitou vida toda ser um asno doméstico. Fugiu, como se diz, da servidão mútua. Dizia que nunca havia encontrado alguém que o amasse feito Heloísa amou Abelardo. Citava ad nauseam trecho de uma carta dela ao amado: Quanto mais me humilhava por ti, mais esperava encontrar graça junto a ti e, humilhando-me assim, não ofuscar em nada o esplendor de tua glória. Havia nele uma inclinação para a tristeza. Não era convenhamos repleto de Sêneca tal qual São Jerônimo — muito pelo contrário: distinguia-se pelo desregramento de costumes. Praticava uma sexualidade lúdica e sem culpa — à semelhança de certas comunidades gnósticas remotas; opção hedonista; esgotava as possibilidades do corpo. Acreditava na tese segundo a qual a purificação efetua-se na devassidão. Possivelmente nunca leu as sátiras de Horácio louvando a moderação e a sobriedade. Condenava às gemônias todos os castos. Não regrava os desejos e as paixões. Sempre soube que o número de estultos e perversos é incomparavelmente maior que aquele dos sábios e justos; conhecia muito bem o desvio que criamos entre aquilo que acreditamos ser e aquilo que realmente somos. Também olhou o mundo com muita suspeita feito Nietzsche. Cantava sempre a mesma cantiga: Não gosto de nada que queira me imprimir sentimento de culpa. Fazia do prazer o soberano bem. Viveu para inquietar os outros; além de intransigente, era também o menos ingênuo de todos: nunca caiu na armadilha da busca dos falsos valores; sabia, por exemplo, que Platão arranjava astutamente, para seus diálogos, interlocutores de inteligência acanhada, azêmolas. Assim como Jesus não escolheu nenhum homem de vasto saber, de sólida cultura para compor sua dúzia de discípulos. Sei que ele amigo Doutor não escreveria odes líricas de louvor à excelência humana. Falava como se possuísse a incorruptível certeza de Nicolau de Cusa. Poderia ter escrito um tratado sobre todas as coisas. Sei que ninguém o enganava com simulacros.
A amizade nos tranqüiliza por instantes dessas principais questões que angustiam in extremis a todos nós: a descoberta da morte e a ansiedade das realizações. Ela resvala-se na maiêutica, dando ao amigo a satisfação de ter encontrado a resposta por si mesmo. Ela dispensa a arte da persuasão. Aquele que nos liga por laços de amizade faz às vezes do dáimon socrático — essa voz que avisa quando há um perigo material ou moral a ser evitado. Os pitagóricos que me perdoem, mas a amizade, esta sim, é a própria essência das coisas. Estou quase morto de tanta solidão. Estou só; afundado na angústia. Príamo sem altiveza. Impossível agora desembaraçar-me da melancolia. Infelizmente, no ápice do desamparo, não consigo estabilizar a alma feito Boécio aquele que, à espera de sua execução, foi consolado pela filosofia. Pensar nos amigos mortos é uma revolta no sentido duplo da palavra. Não consigo aprender tanto abandono. Agora aqui só — incomunicativo in totum. Inútil procurar feito Hölderlin refúgio a Kant quando não se suporta mais viver. Está tudo escuro nela minha vida; sequer uma lucciolla de um único vaga-lume. Sobraram apenas as lembranças que se conservam por si mesmas. Estou num continuum uniforme de melancolia. Ideal seria não aparecer mais à luz do dia — evitar que os outros sussurrem uns com os outros: Veja, aquele é o homem mais solitário do mundo: perdeu os amigos, estão todos mortos. Ao lado deles o tempo possivelmente se estancava no diálogo e no riso e na ironia e na mordacidade — desavenças fogos-fátuos são sauce piquante da amizade. Estou só; ficaram apenas as imprecações lamentosas. Não consigo ultrapassar a fatalidade. Recordações prorrompem a flux. Minha memória é um dragão eternamente insone, imune aos acalantos mágicos de Medéia — cuidando da lembrança dos amigos, meu tosão de ouro. Eles mesmos in propria persona nunca mais. Situação insolúvel: não há Deus ex machina na vida real. Estou só. Não tenho a firmeza do nobre caráter de Polixema diante da adversidade; não sou capaz de sobreviver incólume à catástrofe. Sensação de estar agora no fundo da gruta do Ciclope — sem a astúcia de Ulisses. Meus amigos estão mortos. Saudade deles todos se coloca em paralelo, afinam-se pelo mesmo diapasão mnemônico. Zeus, lançando raios luminosos para a esquerda, deixando aparecer sinais malfazejos. Fui o único que escapou para contar a história — diria aquele narrador de Melville.
Furou os próprios olhos e abandonou Tebas — ele Maestro respondeu certa vez, irônico, para garçonete que havia notado a ausência de um de nossos amigos. Eis um de seus refrões preferidos: O homem tal qual a Natureza ama a dissimulação. Nasceu viveu morreu cego. Outra frase recorrente que pensávamos ser de sua autoria — que não consigo perder da memória: Quanto maior souberem a escuridão, tanto mais verdadeiramente atingem na escuridão a luz invisível. Tempos depois nossa amiga Escritora descobriu o verdadeiro autor: Nicolau de Cusa. Todos os personagens dos meus livros têm final feliz: eles morrem — ela dizia irreverente. Sempre nos convenceu sem nunca querer exercer uma ascendência: os bons amigos dispensam as leis psicológicas da arte de persuadir. Não são tortuosos na argumentação. Amiga Escritora desgarrava-se da trilha comum. Quando escrevo dou o máximo de mim; o leitor nem sempre faz o mesmo quando lê — dizia sarcástica, exercitando sua habitual originalidade. Muitas vezes a própria cegueira dele amigo Maestro nos aborrecia: somos de natureza implacável, intolerante, cruel. Morreram todos — estou completamente só. Escombros de mim mesmo. Possivelmente esta seja a última manhã que falarei aos efésios, que praticarei monólogos inóspitos, sáfaros, diante dos túmulos de meus amigos. Menos dela amiga Escritora que exigiu cremação. Agora estou aqui, isolado, me deixando escorregar na indiferença do que acontece lá fora. Todo homem foi destinado a alguma coisa; eu, à escuridão perpétua — ele amigo Maestro dizia, constrangendo-nos a todos. Mas era homem de fé: possivelmente morreu sabendo que sua desventura era um fragmento que faz parte do plano da Providência. Estou só, concentrando-me em recordações. Não fico um dia sem pensar neles meus amigos. Sabíamos que sem amizade é impossível o conhecimento de si mesmo. Vocês são as luzes dos meus olhos — ele Maestro dizia, nos emocionando in-extenso. Nesses momentos Escritora quebrava o fio do impulso incontido dizendo escarnecedora que mais cedo mais tarde — independentemente das condições ópticas de cada um — vida empurra todos nós espartanos pro desfiladeiro das termópilas. Era epigramática. Sabia fazer um uso apropositado e discreto da técnica do twist ou final inesperado, senão criada, indubitavelmente popularizada pelos contos de O. Henry. Empenhava-se em transferir para o domínio do conto o ideal do multum in parvodo epigrama. Jamais ultrapassava um quantum satis, uma medida razoável da descrição. Sabia também conversar, não apenas falar; dispensava os garganteios infindáveis dos sofistas. Estou só. Zenão dizia que o vácuo não existe. Discordo: ele é real — seu nome é ausência; sim: ausência extrema dos amigos — seres que nos ajudam a ficar no meio-termo justo entre o medo e a temeridade; a praticar afeição recíproca e benevolência mútua. Amizade é a personalização do logos. Agora aqui me confrontando com o abismo profundo da solidão, lutando contra as potências das trevas. Impossível sobreviver a tanta incompletude. Mas ainda não aprendi a morrer. Pitágoras — dizia amigo Maestro — descobriu que as principais consonâncias, oitavas, quartas e quintas, correspondiam às divisões exatas da corda esticada de um arco. Gostaria de ver-viajar entre os mares bálticos e o curso do Danúbio até as costas do Oceano Atlântico — murmurava, subitamente, com aquele olhar desfalecido, de inexistência comovedora. Uma vez ele disse, certificando-se pelo tato o rosto da amiga Escritora: Você não é mais bonita porque não é menos sarcástica. Agora aqui nas profundezas abissais da solidão vivendo sob o signo do desalento; não há fio de Ariadne que me faça sair desta angústia da perda in totum; agora aqui, melancólico, nesse infindável balbucio mnemônico, encolhido diante de todas as impossibilidades; perdi o sentido da vida, estou condenado ao tédio absoluto. Meus amigos estão mortos; longe dos ruídos do mundo. Chamando-os à memória rebobino a própria vida. Não há preces suficientemente agônicas para trazê-los de volta. A amizade não nos permite chegar ao fim do percurso que possivelmente teria seu desfecho na Verdade, mas nos possibilita caminhar de mãos dadas pelas veredas do Incognoscível; quando substanciosa ela amizade é sine ira atque studio, sem ira nem parcialidade; existe para preservar a memória dos oráculos. Agora aqui desolado tormentoso atravessando indizível inquietude; dilacerado entre a lembrança dos que morreram e o medo da própria morte; mesmo sabendo à maneira dos epicuristas que quando estamos aqui ela não está, quando ela chega, já não estamos.