A dona Ana e a morte de chapeuzinho
Lá na vila, há esta sensação de que as pessoas nunca chegaram, mas sempre estiveram. Era como se elas tivessem brotado daquela terra, junto de suas casas, e ali permanecessem para sempre. E aquele povo que construía o cenário da rotina um do outro parecia que nunca iria sair dali, ou mesmo se mudar. Quando a Dona Ana morreu, foi-me um baque. Era uma vizinha que eu jamais conversava, mas que estava ali, aparecendo ao acaso, seguindo os próprios passos que sempre rumavam para a incrível jornada de cuidar da própria família. Um dia ou outro, o pensamento sobre ela me vinha às ideias. Ela não mais morava lá, tinha se mudado para o céu, quebrado o pacto invisível dos moradores de durarem para sempre. E o fato de as coisas terem um fim me pegou para sempre. Lembro de um dia, que eu distraído fui assaltado de minha distração quando me apontaram a arma das palavras e dispararam a frase: “Hoje é aniversário de morte da Dona Ana”. E eu pensei: “A morte não deveria fazer aniversário.”
A morte não deveria fazer aniversário. Ninguém vai. Ninguém vai querer cantar “Com quem será, com quem será que a morte vai casar? Vai depender, vai depender se alguém vai querer…” ninguém vai querer, ninguém nem quer pensar nisso. Quem puxaria o inesperado “é pique, é pique, é hora, é hora”? Ninguém! Ela fica lá sozinha, resmungando pelos cantos, e a vela queima. Quantos anos está fazendo? Quem sabe? Como nasceu e por quê? Quem foi a mãe? O pai abortou? Em que orfanato se criou? Ela fica lá sozinha, encarando o fogo da vela que derrete e morre. Não recebe presente algum. Algumas doenças são amigas, mas não vão também, têm medo. O hospital público é conhecido, o assassino em série é fã, mas não vão. A funerária depende. O coveiro depende, mas não há chance de ir: “pudesse não enterraria ninguém” me disse um. Sim, é ponto derradeiro. Tem de haver, mas no aniversário dela ninguém vai.
A dona Ana e a morte de chapeuzinho e sem presentes. Um quadro aqui dentro. As coisas têm um fim. Algum fim. Tivéssemos a chance e correríamos para nossa infância quando ninguém havia morrido e onde todas as tias servem chá.
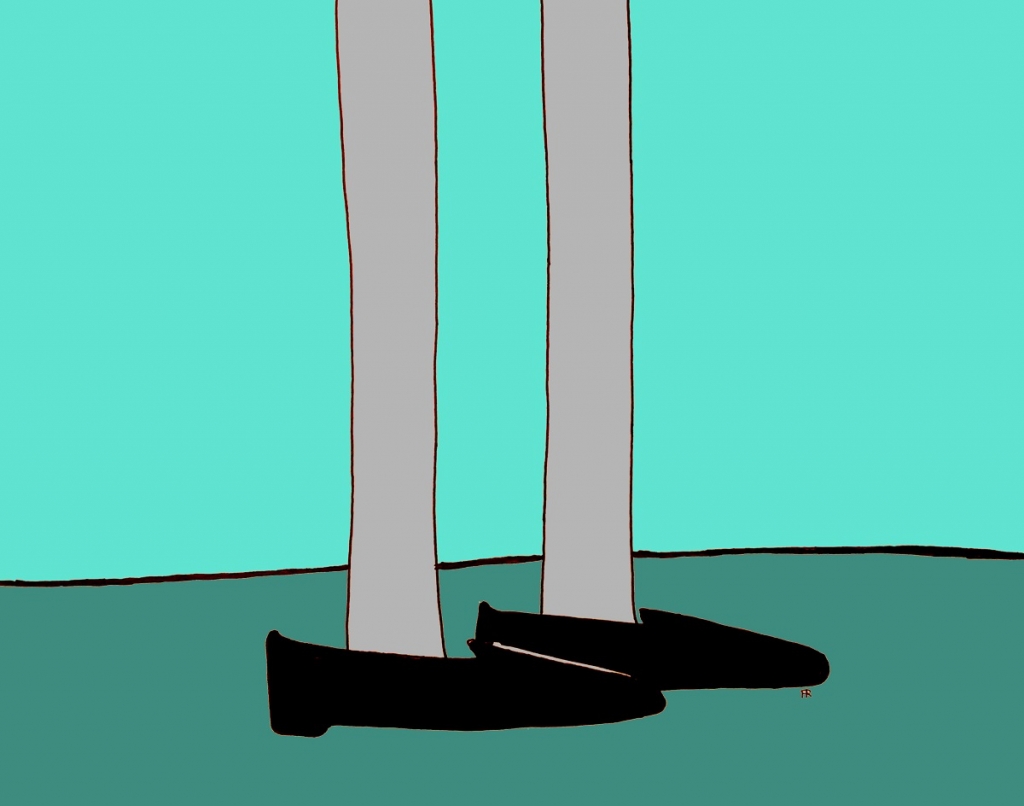
Meu pai bebia
Meu pai bebia. E se transformava em outro. Eu via tudo com os olhos de criança. E no auge de seus devaneios, meu pai dizia uma frase sempre: “Eu sou rico”. Eu não conseguia entender: nossa TV era pequenina, preto e branco, a mãe se matava para fazer comida para todos. Como meu irmão sempre lembra “Ela pedia para eu comprar um único ovo para o almoço” e inventava algo lá na cozinha. E não havendo quarto para tanto irmão, eu, o menor, dormia com os meus pais, num cantinho da cama colado à parede. Lembro até hoje de colocar a testa na parede de tinta desbotada e gelada antes de dormir. Eu, com os meus olhos infantis, era um pequeno imbecil. Eu tenho amontoada uma pilha imensa em constante crescimento de momentos em que eu fui um completo imbecil. Sou um grande colecionador de nãos. Ninguém tem ideia de quanto tempo eu perdi e perco sendo um idiota mais que perfeito. E, portanto, eu não entendia nada.
Foi com o tempo, numa conversa e outra, que meu pai deixava escapar algum fato da vida dele. Eu ia montando as peças como um quebra-cabeça dentro da minha cabeça de burro. Sem vitimização, sem ideia de “olhem como eu sofri” como eu mesmo faço tantas vezes, meu pai me contava, numa ordem simples e bonita de se ouvir, sem tantas palavras desnecessárias como eu conto as coisas, que na casa dele as coisas eram outras. Não havia um botão na parede que acendesse uma luz ou gelasse a comida, não havia um cano que trouxesse água, não havia… a vida assim, dura e fria, de trabalho cedo, permitiu que o pai estudasse somente até a terceira série. Um dia, ele me disse que foi com oito ou nove anos que teve o primeiro par de sapatos, muito maior do que o pé dele. E aí é que fui gradualmente ficando um pouco mais atento para aquela frase repetida por ele quando ele não era bem ele. Na casa de paredes geladas pintadas de cor oca, na casa em que um botão ligava a TV pequena, e que água saía quente do chuveiro, meu pai sempre esteve certo.
Ele era rico. Éramos todos.
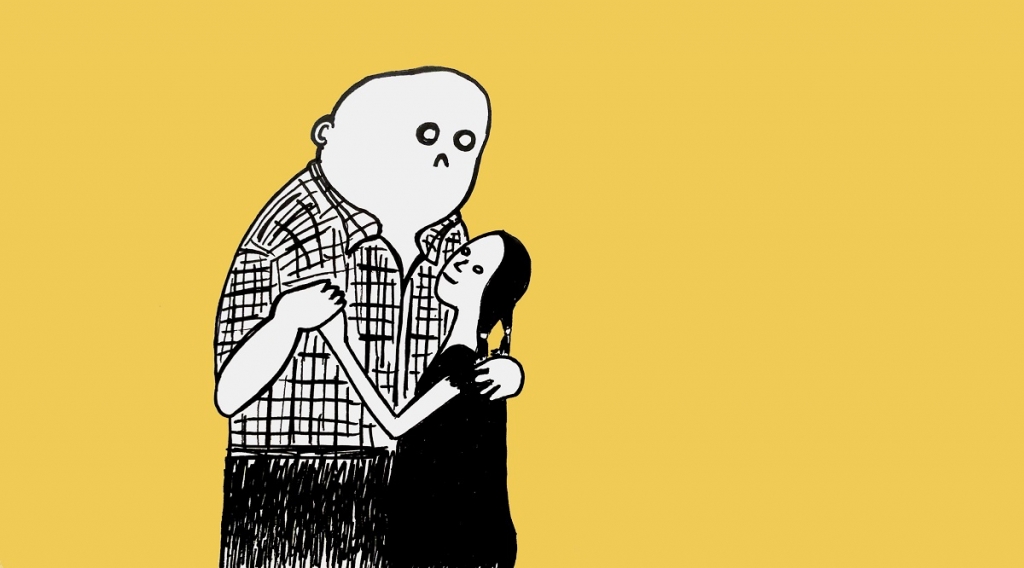
Quase Quasímodo
Lá na vila sempre houve o louco. O louco da vila. “Aquele é louco” diziam. A piazada judiava, a rapaziada dava risada, e o louco ficava sempre um pouco inferiorizado, sempre um pouco menosprezado, alheio às brincadeiras todas. Um dia fui tomar café na casa do louco. E tenho turva a memória de brincar com ele, de correr em volta da casa (a piazada na vila adora correr), e tenho límpida na cabeça a imagem de eu tomando café lá, e de ser servido pedaços enormes de bolo, e de vergonha, de caipira, de ingênuo, de criança boba comer tudo, empurrar para dentro, para não deixar nada no prato. O pai do louco apertou a minha mão no final. E eu não entendi direito naquele momento. Dias depois veio a época de se dançar na escolinha. Cada um tinha de ter um par. Eu não dançava, de vergonha, de medo, de burrice: eu era caipira demais para me vestir de caipira. E todo mundo formou o casalzinho de dança, menos o louco. E uma moça da minha rua se candidatou à vaga de par da insanidade. Heroica, ela dançou com o rapazinho que ninguém queria por perto, que ninguém queria ser visto ao lado, ela dançou. E eu assisti em meu coração a eles dando as mãos, formando um par, e dançando a música que como uma névoa pintava de sons aquele momento. O rapazinho deu seu estilo aos movimentos. E dançou bem, pois o que é a dança senão o gesto inesperado perante a gramática óbvia dos atos humanos? Quando tudo terminou, o rapazinho ficou feliz, a moça ficou feliz, e o bailinho aconteceu. Comecei aí a entender o aperto de mão do pai do garoto. Tudo que se queria era que aquele garoto recebesse atenção, que pudesse ser quem quisesse ser, e para ser quem se quer ser não basta somente ser, tem de se ser com alguém. É quando se recebe da interação humana que se pode perceber os próprios contornos. O pai do garoto deu é um abraço naquela menina, mas ela ficou sem pedaços enormes de bolo. Aquela menina que dançou com o invisível, que abraçou o quase Quasímodo, que formou a cena impensável para todos ao redor, juntou o desprezo de cada um, o rancor, o ódio, a discriminação, e fez de tudo isso um palco, e dançou a dança até os limites do amor. E isso foi há anos, sem a bajulação de desconhecidos através das redes dos computadores, sem fotos, sem tecnologias modernas registrando. Gravou-se nos meus olhos, no entanto, a cena que o universo deve ter parado para assistir. Eu tenho certeza de que naquele dia o próprio Deus foi plateia.









