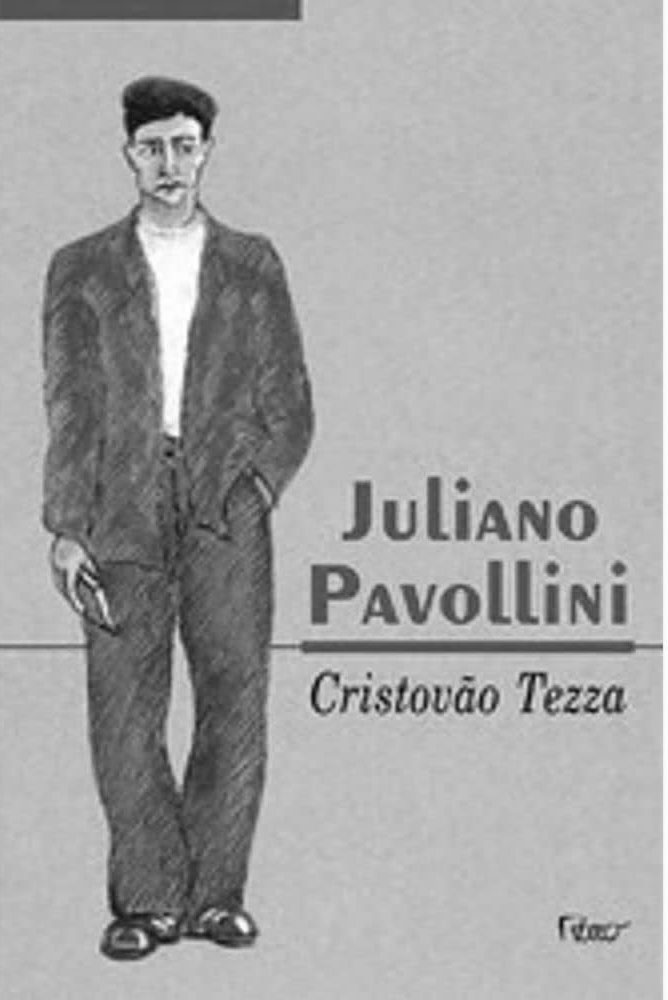Cristovão Tezza nasceu em Lages, Santa Catarina, no dia 21 de agosto de 1952. Ainda menino mudou-se para Curitiba, onde decidiu ser escritor. Cristovão costuma dizer que foi escritor muito antes de saber escrever, pois aos 13 anos já andava pelas redações dos jornais, com o caderno de poesias, à procura de uma publicação. O tempo devorou a ingenuidade e Tezza continuou perseguindo a escritura até atingir a maturidade.
Quando jovem passou a integrar uma sociedade alternativa de artistas coordenada por Rio Apa. Nesta comunidade, Tezza se oficializou como dramaturgo do grupo que viveu o sonho da sociedade alternativa, na cidade litorânea de Antonina, no Paraná. Tezza ainda andaria pela Europa, seria relojoeiro, mas em 1975, ainda em andanças pela Europa, começa a escrever o livro de contos A cidade inventada. De lá para cá escreveu: Gran circo das Américas (1979); O terrorista lírico (1980); Ensaio da paixão (1986); Trapo (1988); Aventuras provisórias (1989); Juliano Pavollini (1989) reeditado neste ano pela editora Rocco; A suavidade do vento (1991); O fantasma da infância (1993); Uma noite em Curitiba (1996) e seu último romance Breve espaço entre cor e sombra (1998). Após uma pausa de quatro anos, para a elaboração da tese de doutorado, Tezza promete retornar.
• Você passou nos anos de chumbo (década de 70) por várias experiências alternativas, tanto na literatura junto a Rio Apa, quanto no modo de vida em comunidades hippies. Dessas experiências, hoje, temos os livros O terrorista lírico e Ensaio da paixão, e mais adiante o fechamento de um ciclo de sua trajetória literária com Trapo. Este ciclo retrata toda uma geração. Fale sobre esses anos iniciais de sua trajetória literária, como se deu a descoberta da escrita e sobre esta geração e sua luta.
Costumo dizer que fui escritor antes mesmo de saber escrever. Lá pelos meus 13, 14 anos, eu tinha um projeto firmemente estabelecido de ser escritor, ainda que só escrevesse poesia adolescente de péssima qualidade — na verdade, nunca fui precoce. E sou alguém cuja formação se deu nos anos 60 e 70, em que o ato de escrever tinha um forte conteúdo político, ético e existencial. Ser artista era antes de tudo “tomar uma atitude”. O Brasil vivia sob uma ditadura militar e qualquer projeto artístico acabava por bem ou por mal tomando esse fato como referência. No meu caso, “ser do contra” era ser contra tudo — vivi plenamente a utopia dos grandes sonhos da transformação da vida que fazia parte do imaginário de boa parte da minha geração. Foi uma época em que vivi muito e escrevi pouco. Comecei trabalhando em teatro com movimentos de vanguarda da Curitiba daqueles anos, 67 e 68 (com Denise Stocklos, por exemplo), fazendo de tudo, de iluminador a sonoplasta. Depois me engajei ativamente da comunidade de teatro alternativo que o Wilson Rio Apa mantinha em Antonina, uma pequena cidade do litoral do Paraná. O teatro, na verdade, foi minha porta de entrada para a literatura. Em 1974 passei um ano perambulando na Europa. Tentei todas as formas de sobrevivência alternativa — de curso na marinha mercante até curso de relojoaria! — de 1968 a 1977. Aliás, mantive uma pequena loja de consertos de relógios em Antonina, em 77, até me decretar falência. Depois, fui para o Acre, onde finalmente, aos 25 anos, fiz meu vestibular de Letras. Ainda não havia escrito nada consistente, além, talvez, de alguns poucos contos (depois publicados em A cidade inventada, pela CooEditora, em 1980). Meus três romances de juventude foram para o fogo, com justiça.
Começava um “segundo tempo” da minha vida, em que a literatura, não mais o teatro, passava a perigosamente a tomar conta de mim, de uma forma mais sistemática. Escrevi um breve exercício narrativo, Gran circo das Américas (Brasiliense, 1979), um livro para jovens. Em seguida, O terrorista lírico, publicado em 1981 pela Criar Edições, editora que eu ajudara a fundar (como, aliás, participei também da cooperativa de escritores que fundou a CooEditora — tive também minhas experiências como editor). O terrorista lírico era um romance um pouco mais ambicioso, mas ainda de formação, digamos assim. Meu personagem era uma espécie de “Unabomber”, ou um Bin Laden ateu, que resolve dinamitar a cidade em que vive. É um livro de juventude pela sua alegoria mais ou menos revolucionária (mas não direcionada; o Raul Vasquez do livro não representa nenhum modelo ideológico a ser seguido); e também começava a minha maturidade na medida em que eu colocava problemas que não conseguia resolver, nem tecnicamente, como escritor, nem como visão de mundo.
Em seguida (1981), escrevi o Ensaio da paixão, agora retomando, já à distância, os meus anos de formação no teatro e na vida. Meu universo literário se amplia para uma outra dimensão; não mais um ou dois personagens vivendo uma situação, mas dezenas de personagens fantásticos, transitando da realidade para a fantasia, naquela ilha louca tentando implantar um sonho. Ao mesmo tempo, todo o universo militar dos anos 70, o contraponto sombrio, está presente. É um livro cheio de influências — desde o próprio projeto teatral do Rio Apa, nascido na comunidade dos anos 60, e que ele recriou durante vários anos naquelas Paixões das Dunas, fazendo do teatro mais um acontecimento que uma peça fechada —, até a retomada do imaginário libertário da minha geração, da revolução armada que cantava Chico Buarque e Geraldo Vandré, aos hippies da paz e do amor que ouviam Jimi Hendrix e Janis Joplin. Também tem, como toque da época, o “realismo fantástico” que marcou a literatura latino-americana dos anos 70. Mas o olhar do livro já é o olhar da distância, que, final, é o olhar do escritor. O Ensaio da paixão é um romance que, aos trancos e barrancos, digamos assim, marcou minha passagem para a minha literatura mais madura.
Depois, em 1982, escrevi Trapo. Agora eu descobria o mundo urbano, o universo de marca realista que tomaria conta dos meus textos. O choque de gerações aqui tem uma outra medida, mais especificamente literária. O personagem Trapo é um publicitário — talvez a profissão mais “integrada” do nosso mundo — mas é pela linguagem, e pela atitude (Trapo é um suicida), que ele marca a sua geração. E o professor Manuel, o seu contraponto no livro, e aquele que conta a história, é um homem à antiga, conservador na arte e na vida. Talvez eu estivesse representando a minha própria crise, entre o impulso iconoclasta que de algum modo é a chave de toda obra de arte, e o impulso conservador que, afinal, mantém a vida em pé. É nesse território tenso que o romance se sustenta — pelo menos é assim que vejo (lembrando, é claro, que o autor é sempre péssimo comentarista de seus próprios livros!). Mas é preciso lembrar também que, até então, eu era um escritor puramente mental, cheio de textos na gaveta. Meus livros iniciais não tiveram repercussão nenhuma; o Ensaio da paixão só foi publicado em 1985, numa edição também sem alcance; e Trapo, depois de mais de 20 recusas de editoras, só seria editado em 1988 pela Brasiliense, quando então eu fui “lançado” no cenário brasileiro, digamos assim. Só então eu começava a sentir um pouco mais a outra ponta da literatura — essa dádiva rara que são os leitores.
• O ambiente familiar, nos seus primeiros anos de vida, foi propício ao surgimento do amor pela escrita? E, retomando a juventude, que autores exerceram fascínio sobre você?
Eu tive a sorte de nascer numa casa em que havia livros. Esse simples fato — livros nas prateleiras, na mão das pessoas, sobre a mesinha de cabeceira, abertos com a lombada para cima quando a leitura se interrompe por alguns minutos — já faz uma bela diferença na formação de alguém. Mas como eu nunca fui precoce, confesso que minha paixão pelos livros — e daí quase que simultaneamente pela escrita — nasceu mais da infelicidade do adolescente do que da felicidade da criança. Quando criança, digamos, até os 10 anos, minha experiência com a palavra era quase que exclusivamente escolar, portanto meio traumática. Eu preferia mesmo era vagabundear ali pela praça Joca Neves, em Lages, roubando pêra, jogando bolinha de gude, andando de perna de pau. Num outro momento, de 1961 em diante, estou em Curitiba, e aí minha vida mudou brutalmente. Já de cara levei pau no exame de admissão ao ginásio, que existia naquele tempo — fui reprovado em português, prova de redação, eliminatória. Nem fiz as outras! Assim, foi mais por revolta do que por obediência que comecei a ler obsessivamente, começando por Monteiro Lobato, daí aos poetas românticos brasileiros (eu sabia Castro Alves de cor), depois Erico Verissimo, Jorge Amado. Em outro momento, li muito teatro (aos 17 anos eu já participava de uma comunidade de teatro alternativo, sob a direção do Wilson Rio Apa — e esse era um tempo de leitura compulsiva, de tudo que caía na mão). Alguns livros marcaram, ainda que a memória se esfumace tanto tempo depois. A Antologia poética de Carlos Drummond de Andrade; O Estrangeiro, de Camus; Os irmãos Karamázov, de Dostoiévski; Lord Jim, de Joseph Conrad; Angústia, de Graciliano Ramos; Intruso no pó, de William Faulkner (que li sob o título O mundo não perdoa, uma tradução portuguesa); O tempo e o vento, de Erico Verissimo; várias peças dos americanos Tenessee Williams, Edward Albee e Arthur Miller; Trópico de câncer, de Henry Miller, Quatro quartetos, de T.S.Eliot; O imoralista, de André Gide. Tempo sujo, de Jamil Snege, e A revolução dos homens, de W. Rio Apa, para citar dois escritores próximos da Curitiba de minha formação. Dois ou três livros de Nietzsche. Cem anos de solidão, de Gabriel Garcia Márquez. Enfim, são cacos marcantes da memória, nessa viagem sem volta que é o mundo da escrita.
• A que você atribui tantas recusas ao livro Trapo? Trapo (o personagem), no seu ritmo frenético e rebelde de vida, levado ao extremo com o suicídio rivaliza com o professor Manuel, homem comedido e pacato e vinculado as tradições. Acha que o fato do personagem, de certa forma, personificar alguns poetas das décadas de 60 e 70, os chamados marginais (Ana Cristina César, Torquato Neto, Paulo Ramos Filho entre muitos outros que tiveram o mesmo fim de Trapo) teria de algum modo interferido nisso?
Às vezes eu até tenho vontade de atribuir minhas dificuldades iniciais de publicar (cheguei a ter quatro romances simultaneamente na gaveta) a alguma conspiração universal contra mim — ou, no caso do Trapo, a alguma censura à visão de mundo do que eu escrevia. Mas a realidade é mais simplória, mais prosaica. A primeira dificuldade se deve ao fato de eu ter nascido “fora do eixo” Rio–São Paulo. Não é fácil romper essa barreira editorial. No meu caso, também pelo fato de Santa Catarina e Paraná não contarem com editoras de literatura com expressão nacional. Também pelo fato de nos anos 70 e 80 o espaço local (falo por Curitiba) para a literatura era praticamente inexistente. Assim, não havia degraus intermediários em que um escritor pudesse avançar consolidando seu trabalho. Acho que hoje esse espaço local é muito maior. Outra dificuldade eram as sucessivas crises econômicas (que aliás continuam!). Editar um autor inédito representava um custo enorme e um lance arriscado, com a inflação devorando tudo. Eu lembro das primeiras prestações de contas que eu recebia das editoras: eram hilariantes. A cada seis meses (o prazo padrão daquele tempo; hoje os pagamentos são trimestrais), os 10% do autor viravam farelo. Não havia também uma política sistemática de editar autores novos por parte das grandes editoras. Hoje isso também está mudando, e têm aparecido muitos autores novos, até mais do que a distribuição ou as livrarias possam dar conta de divulgar. A barreira, hoje, é menos das editoras e muito mais da distribuição e dos pontos de venda. Sem falar, é claro, da falta de bibliotecas públicas, de uma política mais forte e direta de incentivo à leitura. Enfim, a demora que meus livros sofreram foi mais um reflexo das dificuldades econômicas daqueles anos do que qualquer outra coisa. Se houve um terreno em que a censura oficial da ditadura não teve efeito inibidor visível foi o do livro; pelo contrário, freqüentemente, pela liberdade editorial, as edições se viam vítimas a posteriori da proibição mais arbitrária e absurda, como Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, para lembrar o caso mais chocante. Quanto ao tema — o fato de Trapo personificar um aspecto da geração mais criativa, e trágica, dos anos 70 e 80 —, acho que ele é um fator importante da empatia que esse romance exerce sobre as gerações mais novas.
• O crítico Wilson Martins diz que a partir dos livros Trapo e Aventuras provisórias algo novo surge no que se refere à linguagem e à criação dos seus personagens. Parece-me que isso vai se afirmar com a publicação de Juliano Pavollini, posto que o mundo dos personagens de Aventuras provisórias ainda retoma a trilogia anterior. Como você avalia estas mudanças?
O autor é sempre um pouco suspeito para falar de sua própria obra, mas eu vejo as coisas da seguinte forma: acho que Trapo representou um ponto de amadurecimento da minha literatura. Dizendo de outra forma, com Trapo eu encontrei a minha própria linguagem, o mundo e a visão de mundo que, para o bem ou para o mal, dão consistência ao que eu escrevo. Nesse sentido, o fato de Aventuras provisórias retomar um personagem do Ensaio da paixão, por exemplo, não é relevante. O Pablo do Aventuras… já é um personagem substancialmente diferente do Pablo do Ensaio da paixão. O Ensaio… é um livro mais ou menos alegórico, simbólico, que mexe com a mitologia de uma geração. A força dos mitos está presente a cada momento do Ensaio… No Trapo, que escrevi em seguida, ainda há uma “mitologia de geração”, digamos assim, mas já muito tênue; meu olhar já toma uma outra direção, individualista, solitária, psicológica, reflexiva, fragmentária. Os sonhos — que afinal sustentam o Ensaio da paixão — desaparecem. O mundo urbano, que é mundo sem raízes, passa a ser o elemento central do que escrevo. O Aventuras… retoma tematicamente o “sonho alternativo”, mas os mitos que o sustentam desaparecem. Em qualquer caso, ficou uma experiência essencial do Ensaio…, a marca do teatro — meus romances têm sempre um toque de “palco”, de gente que fala em voz alta, num sentido que se faz no limite difícil entre as pessoas.
• Como é o seu convívio com os personagens? De que forma eles brotam?
Essa é uma das coisas mais misteriosas de quem escreve, acho eu. Para mim, eles surgem sempre de uma situação dramática, de um instante de tensão que fica às vezes anos cozinhando na minha cabeça. Nesse primeiro momento, eles são parte de um “enredo”, de algo que veio antes e que virá depois, mas de que eu não sei nada ainda — tenho apenas um instante presente. Num momento seguinte, começa a se erguer essa biografia imaginária, e tudo imaginariamente, apenas na minha cabeça. Quando começo afinal a escrever, já tenho o livro inteiro na memória — ou, melhor dizendo, o fantasma de um livro, uma mera seqüência de fatos. Essa seqüência inicial nunca se concretiza de fato. Basta eu começar a escrever e parece que há um rearranjo geral de todos os aspectos, do nome dos personagens ao desenrolar da fábula. Em geral, levo de um a dois anos escrevendo um romance, sistematicamente, um pouco todos os dias. Tenho uma convivência normalmente bastante agradável com os personagens. Mas permanece sempre uma sensação fantasmagórica, um sentido de falta, uma incompreensão de raiz — eu jamais consigo entendê-los completamente. Eles são ao mesmo tempo seres inexistentes e seres concretos, reais, presentes, que falam, pensam, vivem e reagem do mesmo modo e sob a mesma urgência que eu próprio vivo, ainda que não tenham (no sentido estrito) nenhum parentesco comigo.
• Como você define a arte de escrever e a magia que envolve este conviver com seres que não são (“no sentido estrito”) você, mas participam do cotidiano de um escritor?
Sinceramente: não sei. O ato de escrever, para mim, envolve a minha vida de forma completa. Não apenas o momento específico de pegar a caneta (escrevo literatura à mão) e escrever — mas o projeto (se é que chegou a ser um projeto no sentido normal da palavra) inteiro de uma vida que foi ganhando sentido à medida que escrevia e se escrevia. O que é engraçado: porque a gente acaba sendo escrito pelo que escreve. No meu caso, nunca saio inteiro do outro lado do livro, digamos assim, como quem atravessa um túnel escuro. Assim, muitos livros depois, nunca me tornei um profissional de letras, isto é, alguém que tem o domínio seguro do seu ofício e trata dele com distância e frieza, como quem faz um objeto de arte (uma peça de cerâmica, digamos). Gostaria muito, mas não consigo — há um envolvimento que me leva junto, mesmo sabendo que a literatura não é o espaço ideal para o derramamento emocional, para o desabafo, para nada disso. É preciso sempre manter um pé do lado de fora enquanto se escreve. Enfim, é muito difícil falar sobre isso porque eu não compreendo como funciona.
• O livro Juliano Pavollini inaugura um outro momento de sua obra? Seria nesse romance que começará a existir uma aprofundamento maior da psicologia dos personagens?
Talvez. Já é lugar-comum falar assim, mas de fato o autor é a pessoa menos indicada para falar de sua obra. Não temos a necessária distância, e acabamos sempre falando em causa própria. Bem, acho que, no plano da investigação psicológica, a passagem se deu do Ensaio da paixão em diante. Em Trapo¸ Aventuras provisórias e Juliano Pavollini, meus personagens já estão completamente sozinhos, não partilham mais nenhuma vida solidária ou mundo coletivo. Já desembarcaram do grande sonho e a utopia mais ou menos irracionalista que alimentou os anos 60 desapareceu do meu horizonte literário. Nesse sentido, Juliano… é feito da mesma matéria do Trapo e do narrador de Aventuras provisórias. Talvez passe essa impressão (de ser um livro psicologicamente mais completo) pelo fato de a narrativa estar inteira concentrada nele — e num sentido inclusive biográfico, desde a infância, o que não existe nos outros livros, ou existe apenas fragmentariamente.
• Como surgiu o livro A Suavidade do vento , talvez (ao lado de Trapo) a sua obra mais perturbadora?
É uma história engraçada a deste livro. Ele é uma espécie de cruzamento de muita coisa — mas basicamente a solidão do ato de escrever. Num primeiro momento eu pensei apenas numa sátira, num livro de humor. Mas algumas coisas foram surgindo (como os monstros), que, ao contrário do que eu planejava, se tornaram mais sinistros e tensos que puramente engraçados. O Mattoso, declaradamente uma “invenção” do narrador, vai tomando corpo, ganhando estatura, autonomia, e um grau de sofrimento quase insuportável. Ao mesmo tempo, é uma síntese da literatura, no que ela tem de mais dura — o fato de que ela não significa mais nada para ninguém. Mattoso escreve para de certa forma se sentir humano, se sentir parte da comunidade humana, mas a realidade concreta do seu livro acaba por destruí-lo, rompe todos os laços já fracos que ele tinha com o mundo. É como o seu livro — que ninguém leu — fosse recebido como uma declaração de guerra. Como fábula, isso é reforçado pela mitologia da cidade pequena, mas uma cidade nova, sem história, uma cidadezinha bruta e tosca, uma cidade sem tempo de ter memória. A desistência de Mattoso, ao contrário do que parece, é uma forma de grandeza, a grandeza possível. Mattoso é uma encruzilhada ética. Foi um livro que me deu prazer, muito prazer — como se, escrevendo-o, eu exorcizasse toda a dificuldade de quem escreve, desde escrever, até conseguir uma editora, e, não menos importante, encontrar um leitor, um único que seja. Além disso, foi a primeira vez que eu ganhei uma bolsa para escrever, a Bolsa Vitae de Literatura. Durante um ano fui (bem!) pago para escrever um romance. O livro A suavidade do vento, publicado pela Record e já esgotado, será em breve reeditado pela Editora Rocco. Fiz uma pequena revisão no texto, suprimindo algumas referências a Clarice Lispector, que, na releitura, achei excessivas. Agora sintetizam-se todas na epígrafe, tirada da Clarice de A paixão segundo G.H.: “Desisto, e eis que na mão fraca o mundo cabe”. É uma bela frase; além disso, um verso alexandrino. Se quebramos em “desisto”, continua como um decassílabo perfeito, com cesura na sexta sílaba. Este livro tem outro detalhe interessante: foi traduzido para o inglês por Alan Clarke, sob o belo título de The dust and the darkness — “o pó e as trevas”, o nome do livro de Mattoso. O tradutor tentou-o na época vender para alguma editora americana, mas não conseguiu. É a maldição de J. Mattoso!
• Uma das temáticas exploradas com bastantes constância em suas obras é o próprio ato de escrever — no caso de A suavidade do vento e O fantasma da infância, a escrita chega, de certa forma, a nortear a narrativa. Fale um pouco sobre esta perspectiva e o que isso revela do escritor Cristovão Tezza ao leitor?
É verdade. Parece que o tema do texto está presente em todos os meus livros, cada um à sua maneira. Mas não é nenhuma procura consciente — acontece. Afinal, literatura é texto; ela interage com o mundo inteiro, exterior, a chamada “realidade”, é claro, mas, igualmente, a literatura é um objeto próprio. Ela é uma das dimensões da vida e do mundo. É um lugar-comum dizer isso, mas é verdadeiro: a literatura tenta dar um sentido ao caos que são a vida e o mundo “reais”, sob a perspectiva de um olhar narrativo, um olhar afinal “organizador”. Mas, é claro, esse olhar não é nem onisciente, nem definitivo — ele é inseguro, impreciso, incerto, muitas vezes declaradamente mentiroso (como o de Juliano Pavollini, por exemplo). Apesar de tudo isso, ou talvez justo por isso, a literatura dá luminosidade à vida, dá uma nitidez difícil de encontrar sem o universo da linguagem. Mas estou divagando — é que não sei exatamente o que esse tema (o do ato de escrever) pode dizer sobre mim.
• Você costuma dizer que nunca foi precoce, no entanto já está à beira de uma dezena de obras (se contarmos as produzidas na juventude, incluindo as peças teatrais, chegaremos próximo a duas dezenas). Trapo foi escrito em 1982, quando você tinha apenas 30 anos — embora só tenha sido publicado em 1988. Isso não demonstra uma certa precocidade?
Bem, eu sempre brinco com essa coisa de precocidade porque há um certo imaginário que vê a figura do escritor como um gênio desde criancinha, escrevendo obras-primas já aos dez anos, coisas assim. Eu acho que há poetas precoces — é só pegar o romantismo brasileiro e a gente vê que eles morriam todos antes dos 25 anos, já com obras altamente significativas. Mas na prosa o processo é muito mais lento e penoso. Minha produção de juventude era fraca — no caso do teatro, havia todo um envolvimento com a comunidade que, é claro, muda a régua de avaliação. Um texto de teatro é ele mais o grupo, as circunstâncias, a montagem, a direção etc. Não dá para avaliar na frieza do texto pelo texto. Mas eu não republicaria nada do que escrevi naqueles anos. É uma produção que se consumiu nela mesma, no momento presente, na “atitude” que era fazer teatro nos anos 60 e 70. Já a literatura, para mim, é um trabalho que amadureceu dos trinta anos em diante, e — espero! — continua amadurecendo.
• Fale um pouco sobre o seu processo de criação e a transformação que ele sofreu (se é que sofreu) no decorrer de sua vida literária.
Sou um escritor extremamente metódico. Aliás, isso não mudou, desde o primeiro romance, O papagaio que morreu de câncer, dos meus 18 anos, texto que já foi ao fogo, com justiça. Aprendi a escrever literatura com a mão, e não à máquina, por influência do Rio Apa, que escreveu todos os livros dele à mão. Naqueles anos da comunidade, isso também era significativo: escrever à mão era uma atitude diante do mundo das máquinas, uma opção pelo artesanato, digamos assim. Depois, tornou-se um hábito poderoso — escrever à mão permite a lentidão exata da literatura. Escrevo por dia — quando começo um romance — em torno de quatro a cinco parágrafos, em letra miúda. A máquina de escrever de ontem ou o computador de hoje são inúteis diante desse ritmo. O importante é manter o ritmo — com esses parágrafos por dia, ao fim de um ano tenho um romance quase pronto… Num segundo momento, passo para o computador (como antes passava para a máquina de escrever), e daí a coisa vai mais rápida. Mas sempre que deparo com algum trecho ou capítulo muito complicado, cheio de nós, que não me satisfaz, volto para o texto manuscrito para rescrevê-lo com calma. Sou um bom datilógrafo, daqueles raros que usam os dez dedos! Lembro que aos 13 ou 14 anos fiz por conta própria um curso de datilografia a partir de um velho manual, usando a máquina portátil que tinha sido do meu pai. Em um mês eu já datilografava de olhos vendados. O resultado é que a minha mãe, ao descobrir minhas novas habilidades, me arrumou um emprego no dia seguinte! Só um reparo: escrevi todos os meus livros à mão, exceto O fantasma da infância. Naquela época eu havia comprado um computador XT, daqueles antigos, uma verdadeira carroça, mas decidi aprender a linguagem DOS. Daí enfrentei o romance no teclado. Acho que alguma coisa dessa experiência passou para o livro, para as desventuras de André Devinne, preso naquele porão, escrevendo seu livro. Bem, mas o original impresso ainda em impressora matricial ficou tão rabiscado na revisão que mais parece um manuscrito… Foi uma experiência única.
• Você relutou em chegar à universidade. Iniciou o curso de Letras, no Paraná, aos 25 anos, em que a universidade contribui para sua formação?
É verdade. Resisti o quanto pude a entrar para a universidade, que eu via como a pior coisa que poderia acontecer a um escritor. Até hoje ainda não sei se estava certo naquela época ou não! Até curso de relojoaria fiz para tentar sobreviver à margem. Os japoneses acabaram com a minha profissão e em pouco tempo eu já tinha consertado todos os relógios mecânicos de Antonina. Tinha o projeto de casar, nenhum dinheiro e nenhuma perspectiva. Pedi emprego a um irmão que vivia no Acre e fui para lá, casado e cheio de esperanças. Na verdade foi lá, por acaso, que entrei na universidade. Fiz vestibular, passei, e vivi um ano no Acre, trabalhando num escritório de advocacia e dando aulas em cursinhos. Cansado da selva, voltei para Curitiba, entrei na Universidade Federal do Paraná e estou lá até hoje, agora como professor. Bem, e passei um tempo em Florianópolis, onde fiz meu mestrado. Dei aulas na Universidade Federal de Santa Catarina, como auxiliar, durante dois anos, de 84 a 86. Retomando a pergunta: quando entrei para a universidade, como aluno, eu já me sentia um escritor completo, suficientemente arrogante para achar que a universidade não tinha nada para me ensinar. De fato, na área de criação ela não me ensinou nada — e nem é essa mesmo a função dela. Posso dizer que eu tocava a literatura por conta própria, o que faço até hoje. Mas numa área a universidade foi crucial para a minha formação: a área de lingüística. Os cursos de lingüística que fiz com o professor Carlos Alberto Faraco nos primeiros anos da minha formação foram muito importantes, um salto na minha cabeça para entender os processos da linguagem e de seu estudo. É o tipo de percepção que, sem professor, você não chega a lugar nenhum — leva muito tempo para a gente descobrir a roda de novo. É interessante como a área da lingüística é desconhecida mesmo para quem trabalha com a linguagem, como escritores e jornalistas. Basta ver o festival de bobagens que se tem dito por aí em torno dos estrangeirismos, sobre as supostas ameaças à língua portuguesa etc. Uma pequena introdução à lingüística mostraria como o que se chama língua padrão é uma construção histórica e política; que toda língua é um conjunto extremamente rico de variedades; que há uma distinção substancial entre linguagem escrita e linguagem falada, que obedecem a gramáticas parcialmente diferentes; que nenhuma língua civilizada se fez sem empréstimos estrangeiros, que são sinais de vitalidade, de transformação e de intercâmbio cultural. A própria noção de “variedade”, que é a marca do uso concreto da língua, parece não é percebida mesmo por aqueles que trabalham diariamente com a linguagem, como os escritores e jornalistas. Claro que isso em nada afeta o domínio da escrita — mas a ignorância lingüística ajuda a reforçar todo tipo de preconceito e de limitação para entender a nossa linguagem. Enfim, na área da lingüística a universidade abriu um caminho imenso para o meu trabalho acadêmico. Aliás, hoje sou autor, como professor Faraco, de dois livros sobre produção de texto para universitários e estudantes do ensino médio: Prática de texto, da Editora Vozes, e Oficina de texto, que estamos refazendo para também sair pela Vozes em breve. Também a universidade abriu caminho para eu conhecer a obra teórica do pensador russo Mikhail Bakhtin, uma figura absolutamente extraordinária, sobre quem defendo em breve (9 de agosto) minha tese de doutoramento: Entre a prosa e a poesia — Bakhtin e o formalismo russo.
• Você vive em Curitiba desde os oito anos de idade. Como você avalia o quadro cultural da cidade? E como ela influenciou você?
Ficando na literatura, que é o meu terreno, eu diria que Curitiba tem uma vitalidade extraordinária — talvez intensidade seja a palavra certa — ainda que, como tantos outros centros do país, tenha dificuldade para se mostrar, para sair da concha, para aparecer. Claro, aparece a Curitiba “oficial”, digamos assim — mas essa Curitiba ocupa praticamente todos os espaços e a cidade real simplesmente desaparece. Repetindo o lugar-comum, pode-se dizer que Curitiba, ao contrário do resto do Estado, é tímida, introspectiva, fechada. Talvez seja por essa timidez que se criou com tanta facilidade um carimbo oficial para a cidade, como quem preenche um vazio. A vitalidade de que eu falava está sintetizada na figura de Dalton Trevisan, um escritor poderosíssimo que é também um mestre de escritores. Todo bom contista brasileiro dos anos 70 em diante deve alguma coisa a ele, pelo menos uma elipse… Quanto à minha formação, sou filho da Curitiba dos anos 60, início dos anos 70, em que havia uma boa agitação cultural na cidade, uma agitação que desapareceu completamente nos anos 80 e início dos 90, e que agora reaparece, já, é claro, “integrada”, o que é sinal dos tempos. Além da experiência comunitária com o teatro e o ideário do Rio Apa, também lembro da importância de Jamil Snege, um escritor que teve influência na minha formação, de conversa e de leitura. Lembro que Tempo sujo, novela do Jamil de 67 ou 68, me marcou muito. Aliás, sou leitor atento de tudo que ele escreve até hoje. No mais, Curitiba me moldou inteiro, de uma forma inexplicável — quem quer que viva aqui por mais de dois ou três anos vai se tornando inextricavelmente curitibano até o fim dos seus dias. Não há solução nem salvação. O que, afinal, se temos um bom olhar, resulta em ótimo material literário.
• Alguns de seus personagens são retomados em outras obras (D. Izolda aparece em Trapo e A suavidade do vento; Juliano Pavollini sai do romance homônimo e tem moradia em O fantasma da infância; Pablo pula tragicamente do Ensaio da paixão para Aventuras provisórias). Que forças os trazem novamente? Seria uma herança balzaquiana?
Bem, a idéia de fazer concorrência com o registro civil, que animava Balzac, é fascinante. Mas no meu caso nunca houve essa concepção de conjunto, que marcou, por exemplo, a literatura de William Faulkner, para falar alguém do século 20. O que acontece é que às vezes um personagem não se esgota em um só livro. Isso aconteceu com Pablo, que é um figura meio arquetípica, uma marca de geração. No caso, ele foi retomado dentro do mesmo universo original, embora, como eu disse antes, sob um olhar completamente diferente. Em O fantasma da infância, a concepção original não tinha nada a ver com Juliano Pavollini. Mas, no momento em que o André Devinne “segundo”, digamos assim, aparece, eu percebi que na verdade ele era uma espécie de reencarnação do Juliano Pavollini. Juliano já continha toda a história anterior que eu precisava para o André Devinne. Sem que eu soubesse, o Juliano já prepara o enredo de O fantasma da infância. Afinal, a última frase do Juliano é algo como “ando com algumas idéias na cabeça”. Mas, é claro, O fantasma… tem outro aspecto radicalmente diferente do Juliano, que é a concepção narrativa, uma história dentro da outra. E, como observou Wilson Martins, não há rigorosamente nada no livro capaz de garantir qual é a história “verdadeira”. Já a Izolda, aconteceu por acaso — eu achei que a sua pensão, muito antes do Trapo chegar lá, seria o espaço ideal para o nosso angustiado Mattoso, de A suavidade do vento.
• Uma noite em Curitiba demonstra uma determinada ironia acerca da educação (algo já presente em Trapo — professor Manuel e A suavidade do vento — os amigos professores de J. Matoso). Que avaliação você faz da educação em nosso país?
A presença de alguns professores nos meus livros tem uma explicação simples — passei a vida inteira entre professores, sou filho de professores, convivo com eles e toda a minha vida “real”, digamos assim, diz respeito ao trabalho do professor. Assim, é natural que em alguns livros eles sejam protagonistas. Talvez eu não conheça nenhuma outra profissão tão bem como essa… Mas, é claro, esse é só aspecto superficial, o lado biográfico dos personagens. A sua densidade depende de outras variáveis. Veja: o Rennon de Uma noite em Curitiba não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos dois outros, o Manuel de Trapo e o Mattoso de A suavidade do vento. E esses dois também não têm nada em comum. Sobre a educação brasileira? Pois tenho uma visão mais otimista que catastrófica. Ela é muito menos do que o país precisa, é óbvio, mas ela é muito melhor do que as indicações sociais do Brasil prometiam. Isto é, o lógico seria que ela fosse muito pior do que realmente é. Pense na universidade pública brasileira — com todos os problemas, ela continua sendo a grande referência do ensino superior brasileiro, e ainda é uma das instituições fundamentais do Brasil. E o ensino público em geral, básico e médio, já há décadas vive o desafio de dar conta de uma massa imensa de brasileiros que estão entrando na escola, uma massa que estava completamente alijada dos anos 60 e 70 para trás. Assim, aquele chavão preguiçoso que vive repetindo que “naquele tempo sim, a gente tinha um ensino de qualidade”, esquece de lembrar que “naquele tempo” só uma faixa muito estreita ia à escola. A escola pública atendia, de fato, a elite brasileira, no máximo as classes médias. Pagamos o preço da massificação — o ensino não é tão bom, é verdade, mas há muito mais gente indo à escola hoje. Mas, é claro, o país precisa de muito mais. Ainda sobre os professores: sem nenhum desejo de fazer média com a minha profissão, tenho uma admiração profunda pelo trabalho do professor, que afinal, pelo Brasil afora (e não falo da elite universitária, mas da grande massa que enfrenta o ensino básico), freqüentemente debaixo de pancada, carrega nas costas esse trabalho insano que é civilizar a população brasileira. A educação é a pedra de toque fundamental para qualquer esperança. Não há nada de novo nisso, mas é sempre bom repetir: para quem fala em “desenvolvimento sustentado”, pensando em números, lembremos que sem educação absolutamente nada se sustenta. Assim, a ironia que transparece nos meus romances são a marca de minha ficção, a ironia que transita nas relações humanas, e não, digamos, uma “crítica institucional” — que, é claro, é matéria de outra linguagem que não a da literatura; a linguagem do ensaio, da ciência, da sociologia, da historiografia.
• O cinema, a pintura e sobretudo o teatro são bastante presentes em sua obra. Qual sua relação com estas artes?
Uma vez eu disse que “só escrevo o que vejo” — o que de fato é verdade. Minha literatura tem uma marca visual muito forte, ou um elemento de composição visual. O teatro foi minha primeira e talvez mais duradoura influência, o que marcou outro traço do meu texto, que é a presença forte da fala e do diálogo, e uma certa intuição para o espaço entre as pessoas, no seu momento vivo e presente. Lembro que quando Trapo foi adaptado para o teatro — numa montagem dirigida por Ariel Coelho, com Marcos Winter no papel principal, e com Imara Reis e Cláudio Mambert como Izolda e professor Manuel — o trabalho de passar o texto para o palco foi muito fácil e direto. Trapo é um livro inteiro “cenográfico”: a sala do professor Manuel, por exemplo, é um palco perfeito. Bem, o próprio Ensaio da paixão é inteiro uma representação teatral. A arquitetura de A suavidade do vento — prólogo, primeiro ato, entreato, segundo ato, cortina — é uma seqüência teatral, ainda que o livro seja um dos meus textos mais “literários”. A pintura e as artes visuais em geral são outra influência forte na minha vida. Na juventude, cheguei a praticar cópia de pintores famosos — que eu chamava brincando de “falsificações”. Tenho até hoje um Van Gogh e um Matisse aqui em casa, que eu mesmo pintei, porque fica mais barato… Mas claro que, como pintor, eu não sobreviveria nem pintando paredes. Aquilo era só mesmo uma brincadeira caseira de 30 anos atrás. Bem, e sempre tive amigos pintores, durante anos, o que de algum modo me aproximou desse universo do ponto de vista das pessoas, mais do que das obras. Um pintor amigo meu é o Mano Alvim, de Florianópolis, por quem tenho grande admiração. Aqui em Curitiba acompanho há muitos anos o trabalho do Carlos Dala Stella, a quem devo muito das minhas intuições no terreno da pintura. Toda essa experiência de certa forma é recriada em Breve espaço entre cor e sombra, meu último romance.
• O que é ser escritor no Brasil?
Há duas formas de ver a questão. Do ponto de vista prático, digamos assim, é uma tragédia — um escritor iniciante diria que temos poucos leitores, dificuldades de publicação, pouco espaço na mídia etc. Do ponto de vista ético — que eu acho que deve ser o território da atividade do escritor — escrever no Brasil é uma espécie de privilégio, o que exige uma certa generosidade para compreender o país. O fato é que o escritor é sempre escritor e mais alguma coisa, e sua “vida real” está nessa outra coisa, digamos assim. Sou escritor e professor; há escritores e jornalistas, e daí por diante. São pouquíssimos os escritores que vivem de escrever literatura. Nesse sentido, o sentimento de exclusão, que é mais ou menos a essência de quem pratica arte — o fato “estar do lado de fora” — passa a ser mais forte ainda. Daí o princípio da generosidade, de que falei acima. Aprendi a desenvolver um certo lado “zen” da minha personalidade para não me deixar envenenar por aquilo que justamente deve nos libertar de alguma forma: a arte.
• Se você tivesse que escrever um texto para as gerações futuras, sobre a arte e a vida o que diria? Como você gostaria de ser lembrado?
Bem, felizmente não tenho que escrever esse texto!… Acho que não há nada mais distante da ficção do que a linguagem imperativa, edificante ou moralizante. A ficção é a minha linguagem justamente pela minha incapacidade de falar de outra forma; a ficção é a negação, por princípio, de uma última palavra sobre o que quer que seja. E veja: eu nem tenho certeza se estou escrevendo para a minha geração, se alguém está me ouvindo. Escrever é um risco — podemos simplesmente escutar o silêncio de volta. E a arte está em não se envenenar por isso…
• Você exerce duas atividades, como escritor, bem distintas: escreve romances e, ao mesmo tempo, resenhas críticas que têm aparecido no caderno Mais! da Folha de S. Paulo e na revista Cult. É possível conciliar o escritor e o crítico?
Bem, de fato no Brasil não temos a tradição do escritor crítico, isto é, de alguém que escreve romances e ao mesmo tempo debate na imprensa temas literários, critica obras etc. Note que essa é uma particularidade nossa; nos Estados Unidos, ou na Europa, por exemplo, é muito freqüente a participação crítica do escritor, assumindo pontos de vista, discutindo com outros autores etc. Aqui há uma certa tradição de cordialidade, para ver pelo lado bom, ou compadrio, para ver pelo lado ruim… É que o espaço dedicado à literatura brasileira já é tão pequeno, que os autores acabam por sentir que seria uma espécie de “traição” sair por aí falando mal dos colegas, como se fizéssemos parte de um sindicato. Bem, como escritor, a última coisa que me interessa é pertencer a um sindicato. Acho que os escritores poderiam perfeitamente assumir mais publicamente seu lado crítico. Quando fui convidado a escrever resenhas, relutei um pouco — como se fosse impossível estar dos dois lados do balcão ao mesmo tempo, digamos assim. Mas acho que tenho um olhar crítico que pode eventualmente ser útil. Além do mais, nesse caso pesa o meu lado “professor”, minha formação acadêmica. Não acho que devo reprimi-la.
• Para encerrar: você acaba de defender sua tese de doutorado (Entre a prosa e a poesia – Bakhtin e o formalismo russo), o que representa o fim de um ciclo “acadêmico”. Isto é, durante quatro anos você parou de escrever ficção. E agora? Algum projeto literário pela frente?
Pois finalmente começo a respirar um pouco… Tenho sim um projeto de romance na cabeça, que está me atormentando faz já alguns anos. Quem sabe em breve eu consiga começar a escrevê-lo. Já comprei 500 folhas de papel amarelo fininho, aqueles de segunda via, e duas canetas esferográficas escrita fina. Vou ver o que sai daí…