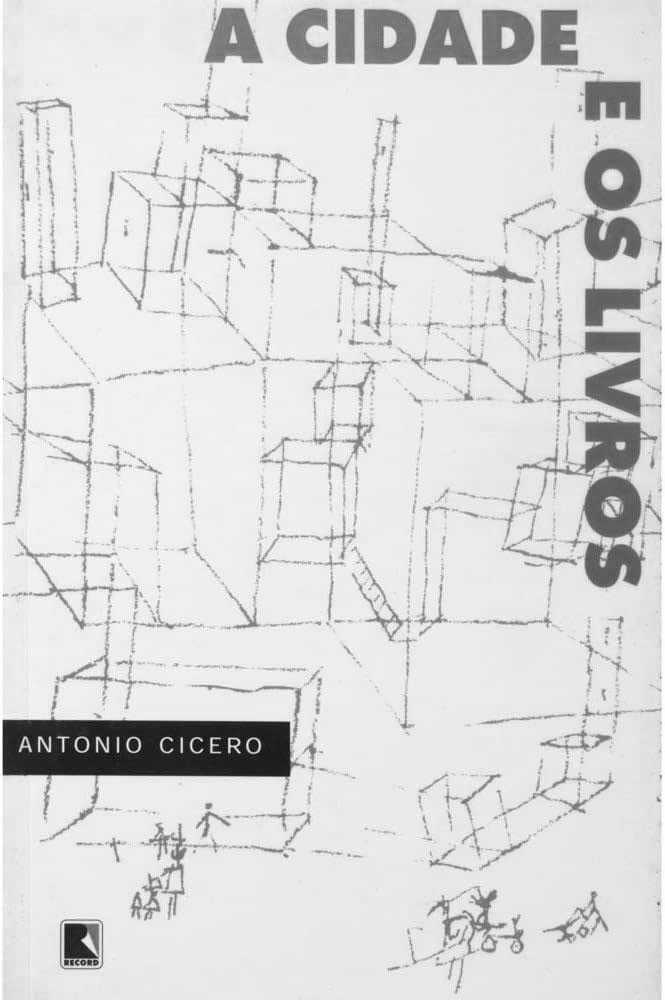O poeta e filósofo Antonio Cícero recentemente publicou A cidade e os livros, livro em que, de um ponto ao outro, sugere ao leitor um intenso convívio entre ser e deixar-se ser. Logo na capa encontramos um raro Paul Klee, também ele um “matemático amoroso”, na riquíssima expressão com que Tom Jobim se referia a si mesmo, entrelaçando arte e vida. Claro, essa relação de entrega está longe de se confundir com uma sujeição ou maneirismo de qualquer monta. Há poucos deslizes neste livro, talvez propiciados por excesso de entrega, mas nunca por incursão na displicente linguagem que herdamos da poesia marginal e sucedâneos. O próprio Cícero já se declarou pouco afeito a essa geração, em entrevista que lhe fez Maria João Cantinho, há pouco publicada na revista Agulha (setembro de 2002).
Antes de A cidade e os livros, Cícero havia publicado O mundo desde o fim (Francisco Alves, 1995) e Guardar (Record, 1996), instâncias editoriais que de alguma maneira criaram algum obstáculo no entendimento de sua entrega à poesia. O primeiro, ensaio filosófico de ampla discussão em torno da modernidade; o segundo, mesclando poemas e letras de canção. O mesmo falso purismo que já se observara na rejeição, por exemplo, à regência de Isaac Karabchewsky de um concerto com obras de Chico Buarque, também aqui se nota. Não apenas a arte, mas a própria existência humana, fracionada e guardada distante de si por cordões de isolamento.
Como veremos em algum momento da entrevista a seguir, o que se teme, em tais casos, não é a relação entre linguagens — aceitamo-la muito bem quando se trata de teatro ou cinema, por exemplo —, mas antes um choque brutal entre mistificação e vulgaridade. Grande parte do que a chamada arte culta produz hoje não passa de uma diluição viciada em si mesma. Ademais, o mercado impõe condicionantes que não podem ser desconsideradas, mas sim enfrentadas. Claro que o assunto não se esgota em uma ou duas conversas, nem a poesia de Antonio Cícero se limita a esse recorte. Aqui tão-somente observamos a absoluta falta de substância que caracteriza essa rejeição dos poetas de livros aos poetas da canção.
Nascido no Rio de Janeiro, em 1945, Antonio Cícero destaca-se hoje como um dos grandes letristas da canção popular brasileira, em parcerias com Marina Lima, Lulu Santos, Adriana Calcanhoto, Orlando Moraes e João Bosco. Entre 1993 e 1995, organizou em São Paulo, com Waly Salomão, uma série de ciclos de conferências tendo como convidados pensadores e artistas da importância de John Ashbery, Derek Walcot, João Brossa, Richard Rorty, Peter Sloterdijk e João Cabral de Melo Neto. As conferências ali apresentadas foram recolhidas no volume O relativismo enquanto visão do mundo (Francisco Alves, 1994). Em certo momento desta entrevista, é feita menção à publicação de um artigo na revista Continente. Trata-se de “O tropicalismo e a MPB”(Continente, 21, Recife, setembro de 2002).
O leitor encontrará aqui uma voz que soube mesclar conhecimento e serenidade, um poeta que fala com exímia simplicidade, querido por todos os que compartilham sua amizade. Confesso que foi uma delícia para mim tê-lo conhecido há poucos meses, nele descobrindo uma identificação feita do precioso metal do respeito mútuo. E nos aproximamos muito através deste diálogo que ora se publica, como testemunho da imperiosa necessidade dos poetas conversarem entre si, sabendo ouvir o outro, em busca de um amadurecimento contínuo de sua visão de mundo.
• Acaso se poderia falar em um primeiro momento onde sentes uma inclinação para a poesia ou a filosofia, algum momento em que ambas te pareçam conflitantes? E de que maneira uma transborda na esfera da outra?
São impulsos muito diferentes os que me levam a querer escrever um poema dos que me levam a querer escrever um ensaio filosófico. Para mim, a filosofia consiste no empreendimento racional de crítica sistemática das ilusões e das ideologias que pretendem congelar ou cercear a vida. Para tanto, ela precisa conhecer e expor a verdade. A poesia é a atividade em que ponho em jogo, até onde não possam mais ir, todos os meus recursos — todo o meu intelecto, toda a minha sensibilidade, toda a minha intuição, toda a minha razão, toda a minha experiência, todo o meu vocabulário, todo o meu conhecimento — a serviço de uma expressão concentrada da vida, numa escritura que mereça intrinsecamente existir. Entre outras coisas, a filosofia defende e guarda o espaço da poesia; para tanto, porém, ela não deve ser poética, mas veraz. Por outro lado, é evidente que a filosofia é um — mas apenas um — dos elementos que posso pôr em jogo, ao escrever poemas.
• Poderíamos dizer então que defendes que em ambas a relação entre conteúdo e continente deva ser recíproca, ou crês que a filosofia teria um vínculo maior com a imanência, ao passo que à poesia coubesse mais ambientar-se com a transcendência?
Na boa poesia, é impossível separar conteúdo de continente. No limite, o bom poema é intraduzível. O próprio material imediato da poesia são as palavras. Mas penso que a boa filosofia não é poesia. O seu material são conceitos que podem ser expressos por intermédio de diferentes palavras. Ao contrário de Heidegger ou de Wittgenstein, que, cada um à sua maneira, movido por um intenso ódio à modernidade, tentou relativizar a própria razão, penso que, em última análise, as palavras devem e podem ser continentes arbitrários para os conteúdos da filosofia. A filosofia deve em primeiro lugar defender as suas próprias condições de possibilidade. Em segundo lugar, porém, ela é a expressão necessária do princípio da necessidade reduzido ao mínimo, isto é, reduzido à mera função de proteger a vigência máxima do princípio da liberdade; em outras palavras, é o mínimo de não-poesia necessário para garantir-se o máximo de poesia no mundo. Em outras palavras, tenho a poesia como hierarquicamente superior à filosofia, pois esta existe em virtude da necessidade de defender aquela. Isto, porém, significa que, para mim, é a poesia que é autotélica, isto é, que tem a sua finalidade em si própria, enquanto que a filosofia é heterotélica, isto é, tem a sua finalidade na defesa da liberdade, inclusive da liberdade poética. Quanto à questão de imanência versus transcendência, tenho que confessar que me é inconcebível qualquer transcendência radical e absoluta, isto é, religiosa. Não concebo a transcendência senão relativa, no interior de uma imanência última. Dito isto, a poesia pode ser tomada como o exercício e o esplendor da transcendência na imanência.
• Estava lendo um livro do Luther Link (The Devil, 1995), e há uma passagem em que diz que “às vezes a fonte de uma obra é a própria obra”, salientando que “os diabos com asas de morcego de Giotto parecem ser um exemplo específico disso”. Poderíamos pensar em uma fonte revelável de tua poética?
Concordo com a afirmação de que muitas vezes a fonte da obra é a própria obra. Mas acho que a verdadeira fonte de uma poética não é revelável; ou, pelo menos, não é revelável para o próprio poeta. Para mim, a fonte e o fim se confundem num ponto de fuga ao qual a minha visão e a minha razão instrumental não têm acesso pleno. Estas são muito adequadas para falar de meios, e o que dizem, quando são totalmente lúcidas, é que os meios dependem dos fins; ora, dos fins (que, de novo, se confundem com as fontes), elas não sabem falar.
• O crítico português Eduardo Lourenço refere-se a um aspecto essencial na poesia, uma natural exigência de “que inequivocamente a leiamos nos poemas mesmos e não que deles a extraiamos depois de lá a ter metido”. Concordas com isto? E de que maneira podemos situar na filosofia essa “dimensão inultrapassável da poesia”, segundo Fernando Guimarães?
Concordo. O que metemos num poema não é o que faz com que um poema seja um poema: não é o que faz com que um poema mereça existir. O que faz com que um poema seja um poema — isto é, a poesia propriamente dita — é algo que não pode ser nem metido num poema nem extraído dele. Filosoficamente, a poesia é, como diz Kant, falando da beleza, um universal sem conceito.
• Caetano Veloso comenta que, durante a coincidente estada de vocês em Londres, nos anos 60, tua relação com a Tropicália expressava um “entusiasmo contido”. Qual seria a dimensão desse entusiasmo, e de que maneira te sentias integrado ao movimento?
Não participei da Tropicália e, quando conheci o Caetano, esse movimento já tinha terminado. Antes disso, porém, eu já avaliava a importância enorme da Tropicália na cultura brasileira. Entendo-a como um movimento libertário que, entre outras coisas, explodiu os muros ideológicos elitistas que pretendiam desclassificar tudo o que não se enquadrasse em estreitos parâmetros nacionalistas, bom-gostistas e pseudomachistas dentro dos quais se pretendia confinar a produção cultural brasileira. Em termos de música, ela completou o processo, iniciado pela bossa nova, de elucidação conceitual da natureza da música popular brasileira, em particular, e da música popular, em geral. Falo detalhadamente desse assunto num artigo que está publicado na revista Continente, no número de setembro deste ano.
• O nacionalismo populista que então se combatia — e não somente com o Tropicalismo, mas também com a atenção voltada para a Beat, o pop, o Surrealismo etc. — hoje se encontra substituído pelas táticas de consumo. A própria afirmação do novo não vai mais além do acento nas repetições e diluições de fórmulas já de todo reveladas. Recordo aqui tua clara distinção entre progresso artístico e cognitivo. Não te parece que o dilema permanece, apenas atualizados os mecanismos de negação dos valores universais?
Na resposta anterior, mencionei o papel de elucidação conceitual que o Tropicalismo teve na música popular brasileira. Ele é equivalente ao papel que a arte conceitual teve na pintura. Em outras palavras, o Tropicalismo é arte conceitual. Depois da elucidação que ele fez, a música popular brasileira se livrou de todas as restrições formais ou temáticas que lhe eram impostas em nome do epíteto “popular” ou em nome do epíteto “brasileira”. Isso não quer dizer que tudo seja bom, ou que valha tudo. Quer dizer apenas que não se pode a priori determinar o que é que é bom ou o que é que vale. Cada obra de arte é sui generis e exige ser considerada em si. Isso é o que todo artista sabe ou deve saber. O fato de que a indústria cultural e o grande público ignorem essa lição da arte conceitual é outra questão, que interessa antes ao sociólogo do que ao artista. De todo modo, a elucidação conceitual só precisa ser feita uma vez em cada arte e o Tropicalismo já a fez, no que diz respeito à música popular.
• Ao referir-se à influência da metafísica sobre as culturas de uma maneira em geral, Michel Leiris distinguiu as sociedades primitivas daquelas a que supostamente pertencemos, recorrendo a uma característica nossa de “irremediavelmente degenerados”. O que pretende conservar hoje a filosofia ao buscar uma aplicação na realidade?
Não conheço o texto nem o contexto em que Leiris diz isso, mas, prima facie, a distinção entre culturas primitivas e culturas degeneradas é inaceitável. “Degenerado” é o que se afastou da sua raça ou linhagem, ou das qualidades que a ela são atribuídas. Nas culturas tradicionais, baseadas em castas, é a aristocracia que cultiva a sua linhagem, da qual pretende que derivem os seus privilégios. Servos ou escravos não têm linhagem que se preze. O mesmo ocorre com as culturas racistas, tais como os nazistas alemães, os brancos sul-africanos, na época do Apartheid, ou os brancos do sul dos Estados Unidos. É por isso que, em tais culturas, afastar-se da sua linhagem é uma coisa terrível, de modo que nada lhes parece pior do que o adultério e a miscigenação. Na realidade, porém, toda cultura surge ou progride como “degeneração” de uma cultura anterior. Onde há mais cultura é onde há mais mistura. Entende-se assim que, no Ocidente, as grandes culturas e a própria civilização tenham surgido no leste do Mediterrâneo, onde se encontram os caminhos da Ásia, da África e da Europa. Toda cultura humana já é “degeneração” da natureza. Mais ainda, cada espécie que surge na evolução é a “degeneração” de uma espécie anterior. O caráter primitivo das “culturas primitivas” está no fato de ignorar a sua condição “degenerada”. Outra observação: os nazistas consideravam toda a arte moderna como “entartete”, isto é, degenerada e, como se sabe, fizeram, em 1937, uma exposição destinada a ridicularizar a chamada “arte degenerada”. Pois bem, eles tinham razão. Dizer, como eu disse acima, que cada obra de arte moderna é sui generis é exatamente dizer que ela se separa do genus, da raça, a que tradicionalmente pertencia. Isto significa que, fazendo-se degenerada, cada obra de arte constitui o seu próprio genus, constitui a sua raça individual. Em outras palavras, os nazistas desprezavam exatamente o feito — cognitivo — de que os artistas modernos mais podem se orgulhar.
• Leiris mostrava-se então cegamente apaixonado pelas culturas africanas. A miscigenação está na outra ponta desse conceito de “raça individual”. Mesmo recorrendo ao que o mercado absorve e expele como “world music”, o fato é que há um caráter excludente na cultura européia que ainda é determinante entre nós. Uma intensificação de misturas em escala planetária de que maneira se confunde com um aproveitamento para erradicação de algumas culturas?
Não creio que o mercado tenha realmente interesse positivo em erradicar cultura alguma. O que realmente me parece acontecer é que as diferentes culturas se apresentam, ao mundo moderno, como diferentes opções de vida, que podem ser livremente adotadas ou rejeitadas: e adotadas ou rejeitadas não só por razões profundas, mas também por razões superficiais; não só por razões sérias, mas também por razões fúteis: e isso é explorado pelo mercado. Mais ainda é explorado o fato de que elementos de diferentes culturas podem perfeitamente ser destacados da cultura em que se integravam ritual ou miticamente, e transportados para outras culturas, às quais se integram de modos inteiramente imprevisíveis. Assim, no Leblon, come-se sushi com fois-gras, acompanhado por vinho australiano, ao som ora de Belchior ora de Madonna. Mas o fato de que assim seja significa que o homem moderno já fez a opção fundamental por uma atitude crítica, uma atitude de distanciamento em relação a todas as culturas, inclusive àquela em que, acidentalmente, nasceu. Lévi-Strauss dizia que, quando jovem, defendia as culturas “primitivas” que estavam ameaçadas de desaparecer, mas que, depois de velho, percebeu que a própria cultura européia estava ameaçada de desaparecer: e passou a defendê-la. Na verdade, não acho que cultura alguma esteja ameaçada de desaparecer. O que acontece é que a instância fundamental, a instância decisiva, a instância última da subjetividade, a metalinguagem das metalinguagens é hoje a instância crítica, que é individual e não pertence a cultura alguma, mas sim à modernidade, isto é, à civilização, que é a meta-cultura. Ante essa instância, todos os ingredientes de todas as culturas — da brasileira, da francesa, da alemã, da americana — são meras opções individuais. Todas as culturas sobrevivem nos museus ou nos shopping centers, mas nenhuma é essencial: todas são acidentais, todas são contingentes, todas são disponíveis e descartáveis. Mas estou longe de lamentar que seja assim. Este é o meu mundo. Eu detestaria viver num mundo pré-moderno.
• Recordo uma afirmação tua de que “a poesia é compatível com uma infinidade de formas”. O assunto seria de todo óbvio não fosse o fato de que vez por outra ouvimos falar no anacronismo do soneto ou na rejeição à letra de canção como eventual protagonista do poético. Não te parece que de alguma maneira idealizamos um modelo de vanguarda, estritamente formalista e congelado no tempo?
Sim. Estou convencido de que a vanguarda, tendo cumprido a sua função libertadora, acabou. O legado da vanguarda foi a desfetichização das formas tradicionais. O fetiche, como o feitiço, é um objeto ao qual falsamente se atribuem poderes mágicos. Um exemplo muito claro de fetiche é a rima. Os poemas gregos e latinos não eram rimados. A rima é uma invenção da era medieval adequada às línguas modernas. No século 19, ela já tinha sido tão associada à poesia, já que a maioria esmagadora dos poemas que se faziam era rimada que, por um lado, o que não fosse rimado não era tomado como poesia e, por outro, um conjunto de versos rimados era automaticamente tomado como poesia. É porque à rima se atribui, desse modo, o poder de produzir poesia, que ela é um fetiche. Ora, o modernismo do século 20 deu preferência aos versos brancos, sem rima. Inicialmente, questionava-se se tais versos podiam ser considerados poesia. Com o tempo, porém, a qualidade patente de muitos de tais versos tornou impossível negar que fossem poesia: o que também chamou atenção para o fato de que a maioria esmagadora dos versos rimados não chegava a ser poesia, no sentido forte da palavra, isto é, de que não chegava a ser boa poesia. Estava assim desmascarado o caráter de fetiche da rima. Ao desencantar as formas encantadas, a vanguarda mostrou que a poesia ou o poético não existe prêt-à-porter à disposição do poeta, nestas ou naquelas formas fixas ou rimas ou metros ou palavras; inversamente, mostrou também que a poesia não é necessariamente incompatível com nenhuma forma determinada. Ela se encontra somente em obras singulares, onde é o produto de uma combinação absolutamente imprevisível e irreproduzível de fatores que não podem ser definidos a priori. Mas essa descoberta é o resultado final da atividade das vanguardas: é o que ficou depois que elas terminaram o seu trabalho, isto é, depois que percorreram o caminho que nos trouxe da pré-modernidade à modernidade plena. Esse caminho, porém, não foi uma linha reta. A história nunca é assim. Antes de desfetichizar as formas tradicionais, a vanguarda as manteve fetichizadas, porém inverteu o valor desse feitiço. Se tradicionalmente as formas convencionais haviam sido as únicas formas admissíveis na poesia, a vanguarda passou a tomá-las como as únicas formas inadmissíveis na poesia. É o que chamo o “fetichismo negativo” da vanguarda. Pois bem, o modelo de vanguarda a que você se refere é exatamente o que ainda praticava o fetichismo negativo. Que pode haver de mais superado? Por outro lado, dizer que a vanguarda acabou não é dizer que acabou a poesia experimental. Ao contrário, a poesia experimental pode ser muito boa e é às vezes brilhante. Apenas, ela não é a única forma legítima de se fazer poesia, no mundo pós-vanguardista em que vivemos.
• Recordo uma passagem do livro Verdade tropical, em que o Caetano Veloso diz, a teu respeito: “depois de algum tempo, ele se afastou da canção para poder dedicar-se àquilo de que mais gosta: filosofia e poesia”. Houve mesmo esse afastamento?
De fato, faço menos letras hoje. Faço mais poemas para serem lidos. Reconheço-me mais nestes do que naquelas. Por quê? Porque o sentido da letra de música é fazer parte de uma bela canção. Ora, como não sou compositor nem cantor, a letra que faço é sempre apenas uma parte — e possivelmente uma parte secundária — da canção que ajudo meu parceiro ou parceira a fazer. Já o poema que faço vale (ou não vale) por si, independentemente de qualquer outra consideração. Em suma, uma canção é uma obra parcialmente minha, enquanto um poema é uma obra totalmente minha.
• Não te parece que isso poderia ser remediado com a presença (descoberta) de um parceiro único, um cúmplice mais cônscio do que pretendes dizer por meio da canção?
Não. Acho que tenho os melhores parceiros possíveis: que são inteligentes e percebem as minhas intenções. Mas o que ocorre é que a minha forma de expressão é realmente a palavra e não a música. Gosto de fazer coisas que possam ser entendidas imediatamente, num primeiro nível, mas que, para serem realmente apreciadas, exijam uma concentração, uma atenção para os detalhes e para sugestões que não são compatíveis com a audição, mas somente com a leitura e a releitura. Ou seja, a finalidade de tudo o que faço é ser lido.
• Um dos maiores equívocos do Surrealismo foi o de considerar a música como uma atividade de mentalidades inferiores. Breton era tão surdo quanto João Cabral. E ambos eram essencialmente metódicos, considerando de menor importância as imagens auditivas. Como vês o assunto?
Para dizer a verdade, com o passar do tempo a música tem se tornado menos importante para mim. Mas a sonoridade do poema me é fundamental.
• Suponho que essa menor importância não é sinal de recusa à música em si, mas antes uma saturação. Eu sinto o mesmo em relação ao poema e acho bastante natural. Creio que há uma proporcionalidade no ramo de prostituição das artes a ser observado corretamente, ou seja, como a música está mais presente nessa tática voraz de anulação do ser, acredita-se que maneje a sós todos os disparates, digamos. Contudo, há comportamentos igualmente desprezíveis ou quando menos aborrecidos verificados no teatro, na poesia, no cinema etc. Não te parece?
Não é que eu recuse a música, mas que a música não é o meu médium artístico. O meu médium é a poesia, que, por isso, tem uma importância muito maior do que as outras, para mim. Agora, de fato, acho que é cada dia mais difícil fazer arte, e isso vale para todas as artes.
• Tuas observações sobre a poesia brasileira sempre me parecem muito pertinentes. No entanto, sinto falta de uma leitura crítica dos poetas da canção popular, que seja feita a eles uma avaliação correspondente. Acabamos limitando o assunto, simplesmente enfaixando-o. O que pensas, por exemplo, de um letrista como Belchior? E como convives com esses pares todos?
Acho Belchior muito bom. De modo geral, acho que há mais letristas bons no Brasil do que nos Estados Unidos ou na Inglaterra.
• Tendo a concordar contigo, mas ao mesmo tempo penso em letristas como Nick Cave ou Tom Waits e mesmo o canadense Leonard Cohen, que me parecem haver alcançado uma densidade invejável. Claro que não se deve misturar o assunto tocando no refinamento harmônico e melódico de nossa canção popular. Não é fácil encontrar um Edu Lobo a qualquer momento, por exemplo. O que estava sugerindo é que não temos uma discussão estética sobre a canção popular pensada a partir de seus letristas, como se não fosse possível detectar ali a presença de algumas sólidas poéticas.
Acho que realmente faz falta esse tipo de estudo. Mas os brasileiros têm uma tendência tão grande ao corporativismo que esse tipo de discussão tende a se transformar na luta entre a corporação virtual dos poetas livrescos, que querem negar o título de “poeta” aos letristas, e a corporação virtual dos letristas, que acham que merecem tal título. Posta nesses termos, a questão não me interessa.
• Teu novo livro de poemas inicia-se com uma indagação (“por onde começar?”) e conclui-se por uma afirmação (“largar”). Temos aí a idéia do poeta a desfazer-se de si, em busca do outro, suponho. Que outro buscas através de tua poesia?
Eu não poderia antecipá-lo, defini-lo, nomeá-lo. Busco o que quer que, sendo terrestre, material, imanente, concreto, temporal, objetivo, empírico, sensual etc. e, portanto, precário, relativo, acidental, contingente, finito etc., seja também maravilhoso (quando poderia não ser).
• Claro, Cícero, claro. Nem te peço que o prenuncies. Contudo, imagino que cobices algo deste objeto eternamente inconciliável com teu desejo. Ou não esperas nunca nada de ti?
Talvez o que eu queira dizer seja que o que busco na minha poesia é imanente ao poema, isto é, que se manifesta exclusivamente no poema, e que, fora do poema, eu não saberia dizer o que é. É o poema que o traz à vida.
• Por último uma provocação: em uma entrevista lembraste aquela do Yeats de que se pode mexer nos poemas porque eles significam uma mudança ulterior (“é a mim próprio que estou mudando”). Em um outro diálogo, desta vez a respeito do que se convencionou chamar de “poesia marginal”, dizes que isso nunca te interessou, porque “era claro que a poesia não era vida, mas escritura, isto é, produção de formas”. Então me vem a curiosidade de saber como convives com tal contradição.
Acho que essa contradição é mais aparente do que real. Enquanto poeta, levo a sério a palavra de Mallarmé segundo a qual o mundo — a vida — existe para virar um livro. Não penso que a poesia seja simplesmente idêntica à vida porque o poema é, como diz o belo título de um livro de Drummond, A vida passada a limpo. Se o poema é a vida passada a limpo, então a vida é o rascunho do poema. Ora, o rascunho ainda não é o poema. O poema, por sua vez, já não é mais o rascunho. E o processo de passar a vida a limpo é a poesia, a poesia-escritura, que faz parte da vida, mas nem se reduz à vida-rascunho nem ao poema pronto. Nesses termos, quando Yeats escreve um poema, está passando a sua vida a limpo. Quando o corrige, ainda está passando a sua vida a limpo: ainda era rascunho o poema que ele erroneamente pensara estar pronto. Como, porém, o poema é o telos da vida do poeta, podemos dizer dele que é o poeta em sua realização definitiva. É nesse sentido que o poeta muda a si próprio, quando muda um poema: muda-se “tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change”.