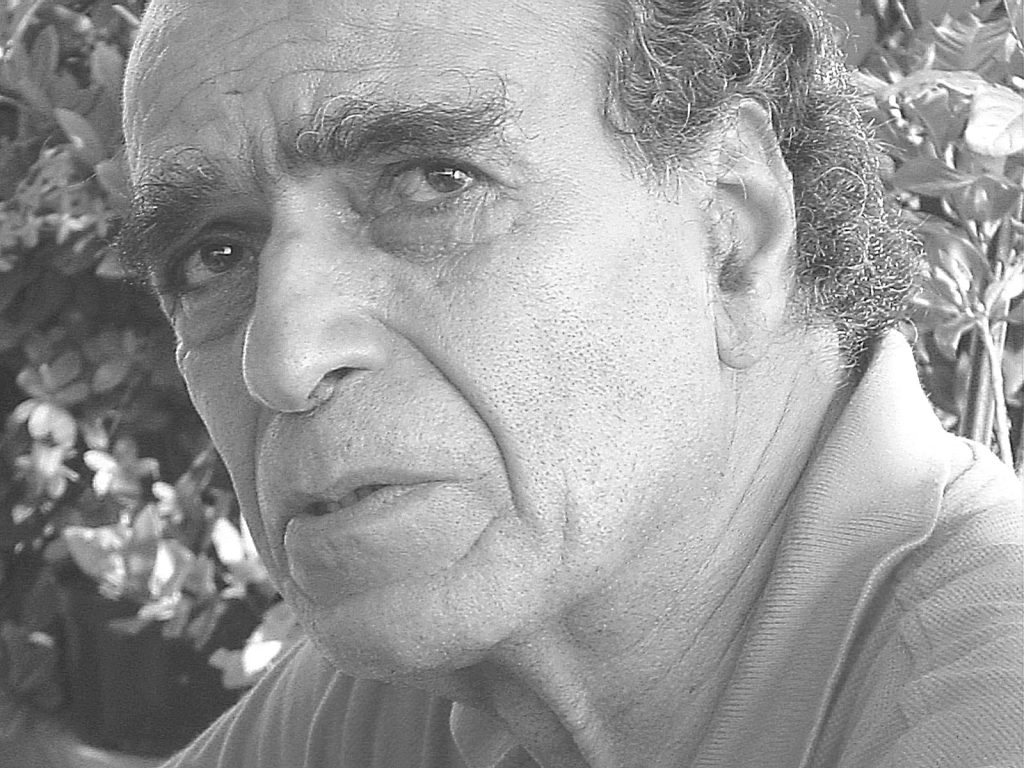• Em 1962, você publicou Desemprego do poeta, um ensaio em que investigava o papel do poeta na sociedade. Como você vê a figura do poeta hoje?
A poesia é algo atemporal. Ela tem uma função no imaginário humano e sempre existirá deste modo. Acho que cabe ao poeta redescobrir permanentemente seu lugar dentro da sociedade.
• Uma crítica costumeira que se faz da poesia contemporânea é que ela se refugiou na Academia, na universidade, e se afastou do público.
Tenho pensado nos últimos dias no fato de que você lê uma certa poesia que está sendo produzida por aí, que é muito pequena e egótica. Ela não fala ao público, pelo público e do público. Ou seja, quando você pensa em García Lorca, no Romanceiro gitano, encontra poemas que narravam episódios e emoções que ficaram na memória. Você pensa em Drummond e recorda uma série de poemas que falam de perplexidades sociais, poemas que passaram a ser moeda de intercâmbio social. E assim com Neruda ou com Morte e vida Severina também. Já essa poesia que está por aí me parece muito fechada em si mesma, muito ilhada. Parece coisa de autista. Muitos caíram na armadilha da metalinguagem e não sabem como sair daí.
• Tratando desta proximidade que a poesia e o poeta teriam de ter com o público, como você analisa a obra de poetas como Pound e Eliot, considerados inacessíveis para a maioria das pessoas?
Considero Pound melhor professor de poesia do que poeta. No meu livro Que fazer de Ezra Pound, sobretudo no primeiro ensaio, tento mostrar isto. Existe uma tendência modernosa de achar que poesia é puro ludismo ou jubiloso hermetismo. Uma vingança contra a sociedade de consumo. Esta foi uma das grandes perversões da modernidade. A arte começou a falar de si mesma até que chegou ao silêncio total. Um silêncio, seja num quadro que é branco (Branco sobre branco, do Malevitch), seja num concerto de Cage, seja num poema de página branca, que não transmite nada. Eliot é mais legível que Pound, mas muito inferior a Drummond, Pessoa e outros em nossa literatura. Ser anglo-saxão é parte de metade do sucesso.
• Você veio de uma família humilde, pelo menos é isso que dizem todas as suas biografias. Você precisou fazer muita política literária para ter voz neste meio, que me parece bastante elitista?
Na verdade os escritores brasileiros, os artistas brasileiros, a grande maioria, vêm de camadas mais baixas. A não ser no modernismo, no qual tinha Drummond, Zé Lins do Rego ou Gilberto Freyre, que vieram da elite rural. Mas, em geral, os escritores vêm de baixo. E acredito que não precisei fazer muita política literária, não. Porque entre as primeiras coisas que eu comecei a denunciar estava justamente essa luta pelo poder literário, que confunde tanto os valores. Desde os meus primeiros ensaios, artigos e reflexões revelo uma certa perplexidade desde quando descobri que a literatura não era uma agremiação de pessoas com bons sentimentos. Sempre disse o que pensei, e numa entrevista nos anos 70 à revista Escrita cheguei a dizer: “já preenchi a cota de inimigos deste mês”.
• … é, eu estou nesta fase…
…foi chocante ter descoberto que o ser humano é o mesmo em todas as profissões e que a ética no espaço artístico nem sempre cruza com a estética. Uma das vezes que tive a atenção voltada para isso foi quando eu vi um texto do Otto Maria Carpeaux em que ele lembrava uma pesquisa feita na Inglaterra: pode um nazista escrever um bom poema? E dentro da prática literária você também percebe que o mal também vence bem, o ruim vence o bom. E grande parte das dificuldades que tive dentro da vida literária foi por não aceitar o jogo de certos grupos que controlam certos discursos e publicações.
• Você se aproximou dos movimentos de vanguarda em 1956. Esta aproximação ou filiação se deu por afinidade estética mesmo ou por estratégia política?
Eu diria que houve o cruzamento das duas coisas: uma transformação pessoal e um evento histórico. Descobri há pouco tempo, mexendo nuns papéis antigos, que em 1952 havia feito uns poemas que eram visuais, no sentido de estar preocupado em inserir no texto o espaço da música, a pauta da música. Uma coisa um pouco esdrúxula, mas que era a inquietação do jovem que vive seu tempo. E olha que nem tinha notícia de Mallarmé e muito por alto sabia alguma coisa de vanguarda, pois era um ginasiano. Então, eu estava procurando algumas experimentações, meu caminho. Acontece que a partir de 1956 surgiram estes grupos que tiveram maior visibilidade. E eu tive uma certa aproximação, mas sempre uma aproximação crítica. Nunca pertenci de carteirinha a nenhum grupo. Troquei correspondências com os irmãos Campos, tinha uma boa relação com o grupo Tendência, participei do movimento Violão de Rua, tendo sido até quem criou o Centro de Cultura Popular de Belo Horizonte. A poesia brasileira a partir dos anos 50 ficou esquizofrênica, dividida entre o canto e a palavra. Eu preferi ficar com os dois, e este é o título do meu primeiro livro em 1965, Canto e palavra. Sentia-me livre para fazer uma poesia mais experimental ou mais discursiva, como me sinto livre até hoje. Tenho horror a capelas. Minha experiência religiosa eu a esgotei com 16 anos.
• Ano passado comemorou-se o centenário de Drummond, sobre o qual você escreveu uma tese em 1972. O Diogo Mainardi diz que Drummond é dono apenas de um lirismo kitsch. O que você tem a dizer sobre isso?
Esta frase pode ser uma frase de efeito jornalístico. Mas não faz justiça nem á obra de Drummond, nem à inteligência do Diogo Mainardi.
• Aliás, diz-se por aí que o Drummond não gostou muito da sua tese. É verdade?
De onde tiraram isto? Posso contar mil estórias. Não só o fato de ele ter dito “você me desparafusou todo”, o que é insólito elogio para quem não era dado a efusões, mas por outros fatores. Um dia passei por uma livraria lá do centro do Rio para saber se tinha o Drummond — o gauche no tempo e o atendente disse que o poeta passou lá e comprou todos. Talvez tivesse comprado para queimar, quem sabe? Depois, quando o livro ganhou quatro prêmios nacionais, foi o próprio Drummond que, com alguma emoção, me ligava comunicando.
• Minhas fontes são muito maledicentes mesmo… Que seja. Depois da sua tese, Drummond continuou produzindo por mais de uma década. Você acha esta produção do fim da vida essencial ou aceita a teoria de alguns críticos que dizem que Drummond não era mais Drummond na década de 80?
Quando você estuda a obra de um autor a fundo, quando este autor tem uma obra sistêmica, você tem uma visão diferente da daqueles críticos eventuais que trabalham com parcelas da obra. Neste sentido, analiso a obra dele como um projeto que se realiza no tempo e no espaço, um projeto poético-pensante. As fases da poesia dele são fases orgânicas que vão se desenvolvendo, como na metamorfose de uma borboleta. Neste sentido, certa crítica sempre cometeu o equívoco de dizer que a melhor parte da poesia dele era a parte social; e a outra crítica dizia que não, que era a parte metafísica. E, da mesma maneira, pessoas ultimamente se aventuraram a emitir juízos sobre esta última parte. Acho que sua obra é um sistema só. Ele decidiu nos últimos livros fazer uma coisa original dentro da literatura universal: escrever a sua biografia, contar a história do seu país em versos, de maneira informal. Tem que se olhar para isso dentro da relação entre biografia e história. E, sobretudo, pensando na liberdade que o autor pode ter de, a qualquer momento, fazer o que ele quiser, sem ficar escravo da própria obra. De resto, para minha tranqüilidade, todos os livros que ele publicou a partir de 1969, quando minha tese ficou pronta, só vieram confirmar o modelo de análise que propus.
• O Wilson Martins disse que você seria o sucessor do poeta de Itabira. Como é escutar isso? É uma profecia ou uma praga? Você concorda?
A primeira conseqüência desta frase foi que eu descobri que tinha muito candidato ao posto de sucessor de Drummond. Houve gente que ficou despossuída diante desta frase. Até mesmo prosadores. O Wilson Martins retomou este assunto em vários artigos e desenvolveu melhor a idéia original. Ele não falava de “sucessão” nesse sentido monárquico, mas sim de um poeta que retoma o projeto anterior de sua cultura e expande de alguma maneira. Ele falava de grandes famílias dentro da poesia brasileira e tentava me situar dentro destas grandes famílias.
• A sua formação religiosa influenciou ou influencia ainda de alguma maneira sua poesia?
Sem parar. Sem parar. Tem uma batida bíblica que não se pode apagar. Pode aparecer às vezes de forma mais densa, condensada, com apropriação, com citações diretas de versículos bíblicos. Por exemplo, num dos poemas que eu publiquei, que se chama Sobre os rios da Babilônia, sobre a Guerra do Iraque, tem lá a apropriação de uma série de versículos bíblicos, dos Salmos e do Livro de Jeremias e até mesmo de livros sagrados dos antigos babilônios.
• Você teve poemas publicados em seção de política de jornais. Poesia engajada ainda é uma coisa válida?
Toda poesia boa é engajada, porque ela está dizendo alguma coisa que interessa, bate na alma do leitor. Ainda que seja sobre amor, sobre algo aparentemente vago, seja sobre a morte — pode haver nisto engajamentos. Agora, quando há uma referência histórica e política, acho que a poesia está apenas desempenhando um papel que ela sempre teve, quando os xamãs ou os poetas populares, menestréis ou cantores nordestinos faziam uma espécie de jornal das emoções do seu tempo. E um poema como Que país é este? publicado no Jornal do Brasil, em 1980, sendo engajado, você há de convir, é também um poema de alto rigor formal.
• A crônica surgiu na sua vida como forma de comunicar coisas que o poema não conseguia?
Espantosamente, o primeiro texto que eu escrevi na minha vida foi uma crônica. Fiz uma crônica para um jornal quando eu tinha 16 anos, por aí, depois escrevi uns poemas, outra crônica,… Fazia crônica para uns jornais de Minas, depois aqui no Rio publiquei na revista Manchete, antes de o Jornal do Brasil me chamar, em 1984, para substituir Drummond. Daí a crônica passou a ter um espaço maior dentro da minha obra, da minha vida. Em dois sentidos. Primeiro, certo tempo da semana que é dedicado a isto. Escrevo uma crônica sábado para O Globo e outra domingo para o Estado de Minas. Depois o fato de que publiquei uns oito livros de crônicas, fora as antologias. Tenho de reconhecer que a crônica acabou carreando parte da minha poesia. Muitas vezes escrevendo uma crônica, acho que uma frase ou outra é a raiz de um poema, é um verso solto, mas eu não posso parar para escrever o poema porque tenho de entregar a crônica daí a duas horas, e o poema às vezes precisa de mais tempo. Minha crônica se alimenta de poesia naturalmente.
• Você chegou a escrever poesia para a TV. Isso deve ter chocado um bocado os puristas.
Isso foi uma experiência em 1986, durante a Copa, precedida de um poema que me encomendaram para o Jornal Nacional, sobre a final da Fórmula 1, no Rio. Aquelas coisas dos heróis modernos naquelas roupas, aquelas mulheres deslumbrantes, a velocidade, a morte, a glória, a fama são temas atemporais. Havia qualquer coisa de tragédia grega naquilo. Tentei botar isto em palavras e imagens que sugeri. Por temperamento, eu aceitei o desafio da televisão. Você tem que ser humilde, como acontece na publicidade e como acontece no jornalismo. Aliás, quer saber de uma coisa?, grande parte da arte ocidental e oriental foi feita de encomenda. Pergunte a Mozart, Bach e a todos Michelângelos e Da Vincis. Tinham de condicionar a obra que estavam fazendo ao espaço sob medida da igreja e ao tempo na missa. Na história da arte, sempre houve o condicionamento da encomenda. No meu caso, como era um desafio eu resolvi aceitar. Até porque no primeiro livrinho que publiquei questionava a ambigüidade de João Cabral, que tinha falado uma coisa interessante, em 1945, dizendo que o poeta moderno não havia se apropriado dos meios de comunicação do seu tempo. Pois, infelizmente, Cabral nunca se apropriou, nem nunca se interessou pelo rádio e televisão. Eu, por temperamento, resolvi aceitar este desafio.
• Em uma entrevista você disse que tem dificuldade, em suas viagens ao exterior, de explicar o que é a crônica. A crônica é um gênero brasileiro por excelência?
Acho que tem muito de Brasil nisso. Aí fora o que eles chamam de crônica é um pouco diferente. Não há a consciência de que aquilo é realmente um gênero literário. Isso se deve, evidentemente, mais à geração do Rubem Braga, que deu consistência a isso. Claro que José de Alencar e Machado fizeram crônicas, mas aquilo ainda não era crônica do modo que a conhecemos hoje.
• O Brasil teve uma tradição de poetas que escreveram crônica, como Drummond e o Bandeira, por exemplo. Isso acabou?
Não, isso continua. O problema da definição da crônica é distinguir os limites entre o que é crônica, o que é artigo e o que é coluna. Colunista é uma coisa, articulista é outra e cronista é outra. Tem uma sutileza nisso. O próprio Machado era muito articulista. Ao passo que um Rubem Braga, quando comenta o nada, por exemplo, o sujeito que está nadando em Ipanema, o texto resulta como se fosse um poema. A poesia é o gênero que melhor sabe tratar o “nada”. Na poesia o nada se cria e o nada se transforma. Poesia, como a crônica é aquilo que brota na fresta do dia. A crônica é quando no jornal ou revista, o dia-a-dia respira. Por isso é que o leitor de jornal vai à crônica, procurando esta exalação lírica, esta respiração. Hoje eu diria que a crônica está um pouco banalizada. Houve uma invasão dos bárbaros. O sonho de todo jornalista é ser cronista e isso é uma coisa muito arriscada, porque, mais do que ser jornalista, para escrever crônica tem que ser escritor.
• Voltando a falar de poesia, me parece que hoje existe uma grande confusão entre o compositor de MPB e o poeta. Caetano e Gil estão aí para mostrar, lançando livros com as músicas reunidas como se fossem poemas, sob o beneplácito da academia. Fale sobre isso.
Acho que esta confusão existe. Mas existe uma confusão anterior, entre o que é poesia e o que é poesia. Depois tem outra confusão: o que é prosa e o que é poesia. E depois entra esta coisa da música e da poesia. Se você pega o Jorge Bem, ele faz prosa musicada, como muitos blues americanos. Já um cantador nordestino faz música metrificada e rimada, mas não significa que seja necessariamente poesia. Pode-se ser um bom versejador sem ser um bom poeta. Portanto, a confusão é muito mais ampla. Mas você pode pinçar na obra do Caetano, Gil e Chico poemas. Você precisa saber se aquele poema sobrevive sem o suporte musical.
• Você está lançando Desconstruir Duchamp, reunião de textos sobre artes plásticas. Eu quero saber uma coisa: aquele discurso do Monteiro Lobato contra a Anita Malfati, Paranóia ou Mistificação, é ainda válido? Monteiro Lobato depois pediu desculpas e tal.
Interessante e provocativa essa aproximação. A relação Lobato/Malfati tem sido insuficientemente examinada. Primeiro ela não era tão grande pintora quanto ficou parecendo. Seu nome ficou mais em razão do escândalo. Em segundo lugar, Lobato não era tão ignorante em termos de arte, era, aliás, crítico de arte. Outro dia, numa conferência minha sobre a necessidade de revisão da modernidade e da pós-modernidade, alguém falou: — Você não tem medo de ser comparado a Lobato em relação à Anita Malfati? Eu respondi gostosamente. Acho que a aproximação é legítima, porém invertida. No caso, a Anita Malfati sou eu. E os que não estão entendendo as propostas que botei naquele livro é que são Monteiro Lobato. Eu estou falando a partir do século 21 e algumas pessoas estão ouvindo ainda com as orelhas no século 19. Já fiz a digestão da modernidade e da pós-modernidade, estou pra lá de Marrakesh.
• Em seu livro você diz que as artes plásticas que se fazem hoje estão muito próximas da literatura, até porque se apóiam num conceito cuja linguagem é a escrita.
Eu considero as artes plásticas atuais um ramo da literatura. Aliás, já Tom Wolfe, na década de 70, escreveu um livro clássico chamado A palavra pintada, que diz justamente isso: que a pintura se transformou em palavra. As obras têm a receita, a bula, o manifesto, a explicação do artista, assim é a arte conceitual. O que me fascina na arte moderna e contemporânea é que, se transformando numa arte do conceito, portanto, um ramo da filosofia e da literatura, ocorreram duas coisas: perplexos diante das obras, as pessoas se esqueceram de analisar o conceito que era fundamental. E muitos destes conceitos, se analisados, são muito pobres e muito mal-executados. Parecia que pelo simples fato de uma obra se apresentar como conceitual você não teria ferramentas para analisá-la, porque estaria no imponderável, na imaginação… No entanto, é possível analisar isso! E uma das observações mais curiosas que eu fiz entre manifestos e proclamações que os artistas faziam de suas obras foi não só a incongruência entre o que estão falando e estão fazendo (isso é grave), mas é a incongruência da própria coisa que está sendo falada em si mesma. Como pensamento lógico, como pensamento lingüístico, muitas dessas obras não se sustentam. Por isso é necessário fazer uma revisão. Imagine que o maior crítico americano do século 20, Clement Greenberg, disse essa tolice: a lingüística não tem nenhuma contribuição a dar à crítica de arte. Estou exatamente demonstrando que é isto que faltava como instrumentação para se sair do caos, ao mostrar que, ao se estudar o fenômeno do deslocamento/metonímia e da condensação/metáfora, acaba o enigma Duchamp.
• Uma coisa que você diz sobre as artes plásticas me interessa porque parece se refletir também na literatura: a crítica tem medo de falar mal de qualquer nome com um mínimo de evidência. É possível traçar este paralelo?
Não, porque são duas coisas diferentes. Nas artes plásticas, houve o trauma do novo, do enigma, daquilo que não se entende. Diante daquilo que não se entende, não se pode ir contra sem correr o risco de ser taxado de conservador e reacionário. E, além disso, o fato de que estas obras apresentadas em geral, por serem um enigma vazio, passaram a ser interpretadas por críticos e ensaístas como se tivessem fecundos significados. A crítica de arte se transformou numa espécie de action writing, ou seja, muita gente começou a inventar ou reinventar a obra que a rigor não existe. Você lê e vê a obra e as duas coisas não batem. Já na literatura é diferente. Ainda existem críticos. Existem pouquíssimos que são críticos de longo curso. No Brasil o único de longo curso é o Wilson Martins. Por outro lado, na literatura, embora crítica exista, ela é muito partilhada em grupos. Construíram-se feudos em torno de alguns jornais e algumas revistas. O público não tem instrumentos para decodificar por que um livro não aparecesse em determinado jornal, ou por que aquele jornal e revista fala mal de tal autor. São críticas com carta marcada. Parece mais partido político ou religião.
• Você acha que o Rascunho é também um feudo?
Não. O Rascunho, no meu fraco entender, é um fenômeno. Primeiro de sobrevivência econômica. Segundo, pelo que eu tenho visto, tem dado acolhida a pessoas de todos os naipes. E, sobretudo, para gente jovem que a gente não tem a menor idéia do que esteja fazendo. Acho vocês muito corajosos. Têm inclusive a coragem disponível para cometer erros. E sem cometer erros, ninguém acerta.
• As pessoas o desqualificam para falar de artes plásticas porque você é poeta?
Alguns podem achar que desqualificam, já outros acham que exatamente por causa de minha formação estou qualificado. Aliás, para lembrar apenas, foi Baudelaire quem sacou a modernidade na pintura, foi Apollinaire quem sacou o cubismo, foi Mário de Andrade quem sacou tudo em nosso modernismo. Acho que estou em boa companhia. Um dos textos que me deram maior alegria de escrever naquele livro, foi exatamente respondendo à pecha de “forasteiro”, que a máfia que controla as artes plástica tentou me colar. Repito, só uma intervenção interdisciplinar pode tirar o entulho que puseram em nossa frente. E é isto que eu e outros (no exterior) estamos fazendo.
• O outro livro que você está lançando faz menção direta a um dos ícones da vanguarda brasileira: Ezra Pound. Qual a real dimensão da influência de Pound sobre a literatura brasileira?
A influência imaginária é maior do que a real. Eu diria que a real é quase nula. Só exerceu influencia na poesia de Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos. Depois tem os epígonos, os que ficam repetindo o catecismo ouvido sem raciocionar. Eliot é melhor que Pound, como Baudelaire é disparado mais importante que Mallarmé. Clarice dizia que tem gente que fica engastalhada numa palavra e perde anos de vida. Tem gente engastalhada nas palavras “Mallarmé” e “Joyce”.
• Mas estes três nomes não acabam irradiando Pound pela poesia de seus discípulos?
Sim, eles são usinas geradoras. Mas os outros são retransmissores, sem originalidade e sem a igual competência.
• Você acha que o discurso autoritário de Pound (que era nazista) se manifesta no discurso autoritário dos irmãos Campos & Décio?
Sem dúvida. Pessoalmente são boas pessoas, mas a prática estética é autoritária. Assim como Pound não tinha dúvida nenhuma sobre o que era certo e o que era errado, eles também não têm dúvida nenhuma sobre o que é poesia e o que não é poesia. E isso é muito perigoso. Guimarães Rosa, que era um sábio e estava na terceira margem do rio, certa vez disse se ironizando: “Eu tive um dia a fórmula da verdadeira poesia”… Eu diria, teve e abriu mão dela para poder fazer sua poesia.
• Como tem sido a repercussão do livro na academia, sobretudo a paulista?
Acho que São Paulo é uma fortaleza de resistência. A USP e a Unicamp têm muita dificuldade de aceitar bibliografia que não seja gerada no seu próprio campus. Há uma endogenia empobrecedora aí, algo intelectualmente incestuoso. Nem todos têm a grandeza de Antonio Candido, que manteve uma polêmica comigo em torno d’O cortiço e acabou reconhecendo que eu tinha mais razão do que parecia.
• Alguém escreveu outro dia que discutir poesia concreta é uma besteira, que o assunto está encerrado, coisa e tal. Você concorda?
O concretismo entrou para a história, é coisa do passado. Eu sempre cito uma frase que para mim liquida o problema: a poesia brasileira, num certo momento, avançou com o concretismo; depois teve de avançar apesar dos concretistas.
• Para muitos, você teve uma atuação expressiva à frente da Biblioteca Nacional. Mas corre à boca-pequena que você foi “tirado” da Biblioteca Nacional por grupos rivais. Isso é verdade?
Eu acho que o trabalho na Biblioteca Nacional ganhou um reconhecimento nacional e internacional. E quando você está no poder você sofre constrangimentos de toda ordem, quanto mais êxito alcança. Em geral a fórmula de sobrevivência no serviço público é essa: fique no seu canto, fingindo que não está nem aí. Tem gente especialista nisto: em “ocupar cargos”. Vivem pulando de um cargo para outro exatamente porque não fazem nada. Em relação específica ao que ocorreu na minha saída foi uma coisa muito simples e decepcionante: dirigentes e funcionários do Ministério da Cultura deram entrevista ao Jornal do Brasil dizendo uma coisa óbvia: que não tinha dinheiro para trabalhar. Francisco Weffort, o democrata, o ex-exilado, mandou que se retratassem publicamente. Mandou que Eliana Yunes, que falou pela Biblioteca Nacional, se retratasse e que eu a demitisse. Neguei-me a demiti-la. Então, ele me pediu para colocar meu cargo à disposição. Disse-lhe: Não. Faço questão que me demita, para que isto conste de seu currículo.
• Affonso, você falou que lá no início da sua carreira você se chocou ao perceber que literatura não é coisa só de gente boa, que pensa num mundo melhor, coisa e tal. Apesar disso, você continuou e continuou fazendo literatura. Me explica uma coisa: como?! Como lidar e acreditar nisso diante de tanta mesquinharia, tantos interesses menores que existem nesta atividade que o público acha tão glamourosa?
Eu faço isso porque é o que eu gosto de fazer: escrever, publicar, ver o que eu escrevi mobilizar as pessoas. Eu escrevo basicamente por isso. Quando escrevo entro em contato comigo mesmo, acho o centro de meu ser. É uma necessidade de expressão, comunicação e participação no meu tempo. Agora, o que ocorre na literatura ocorre em todos os lugares, do ballet à associação dos lojistas. Como dizia a Clarice Lispector no célebre diálogo final de A maça no escuro: “Você sabia que o ser humano é uma porcaria, meu filho? Você sabia que você também é uma porcaria meu filho?”. Então, é isso aí, meu irmão, a gente tem que saber lidar com os limites da condição humana.
• A ABL está nos seus planos? O que você acha da instituição?
Eu tenho uma ótima relação com a academia. Fiz várias conferências lá recentemente. Mas não está nos meus planos.