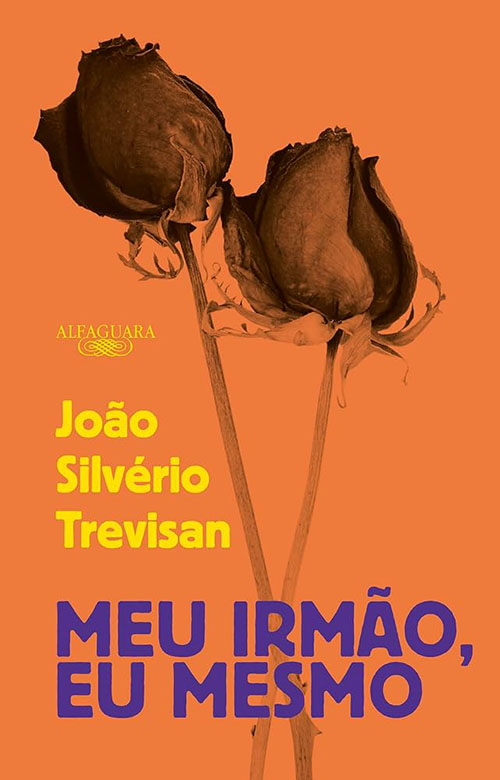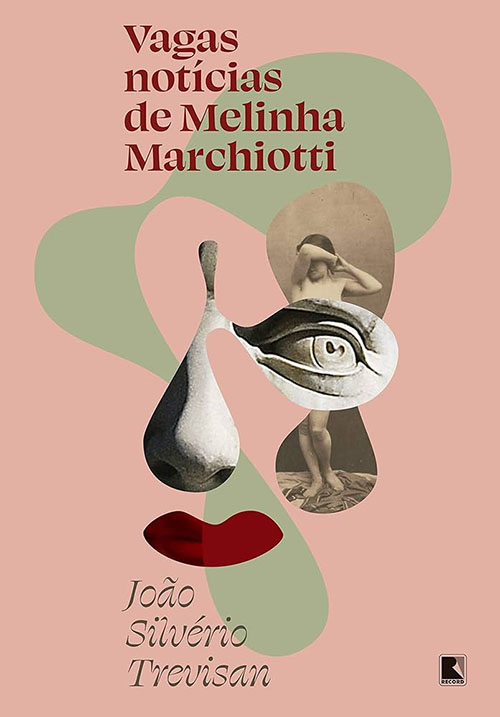Seis anos depois de ter publicado Pai, pai, João Silvério Trevisan volta a abordar temas ligados à própria família em Meu irmão, eu mesmo, romance que foca na relação do autor com Cláudio, seu irmão que faleceu em 1996, vítima de um câncer linfático fulminante.
Com capítulos curtos e linguagem densa e poética, a obra também passa pelo momento em que João Silvério Trevisan descobriu a infeção pelo vírus HIV, em 1992, e pelos primeiros passos como autor e ativista em defesa dos direitos de pessoas LGBTQIAP+, nos anos de 1970.
Agora, ele prepara Antropofágico amor, livro de encerramento de uma trilogia que, segundo o próprio autor, vem da necessidade de fazer um balanço sobre sua vida. “Meu irmão, eu mesmo é um projeto que já tem 30 anos e parte exatamente do período em que houve a revelação, a descoberta da minha infecção por HIV e do câncer linfático do meu irmão. Mas o primeiro, Pai, pai, não estava nos meus planos e acabou sendo ele o responsável por deflagrar toda a trilogia”, conta.
Além da obra autobiográfica, foi publicada em 2022 a segunda edição de Vagas notícias de Melinha Marchiotti, romance lançado originalmente em 1984 e considerado um importante marco na trajetória do escritor por conta de sua transgressão linguística e estilística.
Sua literatura, a relação com a morte, um doloroso desamor, o ativismo, a política, o caos e até o movimento Red Pill foram abordados ao longo desta entrevista realizada em Uberlândia (MG), quando João Silvério Trevisan esteve na cidade para receber o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
• Em Meu irmão, eu mesmo, você aborda o círculo familiar de forma bastante pessoal e intimista, assim como fez em Pai, pai. Quando percebeu que era o momento de contar essas histórias?
Não sei dizer ao certo, mas tenho esses projetos há muito tempo. Assim como o terceiro da trilogia, Antropofágico amor, no qual estou trabalhando agora. Meu irmão, eu mesmo é um projeto que já tem 30 anos e parte exatamente do período em que houve a revelação, a descoberta da minha infecção por HIV e do câncer linfático do meu irmão. Mas o primeiro, Pai, pai, não estava nos meus planos e acabou sendo o responsável por deflagrar a trilogia. Acredito que Pai, pai tenha a ver com a necessidade, talvez não tão consciente e não tão deliberada, de fazer um balanço. Em 2017, eu já estava com 73 anos e tenho a consciência muito clara a respeito da questão da morte. Em Meu irmão, eu mesmo falo muito sobre isso. É, na verdade, o livro que aborda esse tema de maneira mais frontal. Conto como há muito tempo, inclusive em períodos de análise, venho tentando abordar como estou perante a minha morte. Não acho que seja uma coisa doentia, longe disso, eu tenho que pensar na minha morte porque ela faz parte da minha vida. Na verdade, tenho que pensar na minha vida e a minha vida não é eterna. Ela implica, necessariamente, o fim. E é um fim pavoroso, ninguém quer saber do seu fim, ninguém quer morrer. Nós somos muito preciosos de fato, cada vida é muito preciosa e única. Mas isso é inevitável, isso acontecerá. Então, tenho a impressão de que talvez, não tão deliberadamente, pensei em fazer um balanço. A partir daí veio o Pai, pai — afinal a presença do meu pai era muito marcante pela sua ausência. E, obviamente, isso tudo tinha e tem a ver com o impacto provocado pela questão da violência paterna. A morte e a violência paterna têm uma proximidade muito grande, muito sólida. E aí, o que você encontra é, de fato, a necessidade de fazer um balanço e foi basicamente isso que desencadeou a trilogia.
• Em um trecho do novo romance, você diz que ao escrever esse relato íntimo de grande dor, talvez você estivesse perseguindo um resgate em busca de sentido. Esse resgate aconteceu?}
Eu tinha uma pretensão. Eu não tenho certeza se fui pretensioso, num mau sentido. Mas a minha ideia talvez tenha sido buscar esse sentido. Eu mencionei muito ontem [no discurso da cerimônia de outorga do título conferido pela Universidade Federal de Uberlândia a João Silvério Trevisan] a pergunta do Caetano Veloso, na Cajuína: existirmos, a que será que se destina? Essa é uma pergunta que atravessa a nossa trajetória de vida. E é uma pergunta que não tem resposta. A gente poderia viver mais uma vida e mais uma vida e continuaria a perguntar. Porque lá vem outra vez: “Caminante, no hay camino se hace camino al andar” [trecho de poema de Antonio Machado]. Então, o sentido da vida você vai encontrando à medida que busca o sentido da vida. A vida é uma busca de sentido, na verdade. Acredito que não apenas este romance, mas toda a minha obra, toda a minha produção, e acredito que toda a produção que a gente faça visando uma expressão mais próxima da poesia, é sempre uma busca de sentido mais aprofundada. Porque você está tentando verbalizar, tentando apresentar para fora de você alguma coisa que está tentando descobrir lá dentro. É um pouco o que eu mencionei no Ana em Veneza, que é o estandarte rubro da poesia. Esse estandarte rubro da poesia, que vai passando de século em século, é a pergunta que os poetas estão fazendo. Existirmos a que será que se destina? E essa busca é expressa em forma de poesia. Porque, me parece, é a maneira mais precisa possível de você buscar a sua expressão. E, claro, a expressão do seu sentido. Toda a minha obra, obviamente, se encadeia em função dessa busca de sentido. E eu, nessa trilogia, o que talvez tenha descoberto é que só conseguiria chegar mais perto do sentido se eu fizesse um strip-tease. Pai, pai, Meu irmão, eu mesmo e esse terceiro que estou escrevendo têm uma técnica e estruturas bem diferenciadas. Estou realmente buscando me despir até onde é possível para mim, até onde é confortável. A minha questão, quando comecei a trilogia, era a seguinte: ou escrevo dessa maneira ou não escrevo. E o resultado disso tem mexido muito com as pessoas. Muita gente me acessa e diz “João, eu estou muito perturbado com a sua capacidade de mergulhar”. E essa foi uma escolha deliberada. Essa, sim, foi muito deliberada, porque era a maneira que eu, neste momento da minha vida, teria de buscar o sentido da forma mais efetiva possível. A partir daí não tem mais o que fazer. E é algo que vem de toda a minha trajetória. O meu filme [Orgia ou o homem que deu cria], por exemplo, feito durante a ditadura, quando eu tinha 26 anos, já tem essa mesma radicalidade. Isso foi em 1971, em plena ditadura. E os censores entenderam, claro que entenderam do seu ponto de vista, e proibiram o filme por conta da pornografia. Acho que eles disseram “obsceno em quase toda a sua totalidade”. Mas o que para eles era obscenidade e pornografia, para mim era poesia. Apenas a nossa linguagem era muito diferente, a nossa percepção era muito diferente. Claro, aí vinha a minha diferença com a censura. Cada vez mais acredito que a expressão pornográfica é uma expressão muito próxima da poesia. E quando falo em pornografia, seja ela uma pornografia comercial, padronizada, cheia de preconceitos, ou uma pornografia poética, você tem sempre que pensar no corpo. A ideia é: o nosso corpo é pornográfico? É mesmo? Quem falou? Quando nasci, eu já era pornográfico? Por que me tornei pornográfico? Porque sou homossexual? Porque eu transo numa posição diferenciada? Eu uso partes do meu corpo que não são convencionais, padronizadas ou permitidas? Então, me confrontar com essa possibilidade da pornografia poética era realmente uma maneira de chegar mais perto ainda do meu sentido, do sentido da minha vida. E para isso eu tinha que tirar a roupa. Muitas vezes não foi fácil, mas confesso que, quando leio, fico muito feliz de ter feito isso. Acho que consegui encontrar uma veia minha, um nervo meu que dá para mexer. Dá para mexer de uma maneira radical, muito legítima.
• Ainda em Meu irmão, eu mesmo, você conta que se sentia na fila da morte após descobrir a contaminação pelo vírus HIV, em 1992. No entanto, foi Cláudio, seu irmão, que faleceu poucos anos depois, vítima de um câncer linfático fulminante. A vida e a morte surpreendem mais que a ficção?
Eu não tenho certeza. Acho que a ficção é muito poderosa, mas a vida é muito exclusiva. Cada vida é uma vida completamente diferente e ela dá um chacoalhão na ficção. Mas também é verdade que a ficção dá um puta chacoalhão na vida. Porque a ficção tem um elemento de mentira que é crucial para chegar mais próximo da verdade. Esse é o grande lance da literatura. Na verdade, o que você chama de ficção, eu chamaria exatamente de poesia. Na vida que nós vivemos, nós não encontramos poesia, em geral, no cotidiano. Mas isso que a gente chama de ficção, e que está no mesmo patamar da poesia, ou poderá estar, porque ela trabalha com o imaginário, com a fantasia, que é uma parte da nossa vida que a gente quase nunca mete a mão, aí nesse momento começam a aparecer coisas que você não estava se dando conta. Revelações. E a poesia é pura revelação. A poesia é iluminação. Iluminação transgressiva, muito frequentemente. Acho que chegando nesse ponto em que você tem que se desnudar, você acaba encontrando aquela pornografia poética há também na ficção. Então, acabam se equivalendo, dependendo de como se vai mexer com as duas coisas. Tem ficção muito vagabunda, tem ficção muito convencional, e tem narrativa autobiográfica extremamente poética, mas também muito convencional. Muito fácil escrever a autobiografia de um modo convencional, tentando vender o peixe mentirosamente quando se deveria, numa autobiografia, estar sendo muito sincero com quem está compartilhando com você aquela história. Mas se você consegue realmente se despir, você vai chegar próximo da poesia, e essa poesia está também muito próxima da ficção, caso você tome consciência disso, de que a ficção é um espaço, é um terreno muito acima daquele real cotidiano, daquele dia a dia bobo, ridículo, diante do qual a gente perde as referências. A ficção, através da poesia, impõe de volta as referências.
• Pai, pai e Meu irmão, eu mesmo são os dois primeiros livros de uma trilogia de romances autobiográficos. Poderia falar um pouco sobre o terceiro?
Posso falar um pouco, mas não vou adiantar demais. É o mais político de todos. E o mais ficcional. Chamo todos eles de romances autobiográficos, mas esse é o mais ficcional porque vou escrever em terceira pessoa. Exceto a mim, que sou João, todos os outros personagens terão outros nomes, mas não outras personalidades. Estou usando outros nomes justamente para proteger essas pessoas e para me proteger, já que estarei falando de pessoas vivas, provavelmente. Estou usando esse recurso para me dar mais espaço e mais jogo de cintura, para não mentir. Estou usando apenas um nome fantasia dessas pessoas, mas a realidade vai ser exatamente a mesma. E por outro lado, vai ser o mais político porque ele se passa durante o período da ditadura, no coração da luta pelos direitos LGBT. Toda história é uma história que se cruza com a fundação do Grupo Somos [grupo em defesa dos direitos homossexuais, fundado em 1978], a fundação do Lampião da Esquina [jornal criado em 1978 e considerado a primeira publicação homossexual do país] e o meu ativismo. Porque há uma história de amor que se entrecruza aí. E é uma história de amor muito dolorosa, de abandono, justamente porque envolvia uma radicalidade sobre o amor, envolvia uma abordagem radical sobre o amor. Nós estávamos lutando pelo nosso amor e eu levei um chute na bunda daquele que estava lutando comigo. Um chute na bunda de uma maneira, isso vai espantar muito as pessoas, de uma maneira cruel, grotesca e até desumana. Essa história é a mais dolorosa de todas. Tenho pacotes de diários do período que eu não conseguia mexer. A história não está por último apenas porque é a mais antiga, mas é porque não conseguia mexer nela, de um ponto de vista emocional. Quando começava a mexer, tudo aquilo voltava como se tivesse acontecido ontem. Tal foi o impacto na minha vida, que a minha ferida de exílio homossexual realmente tomou uma dimensão extraordinária por conta desse fato. Entrei com tudo nessa ideia do ativismo que vai nos libertar para que a gente possa amar. E esse tudo que eu joguei na mesa foi jogado no lixo. Por um parceiro. O parceiro do meu amor. Não é pouco. Enfim, é tão duro que não vejo palavras que possam explicar ou resumir a força, o impacto, a dureza daquilo que aconteceu. Já estou trabalhando no livro, já tenho contrato com a Alfaguara e tenho muita coisa já escrita, mas não vou dar mais detalhes da estrutura que será bem diferente dos outros dois, que são diferentes entre si. Tenho já muita coisa anotada e continuo tomando nota. O que está me surpreendendo é que não achava que fosse sair tão político quanto está me exigindo. Estou entrando muito na área da minha prática de esquerda, da minha vivência enquanto homossexual dentro da esquerda, porque foi inevitável. É inevitável tocar nisto: o embate que houve entre os meus supostos companheiros e o meu desamor à minha maneira.
• Trabalhos como Devassos no Paraíso são constantemente referenciados em pesquisas sobre gênero no Brasil, enquanto romances como Rei do cheiro denunciam a arrogância de intelectuais e os riscos do discurso meritocrático. Suas obras ficcionais são tão políticas quanto as não ficcionais?
São mais políticas do que as não-ficcionais. E por isso, a conspiração do silêncio, que eu sei de onde vem. Sei exatamente que a direita não tem nenhum interesse, nunca vai ter, na minha obra. E conto com o interesse daqueles que são meus companheiros, com os quais tenho uma interlocução. Não que eu esteja escrevendo apenas para essas pessoas, mas tenho certeza que a direita não gosta do que eu faço. E não vai gostar, porque nós temos uma diferença simplesmente radical, de raiz. E uma das questões que quero debater, e tenho debatido, é que a esquerda não tem direito de exigir que ela é dona da verdade. É assim que frequentemente a esquerda se comporta. A minha esquerda, a nossa esquerda, na verdade, um determinado tipo de esquerda, com o qual tenho muita dificuldade, que é a esquerda autoritária. E menciono em tudo quanto é palestra, e acho que em livros meus, inclusive em Meu irmão, eu mesmo, que sinto fedor de dogmatismo de longe. Por quê? Porque fui treinado a sentir esse cheiro dentro do seminário. Dez anos, massacrado por dogmas católicos, qualquer um sai com um diploma de doutorado em dogmatismo. Percebo claramente quando há dificuldade de diálogo, quando há dificuldade de admitir a sua imperfeição. Passei anos da minha vida fazendo análise para tentar entender a minha imperfeição. A minha morte é a maior das imperfeições, mas não é a única. Todos os dias estou tropeçando na minha imperfeição. Não sou o único imperfeito do gênero humano. O gênero humano é imperfeito. Por que, então, a esquerda tem que ser perfeita? É a pior maneira de se relacionar com a sociedade. É achar que você é dono da verdade. Inclusive, esse é um ponto de partida da direita mais radical. Ela não quer saber o que você faz. Ela tem a sua verdade e você tem que observá-la. O nazismo e os vários tipos de fascismo nos deixam clara essa ideia. Então, como é que nós vamos imitar a direita se nós queremos ser exatamente o oposto dela? Nós estamos usando os mesmos padrões, isso me aflige profundamente. Por isso, nos meus romances, frequentemente meto o dedo na ferida. E aí percebo a conspiração do silêncio, que é crudelíssima. Os prêmios que recebi são todos honoríficos. A única vez que recebi um prêmio em dinheiro que me era muito importante para sobreviver, foram R$ 350 do Ana em Veneza, do Prêmio Jabuti, que eu fiquei tão absurdado que fui comprar a obra completa do Freud, em espanhol, que na época o real estava equiparado ao dólar. Então dava para comprar três volumões no espanhol, que é uma tradução magnífica, porque naquela época a tradução brasileira era muito ruim, feita do inglês, e eu tinha dificuldade para entender. Aí fui ler o Freud em espanhol e, porra, percebi que estava diante de um poeta. Então, essa é uma constatação, para mim, palpável dessa conspiração. Nos períodos do PT no governo, o Brasil foi tema da Festa do Livro de Bogotá, de Guadalajara e da Feira Internacional do Livro de Frankfurt. Tenho livro em espanhol, tenho livro em alemão, tenho livro em inglês. Alguém me convidou para representar o Brasil? Você tem ideia de como isso doeu? Não sou trouxa, não sou otário ou babaca. Percebo claramente o que isso quer dizer. Eu já perdi prêmio, porque teve votação enganosa, que me foi comunicada por um membro do júri, que percebeu que alguém estava dando nota alta para a sua eleita, e naquele momento o Pai, pai, que estava lá em cima, desceu. Então, porra, tenho que conviver com isso e não vou fechar os olhos. Isso é uma das coisas que eu estou fazendo. Em Antropofágico amor, vou falar disso tudo, vou botar tudo na mesa. Aqui está a maneira como eu fui tratado. Aliás, Rei do cheiro foi totalmente ignorado. Só saiu no Rascunho uma merda de uma resenha [#118, de fevereiro de 2010. O editor concorda com o democrático direito à reclamação após quase 14 anos. Afinal, o direito à opinião e ao ressentimento é legítimo. Não é mesmo, João?], de uma pessoa incompetente, acabando com o livro. Não sobrava nada do livro. Essa pessoa não entendeu, tomou o romance do século 19 como parâmetro para analisar o Rei do cheiro, que cancelava o narrador em terceira pessoa. Eu não queria trabalhar nesse livro com o narrador em terceira pessoa. Queria fazer múltiplas vozes, fazer uma sociedade coralizada. Tanto que fui naquela época, na internet, não tinha ainda a deep web, fui buscar canções do PCC, pedindo para cortar a cabeça de juízes, porque ainda estavam disponíveis, e inseri como parte dessa vocalização de uma sociedade em pânico, uma sociedade absolutamente pedindo socorro para não sei quem. Era uma sociedade, obviamente, à beira do buraco, numa circunstância dessa, que foi exatamente quando termina a narrativa do Rei do cheiro, que é quando o PCC fez aquele ataque brutal, em 2006, em São Paulo, em que parou tudo, botou fogo em tudo quanto era coisa que encontraram pela frente, matavam policiais, ameaçavam juízes, políticos, etc. E eu fiz um livro em que fui buscar inspiração em John Dos Passos [romancista e pintor estadunidense], por exemplo. Nem sei se a pessoa que escreveu sabe que existiu um John Dos Passos que tinha uma pegada muito parecida. Foi a minha inspiração. De criar uma voz da sociedade. E aí fui chamado de “alguém que não sabe criar personagens”, porque meus personagens eram todos personagens vazios. Ora, eu estava mimetizando história em quadrinhos, tanto que cheguei a pensar em colocar uma parte do romance como história em quadrinhos. Porque o meu personagem vive no mundo da história em quadrinhos. O romance começa justamente com a indústria cultural da década de 50 no Brasil. Tem um capítulo em que meu personagem está sofrendo muito porque foi abandonado pela mulher e porque o filho foi sequestrado. E ele só consegue falar através de trechos de música de dor de cotovelo. Ele não consegue expressar suas próprias emoções. Então, tive uma felicidade escrevendo esse romance. Foram pesquisas, assim, brutais para chegar àquele resultado. E aí eu encontro essa resenha no Rascunho e não teve uma resposta que pudesse discordar [Nota do editor: o Rascunho, ao longo de sua história, sempre acolheu réplicas, mesmo que tardias]. Eu só fiquei sabendo muito tempo depois, inclusive. O Rascunho não chegava até mim naquele tempo. Agora, eu recebo em casa. Mas só fiquei sabendo muito tempo depois e eu não tive como responder. Porque, em geral, se a crítica é babaca, eu vou lá e digo. Quem escreveu tem um projeto de romance na cabeça e acha que todas as obras têm que corresponder. Foi exatamente isso que essa crítica fez. E foi a única resenha que saiu. A única. Eu entrei em depressão. Um dos meus vários períodos de depressão. Por conta do silêncio em torno do romance. E não foi o único. A idade de ouro do Brasil, que também tem uma pegada política cortante. Cadê A idade de ouro do Brasil? Digamos que Ana em Veneza foi uma exceção, porque o Elio Gaspari [jornalista e escritor] fez uma resenha no final de 1994, quando o romance saiu, e disse, não me lembro se no Estadão ou na Folha, que a grande notícia do final do ano de 1994 não era o Ministério de Fernando Henrique Cardoso, mas um romance chamado Ana em Veneza. Foi um puta auê de gente correndo atrás de mim pra me entrevistar. Mas era uma outra coisa, era uma história do Brasil, era uma abordagem histórica, um olhar histórico para tentar entender o que estava acontecendo no Brasil. Tanto que o final do romance tem aquela passagem de 1891 repentinamente para 1991. Mas era uma meditação, uma longa meditação sobre o que é o Brasil. Dentro da minha obra que aborda toda a questão brasileira tem uma peça de teatro, o Ana em Veneza, o Rei do cheiro e A idade de ouro do Brasil, todos cruciais para mim, porque sou um homossexual dialogando com o meu país, porra. Tenho um ponto de vista da margem que o país deve olhar, porque estou dizendo alguma coisa que quem está no mainstream não tem condições de ver. E estou vendo da margem. Então, para mim, é muito duro. Tenho que brigar com a minha mágoa por conta disso. Não quero me machucar por conta da mágoa porque eu estou sendo magoado. E não quero aprofundar essa mágoa, mas a marca é muito dolorosa.

• Durante a ditadura, seus textos foram censurados e considerados uma afronta aos “bons costumes”. Nos últimos anos, especialmente durante o governo Bolsonaro, adjetivos como “subversivo” e “imoral” voltaram a ganhar força, inclusive para classificar artistas considerados perigosos pela extrema direita. Quando você percebeu que isso estava acontecendo, teve medo de a história se repetir?
Eu não sei se a palavra é medo, porque, em nenhum momento, me senti paralisado no governo Bolsonaro. Pelo contrário, eu estava em estado de fúria. Aliás, quando falo esse nome, tenho vontade de limpar a minha boca. Até hoje. Porque é um lixo. É um absurdo tentar compreender como é que esse cara foi parar onde foi parar. O que significa que o Brasil é um absurdo, porque foi uma verdade: ele ganhou a eleição. Do jeito dele, claro. E queria ganhar de novo, fez de tudo para roubar a eleição. Em todo caso, eu estava sempre ali, instigado, então me assustava, estava assustado, mas não creio que eu tivesse medo. Conheço muita gente que estava com muito medo, antes mesmo de ele ter sido eleito. Dá pena. Eu me lembro de um debate em Aracaju, em que no meio do debate, de repente aparece uma pesquisa dizendo que ele havia disparado nas pesquisas. As pessoas estavam enlouquecidas e eu disse: “Olha, ele vai nos fazer um favor de mostrar agora o que é o Brasil”. Porque nós estávamos na nossa bolha e achávamos que isso estava superado. Tanto que em A idade de ouro do Brasil, eu falo do presidente Lula, não me lembro se no primeiro ou no segundo mandato, dizendo algo como “olha que eleição maravilhosa, todos que estão competindo são de esquerda”. Nós tínhamos essa doce ilusão. Mas a nossa reação foi à altura. Isso eu falo muito já na nova edição do Devassos no Paraíso, em que eu abordo o período da eleição. Já estava previsível o que ia acontecer, apesar de nós não gostarmos e não querermos. Eu pego toda a história de 90 e pouco, quando o Edir Macedo cria o disparo, muito consciente e muito proposital, da tomada de poder. Tenho uma parte inteirinha sobre a direita radical, a nova direita, a direita evangélica, por exemplo, no Devassos no Paraíso e na segunda edição de Seis balas num buraco só: a crise do masculino, que saiu em 2021. Ali já tem claramente o Bolsonaro, pintando e bordando. Tem capítulos inteiros analisando o bolsonarismo. E analisando com uma navalha, não deixando passar nada, porque o que aconteceu com o bolsonarismo foi que o masculino tóxico tomou o poder. E ele está disposto a tudo. Ele mostrou que ele está disposto a tudo para não perder o trono. Mas a reação foi maravilhosa. E aí eu conto com mais detalhes essa reação anti-hegemônica nova, totalmente nova, com os novos grupos de movimentos sociais que se encorparam, se enriqueceram, se opondo à hegemonia do masculino tóxico. Por exemplo, todo o espaço da transexualidade e transgeneridade, que foi uma novidade que nós estamos vivendo dentro das políticas LGBTs.
• Seis balas num buraco só: a crise do masculino evidencia os riscos do projeto do “homem ideal” para a sociedade, especialmente no que se refere à consequente violência contra mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Nesse sentido, o movimento Red Pill, formado por homens que defendem uma “masculinidade dominante”, o preocupa? É uma nova crise das masculinidades ou apenas um novo desdobramento?
Eu não dou muita importância, francamente, porque acho que é uma fase do armário. O armário não vai existir do mesmo jeito que resistia no passado. Ele vai encontrar, digamos, maneiras um pouco mais integradas de conviver socialmente, o que significa que ele vai se diluindo cada vez mais. Essa importância que as pessoas dão não apenas socialmente, e não apenas politicamente, mas sobretudo psicologicamente ao armário. Conheço um monte de viado bolsonarista. Qual é a característica que perpassa todos eles? É viver escondido como homossexual. Podem até ter vivido 30 anos com o parceiro, mas dormindo em cama diferente. Podem até “desmonhecar”, mas isso é um passatempo. Então, a questão séria é ser um personagem integrado à sua sociedade, o que significa conformar-se a essa sociedade cheia de homofobia e extremamente conservadora. O masculino tóxico, tal como eu abordo a partir de pesquisas, ele tem medo de dedo. Ele tem medo de um dedo no cu, para fazer exame de toque retal, para saber como é que está o estado da próstata. Eu consultei entrevistas de médicos especialistas em torno do câncer de próstata, e o grande problema é a resistência de certo tipo de homem, ou seja, a grande maioria, que é tóxica, de fazer o exame de toque retal. Agora, me diga uma coisa, por que tanto medo? Você acha que você vai perder a virgindade por um dedo? Você vai perder a sua virilidade por conta de um dedo? Que virilidade é essa? Que diabo de masculinidade é essa? Por isso ela é completamente defensiva e fragilizada. E mentirosa, claro. Ela vive de trás de um cascão. Que é o cascão, justamente, da hegemonia masculina que cria o homem ideal. Que é o fortão, que é o que não vai para o hospital, que é o que enfrenta, que mostra a arminha o tempo todo, para mostrar que é macho. Essa arminha, ela tem a forma do pinto. Não precisa nem um Freud voltar para explicar. Essas pessoas estão obcecadas por um problema que elas não conseguem resolver, que é basicamente o seu medo de serem passivas. E por isso odeiam tanto as mulheres. Por isso maltratam tanto. Por isso matam. Por isso estupram. Porque consideram a mulher uma coisa de segunda categoria. O coitado do pinto nem sabe o que está acontecendo. Ele tem vontade própria porque tem um organismo inteiro mobilizado. E esse masculino tóxico, inclusive, não consegue conduzir, de acordo com a sua vontade, esse pobrezinho desse pênis. Então é muita pobreza. E é em cima dessa pobreza que eu faço a reflexão de que as novas gerações têm comprovado como isso vai caindo por terra. Na verdade, o que me preocupa mais é o que vem depois. Por exemplo, hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas fora do armário que são conformistas. Elas querem saber do seu aplicativo, elas querem saber da sua transa, como se vivessem fora do armário. E nesse sentido, o bolsonarismo foi muito pedagógico. Vocês não estão fora do mundo, vocês estão num mundo muito perigoso. Então, esses embates são muito produtivos. A história é sábia porque ela não é previsível, ela é constituída por multidões que criam a história. E que não são apenas os líderes, ou que não são sequer, sobretudo, os líderes. Há populações inteiras que estão mobilizando a história, muito frequentemente, de uma maneira não deliberada, inconsciente, por exemplo, todo o processo migratório que nós estamos vivendo hoje no mundo. É uma mudança histórica brutal, mas essas pessoas estão fazendo por pura necessidade de sobrevivência. E elas estão mudando a história. A Europa está vendo uma situação internacional com a qual ela nunca se confrontou antes. Antes ela colonizava, agora os ex-colonizados estão indo colonizar a Europa e ela está se cagando de medo. Tem medo de perder as suas características históricas. O que são características históricas? A história está em permanente devir. Eu acredito na história, acredito no real que a história produz e que é muito complicado de você aquilatar, de você apalpar. Porque é um atropelo. A história é totalmente atropelada o tempo todo. Ela não está em manuais. Você está pensando que ela vai por aqui, ela vai por ali. Você pode até fazer suposições, fazer análises de possibilidades, mas quantas análises de grandes intelectuais aí que não deram com os burros n’água? Então, essa humildade que a história pede é essencial para que possamos olhá-la.
• Para encerrar, devolvo uma das perguntas presentes na quarta capa de seu livro Pedaço de mim: em que sentido o caos brasileiro pode dar certo?
Eu teria que reler o Pedaço de mim, teria que reler Ana em Veneza, A idade de ouro do Brasil e uma peça, que ganhei um prêmio da Funarte e que não considero que esteja pronta. É uma peça histórica chamada Correspondência entre J. J. Maia e Thomas Jefferson. J. J. Maia [José Joaquim Maia e Barbalho, que usava o pseudônimo Vendek] era um jovem brasileiro que no século 19 foi estudar em Lisboa. Era muito comum que pessoas mais abastadas ou de famílias mais abastadas estudassem em Lisboa. E lá ele conseguiu contato com o Thomas Jefferson, que era o embaixador americano na França. E os Estados Unidos tinham acabado de fazer a revolução americana e se separado da Inglaterra. E para os estudantes que estavam em Lisboa, era uma grande expectativa a possibilidade de criar essa mesma revolução no Brasil contra Portugal. Então o J. J. Maia entrou em contato com o Thomas Jefferson para discutir a revolução de independência do Brasil. A partir daí, resolvi escrever essa peça em que um personagem baseado no Carlos Gomes volta da Itália depois de todo o sucesso enquanto compositor brasileiro de óperas italianas. Ele volta para o Brasil muito compungido, já doente. Então ele se encontra com um personagem que seria o Álvares de Azevedo. Vale lembrar que os dois nunca se encontraram na vida real e eram, inclusive, de gerações diferentes. Na peça, esse encontro acontece em São Paulo, quando o Carlos Gomes estava passando pela Faculdade de Direito e encontra um grupo de estudantes protestando, protestando violentamente, e vê esse garoto. E fica muito impressionado com o discurso que o garoto faz. Então procura esse rapaz para que escreva com ele o libreto da sua peça brasileira, pois quer se redimir perante o Brasil. E a minha peça é um debate entre a visão do Álvares de Azevedo, um jovem supostamente revolucionário, e um senhor no fim da vida tentando se redimir de uma história que ele não considera muito aprazível para deixar para o Brasil. E os dois têm um embate muito grande entre duas visões de Brasil, a partir do quê? Da história do J. J. Maia. O jovem quer adaptar a história do J. J. Maia para uma peça, para uma ópera. E o Carlos Gomes diz que tudo bem, mas reluta com as sugestões que o rapazinho dá. Então, o que nós vemos na peça são representações da visão da ópera do Carlos Gomes e da visão do rapazinho revolucionário. E aí começa o caos. É uma peça sobre o caos brasileiro. Tem, por exemplo, a Tia Anastásia, que é empregada do Carlos Gomes. Eu jogo personagens e coloco muitas questões relacionadas com o imaginário e com a mitologia brasileira, presente já na nossa história de uma maneira bem significativa. E o final é um final carnavalesco, em que todos esses personagens aparecem, como Peri, Ceci, Iracema. E há uma grande conglomeração e um grande debate sobre o que seria o Brasil. Partindo do pressuposto de que estamos vivendo um país caótico, mas um país tão caótico que produziu o carnaval. E eu dei um final a essa história, mas eu não estou satisfeito com ele. Enfim, não sei o que acontecerá, mas acredito piamente na criatividade do caos brasileiro. Eu não tenho medo. Cada um de nós é supercaótico. Temos um caos lá dentro, um caldeirão fervilhando. E é de lá que a gente tira a nossa personalidade, de lá que a gente tira nosso imaginário, de lá que a gente tira a nossa expressividade. É preciso não ter medo do caos. Na verdade, o caos é a fonte de toda criação.