Tomar O conto zero e outras histórias, a mais recente coletânea de narrativas curtas de Sérgio Sant’Anna, como um relato memorialístico não é nenhuma heresia. No entanto, acostumado a trilhar por caminhos limítrofes, o autor não poderia escrever um livro clássico de memórias. O consagrado universo ficcional de Sant’Anna e seu reconhecido domínio da linguagem estão, nas novas histórias, em simbiose com lembranças de momentos variados de sua vida e carreira.
Em Vibrações, que o próprio escritor considera o ponto alto da obra, a história de sua passagem por Iowa City nos anos 1970, quando esteve em um programa para escritores estrangeiros, começa de maneira enigmática para o leitor, com uma narrativa fragmentada sobre autores e livros. Em pleno flower power, Sant’Anna apresenta um relato intimista das utopias e manifestações artísticas que marcaram aquele período. Vibrante com o cenário de liberdade apresentado, a novela também deixa no leitor um leve sentimento de frustração pelos descaminhos que a humanidade tomou desde que o sonho hippie se esfarelou.
Já Flores brancas, espécie de dark side de Eles dois, tocante relato de amor publicado no livro anterior, O homem-mulher, despeja no leitor uma torrente intensa de sentimentos, em mais uma reinvenção primorosa de uma passagem da vida do autor. A história é tão envolvente, que lembra o clima criado pelo escritor no conto-título de O voo da madrugada, um dos pontos mais altos de sua ficção.
Na entrevista que segue, Sérgio Sant’Anna comenta as motivações que o levaram aos temas de O conto zero e como experiências artísticas vividas nos anos 1970, ao lado de figuras com Bob Wilson, foram determinantes para o desenvolvimento de sua obra.
• Apesar de temas relacionados à sua vida (como a paixão pelo futebol e pelas artes plásticas) sempre aparecerem em seus livros, é a primeira vez que o senhor publica histórias tão autobiográficas como as que estão em O conto zero. Após lançar um de seus livros mais brilhantes (O homem-mulher), em que linguagem e imaginação estão em alta voltagem, o que o motivou a seguir por um caminho, literariamente falando, mais tradicional, que é a memória (ainda que uma memória inventada)?
Não considero O conto zero um livro literariamente mais tradicional. Os contos mais curtos do volume, por exemplo, como Papeizinhos rasgados, O museu da memória, Caminhos circulares e Bastidores são formas bastante abertas. E a novela Vibrações, no meu entender o ponto mais alto do livro, traz um inventário que procura ser ágil sobre uma época mítica, o início dos anos 1970. Mas é oportuno dizer que ao escrever não me preocupo explicitamente em inovar. Uso a forma que o texto pede. Depois de meu livro anterior, O homem-mulher, em que linguagem e imaginação, como você disse, estão em alta voltagem, eu quis fazer um livro completamente diferente. E ele foi saindo assim, autobiográfico, mas me permiti, como você também disse, acrescentar memórias inventadas.

É oportuno dizer que ao escrever não me preocupo explicitamente em inovar. Uso a forma que o texto pede.
• Na primeira e homônima história de O conto zero, o senhor utiliza um narrador onisciente para conduzir a trajetória de um menino e sua família por Londres e pelo Rio de Janeiro nos anos 1950. O mesmo narrador sugere que a história era mentalmente contada (ou lembrada) pelo protagonista, mas nunca havia sido escrita. Essa fase de sua vida e de sua família estava, de alguma forma, “pendente” em sua obra? De alguma maneira o angustiava por ainda não tê-la escrito?
Eu não sentia angústia por não ter tratado das vivências londrinas no início da adolescência, mas sabia que eram vivências ricas — foi a viagem em que mais aprendi — e me deu vontade de escrever sobre elas e sobre o marco-zero de minha vida no Rio de Janeiro. Eu estava sentindo uma grande nostalgia daquele tempo, a década de 1950. Mas você tem razão: tudo isso estava pendente em minha obra. Agora não está mais.
• Já em Vibrações, também do livro mais recente, o senhor relembra o ano de 1970, em que passou em Iowa (EUA), em um programa de incentivo à literatura que reunia escritores de diversas partes do mundo. O senhor narra com grande entusiasmo aquele momento, época de efervescência cultural e ponto alto da era hippie, quando as pessoas realmente acreditavam que haveria um futuro melhor depois da grande instabilidade que o mundo vivia — Guerra Fria, Vietnã, etc. Bem, desde então o mundo definitivamente não se tornou um lugar melhor. Olhando em retrospecto, como enxerga aquele tempo? O movimento hippie foi um delírio coletivo?
Na segunda metade da década de 1960 e na primeira da década de 1970, apesar da Guerra Fria, Vietnã, etc., boa parte da juventude nos Estados Unidos e no mundo ocidental procurou viver utopias, experimentar na própria existência. Não eram necessariamente hippies, mas havia uma grande liberdade, inclusive artística, e isso me marcou intensamente. A novela Vibrações começou a ter suas anotações escritas em 1971 e o texto só foi terminado em 2015. E vi que era importante para mim tentar retratar aquela época, suas figuras exponenciais, sua nova estética. E também me marcaram muito os acontecimentos de 1968 na França, Tchecoslováquia, Alemanha. Eu estudava na França em maio de 1968. No Brasil houve um agravamento da repressão da ditadura, mas, apesar disso, a juventude — a parte que não participou da luta armada — procurava libertar-se existencialmente. Somando tudo, acreditávamos mesmo que o mundo se transformaria para melhor, mas isso depois não aconteceu.
• Ainda em Vibrações, há uma miríade de citações a artistas e movimentos culturais, dos beatniks ao Living Theatre. Que peso aquele momento teve em sua formação como artista? Essas referências mudaram, na essência, sua arte?
Sim, eu pude conviver de perto com artistas e movimentos culturais, dos beatniks ao Living Theatre, a era do rock e, principalmente, os trabalhos do artista de vanguarda Robert Wilson, ainda jovem, e sofri influência disso tudo. Minha literatura mudou bastante com essas experiências. Como você colocou, elas mudaram na essência, minha arte.
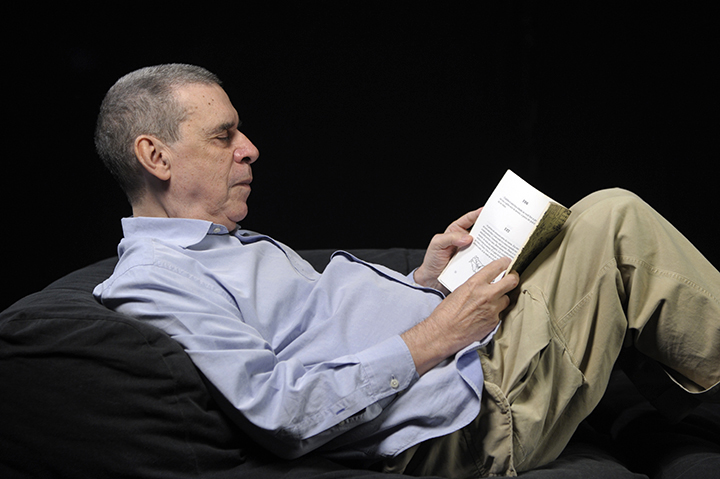
Eu gosto sim de praticar essa escrita híbrida entre o teatro e a ficção. Mas falta-me a vocação para o teatro puro, pois minha literatura está também impregnada de subjetividade.
• O teatro, aliás, também tem grande influência em sua obra. Pelo menos dois de seus livros, Um romance de geração e A tragédia brasileira, são marcadamente tentativas de experimentar a prosa com o texto teatral. Gostaria de ter se dedicado mais a esse gênero, ter feito carreira como dramaturgo, a exemplo de outros autores que conjugaram os dois tipos de texto?
Eu gosto sim de praticar essa escrita híbrida entre o teatro e a ficção. Mas falta-me a vocação para o teatro puro, pois minha literatura está também impregnada de subjetividade, embora haja em A tragédia brasileira trechos absolutamente teatrais. Mas não tenho nenhuma pretensão de escrever peças teatrais, embora tenha adaptado para o teatro parte do meu A tragédia brasileira e Orlando, este último de Virginia Woolf, ambas as adaptações montadas pela diretora Bia Lessa.
• O senhor disse que A tragédia brasileira é seu livro preferido. Por quê? Em sua bibliografia, parece ser um livro menos festejado por críticos e leitores.
A tragédia brasileira é, senão o meu livro preferido, um dos que mais gosto. Vende pouco, mas tem lá sua saída, numa edição agora da Companhia das Letras. Mas você se engana, houve críticas muito positivas, sendo que as que mais gostei foram as do norte-americano Malcolm Silverman, para a World Literature Today; a de Beth Brait, para o Jornal da Tarde; a de Liliane Heynemann, para o Jornal do Brasil, e principalmente a de Flora Sussekind para o Leia Livros. O título era O baile.
• Outro ponto alto de O conto zero é a narrativa Flores brancas. Trata-se de uma espécie de Lado B da história Eles dois, que o senhor publicou em O homem-mulher. O casal ripongo que vivia em uma espécie de Woodstock particular, agora passa literalmente por uma guerra conjugal. Por que as histórias foram publicadas separadamente? Pensou em transformar o conjunto em uma novela?
As histórias foram publicadas separadamente porque foram escritas em momentos diversos. O que me impulsionou a escrever Flores brancas foi um fato realmente acontecido, que mexeu muito comigo. Eu acabara de me mudar para um barraco (dependências de fundos de uma casa), em Belo Horizonte. E logo no começo estava sentado sozinho na saleta do meu “barraco”, de costas para uma janela aberta, quando soprou o vento e caíram sobre o meu corpo flores brancas de um arbusto. Fiquei emocionado e senti que tinha de escrever sobre isso. E eu me mudara para esse barraco porque uma relação afetiva com uma mulher terminara numa crise terrível. Morávamos em Venda Nova, numa rua de terra, nos arredores de Belo Horizonte, coexistindo com pessoas mais pobres, que volta e meia se revoltavam com a precariedade dos transportes públicos, partindo para o apedrejamento dos ônibus que passavam lotados. Mas eu escrevi sobre esses fatos levando-os ao extremo, inventando, inclusive incêndios de veículos, com mortos e feridos. Na verdade o conto passa da violenta crise existencial para a tragédia coletiva.
• Sua literatura é marcada, também, pela experimentação da linguagem. Quando se tornou escritor, esse traço era uma de suas preocupações iniciais, ou foi algo que surgiu a partir da própria escrita e de referências ao longo de sua formação?
O que as pessoas chamam de experimentação da linguagem, em minha obra, na verdade se dá espontaneamente. Isso surgiu, sim, a partir da própria escrita, mas fui muito influenciado pela convivência com Affonso Ávila, poeta e crítico de vanguarda, que dava a maior força aos escritores jovens e recebia em sua casa escritores de ponta do Brasil e nos convidava para estes encontros. Por outro lado, sempre gostei de ler autores inventores e nunca me repetir de um livro para outro.
• Uma das características mais admiradas de sua literatura é a capacidade de criar, nos contos e novelas, atmosferas altamente envolventes, com temas que flertam com a arte, o bizarro ou o sexo. Qual o grau de completude, na sua mente, da concepção de uma história? O tema, o personagem ou enredo podem mudar à medida que o texto se desenrola?
De fato minha literatura flerta com a arte, escrevi vários trabalhos que tiveram como ponto de partida obras de arte, que procurei traduzir em palavras. Em Três textos do olhar, que estão no livro O voo da madrugada, trabalhei com obras de Egon Schiele, Balthus e Cristina Salgado. E sempre tive grande admiração por Picasso e Marcel Duchamp, que me deram aulas de liberdade. Escrever sobre sexo se dá também naturalmente, pois a libido é parte fundamental da vida, para não dizer a própria vida.
• As artes sempre estiveram presentes em sua literatura. O livro de Praga traz até o sugestivo subtítulo “Narrativas de amor e arte”. As descrições de obras e exposições são recorrentes em seus relatos e, em geral, dão o clima e se fundem com a própria história contada. Essas narrativas são uma tentativa de transmitir as inúmeras sensações que uma obra de arte pode gerar? Na posição dupla que se encontra quando cria esse tipo de texto, como autor e receptor (da obra vista), acha que a literatura consegue êxito nesse caso? Como avalia isso?
Esta pergunta, creio, já foi respondida na resposta à pergunta anterior. E aí me vem à cabeça outro artista que me influenciou: Andy Warhol. O ponto de partida de O livro de Praga é uma exposição de Warhol, exibida na época em que eu estava em Praga, participando do projeto Amores expressos. E penso que a literatura obteve êxito no caso. No livro há também, inventado claro, um texto inédito de Kafka tatuado no corpo de uma mulher nua.

Eu me interesso sim pela literatura contemporânea, mas atualmente se lançam livros demais.
• O Rio de Janeiro antigo, como em outros de seus livros, está presente em O conto zero. É claramente um assunto que o fascina. No entanto, a cidade contemporânea, com novos problemas e contradições, aparece de forma mais tímida. O Rio atual é menos interessante para o escritor Sérgio Sant’Anna?
O Rio dos anos 1950, em O conto zero, foi uma visitação à minha infância e adolescência na cidade. Senti um forte desejo de escrever sobre isso. Não é que a cidade contemporânea seja menos interessante, mas a barra pesou, com a superpopulação, a violência, o trânsito terrível, a poluição do mar.
• O senhor apareceu como escritor na revista Estória, uma publicação independente que revelou, entre outros, Luiz Vilela. Que lembranças tem dessa fase e dos primeiros impulsos para escrever?
A revista Estória foi muito importante para mim. Participei de três números, publiquei lá alguns dos meus primeiros contos. O grupo da revista se reunia, trocava impressões e isso contribuiu muito para o meu desenvolvimento como contista e até para que eu fixasse minha preferência pelo gênero.
• A época de Estória e de sua estreia como autor coincide com o chamado boom do conto brasileiro, ocorrido nos anos 1970. Que avaliação o senhor faz hoje desse período, em que as narrativas breves estiveram no primeiro plano da literatura nacional? Quais os fatores, ou conjuntura, proporcionaram aquele momento?
Não sei por que as narrativas breves estiveram em primeiro plano no Brasil dos anos 1970. Talvez porque o gênero permitisse a circulação dos trabalhos em revistas que surgiam, como a Estória. Mas também publiquei meu primeiro romance: Confissões de Ralfo. Um livro um tanto descosturado, mas que repercutiu. E Ignácio de Loyola Brandão lançou um romance importante, que repercute até hoje: Zero. É um livro com uma linguagem muito radical.
• No começo dos anos 1980 o senhor publicou dois livros de poesia, Circo (1980) e Junk-box (1984). Que relação tem com o gênero e por que nunca mais voltou a ele como autor?
Não voltei mais ao gênero poesia porque não tive mais ideias, ímpeto para escrever poemas. E Circo e Junk–box foram projetos bastante radicais, correspondendo a impulsos do momento. Mas gosto muito desses livros. Aliás Junk-box é um livro-texto bastante híbrido, misturando gêneros.
• Em conversas com escritores mais velhos, geralmente sinto que esses autores perdem o interesse pela literatura mais contemporânea, e em geral não se interessam por escritores mais jovens. Isso tem acontecido com o senhor?
Eu me interesso sim pela literatura contemporânea, mas atualmente se lançam livros demais. Mas li recentemente autores brasileiros como Fernando Bonassi, Elvira Vigna, João Paulo Cuenca, Myriam Campello.
• Nos últimos anos, o senhor praticamente tem publicado um livro por ano. Já tem planos para novos livros?
Para ser mais exato, ultimamente, lancei livros de dois em dois anos. Mas agora estou me dando um tempo, não publicarei livro tão cedo.











