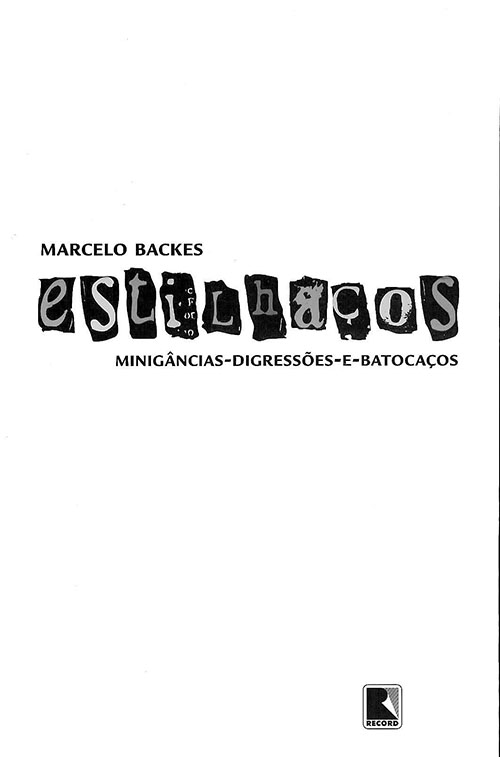Quem gosta de literatura alemã já deve ter ouvido o seguinte comentário: algum dia, todo escritor alemão escreveu aforismos e epigramas. Essas formas breves e incisivas, que se encaixam perfeitamente a comentários mais críticos e sarcásticos, são menos exercitadas pelos autores brasileiros. O tradutor e crítico literário Marcelo Backes é uma exceção. Tanta disposição para metralhar e produzir Estilhaços pode ter alguma relação com a sua descendência familiar. Nas veias desse gaúcho nascido em Campina das Missões corre sangue germânico. Seis anos morando na Alemanha, mais um doutorado, aos 30 anos, sobre o poeta alemão Heinrich Heine — que escrevia ensaios até mesmo quando fazia poesia — possivelmente contribuíram para aprimorar a sua pontaria. Backes começou cedo: aos 12 anos lia os clássicos alemães e aos treze saía de casa para estudar e trabalhar como bibliotecário num seminário próximo a sua cidade natal. Não levava jeito para padre. Foi parar em Porto Alegre onde cursou jornalismo. As leituras dos filósofos clássicos acompanharam a sua adolescência. A intimidade com os grandes pensadores e escritores alemães seria determinante para o desenvolvimento da carreira de Backes como tradutor. E, mais recentemente, como escritor de A arte do combate e Estilhaços — minigâncias-digressões-batocaços.
Em ano de eleições e Copa do Mundo, Estilhaços fala em tom aforístico de política e futebol. O brasileiro está acostumado a esse tipo de leitura?
Epigramas, aforismos são gêneros relativamente difíceis, mas eu tento dar uma configuração brasileira para eles. É um livro que se pretende extremamente combativo no sentido de que tenta traçar um painel da literatura e cultura contemporâneas. Falar de esporte, de política é uma tentativa, até combativa, de caracterizar a contemporaneidade, de caracterizar os problemas literários e culturais. Mas se eu pudesse caracterizar o que é o livro, eu diria que é um inventário da minha formação pessoal. Fala da cultura e da contemporaneidade, muito importantes para mim. Falo também das coisas da minha infância em duas partes do livro. Uma delas se chama Glossário dos nomes que são, fundamentada em nomes de pessoas. Ou seja, eu coloco o nome da pessoa e vou caracterizando. O leitor, lá pelas tantas, se dá conta que está numa história policial. Tem relação com os “Estilhaços” no sentido de que é um estilo fragmentário, um glossário de nomes que adquire a feição de narrativa. O ambiente dessa novela é interiorano, num Rio Grande do Sul de imigração alemão. Há alguns elementos russos também. A outra parte chama-se Pequeno dicionário nostálgico do meu futebol missioneiro. Falo dos termos que usávamos no interior das Missões para nos referirmos ao futebol ou da especificidade que algum termo genérico adquiria no interior missioneiro.
A sua experiência como jogador de futebol está em Estilhaços?
Está sim. Mas a minha tentativa é de fabular, de construir obra ficcional. Esta parte do livro foge dos aforismos e epigramas. Algumas histórias boas da minha época nas missões eu conto integralmente. Alguns amigos até se reconhecem nelas. Quando a realidade não é tão interessante, não tenho o menor prurido em transformá-la. Eu exagero, dou especificidade ao fato… Aliás, estou fazendo muito isso num livro que vai sair em breve e que se chama Mais que memória. É um romance de viagens em que eu crio um personagem que viaja, mas a base são as viagens que eu faço. Como sou um sujeito relativamente pacato e pouco interessante, meu personagem mente muito mais que eu, é muito mais sacana que eu e, nesse sentido, é mais interessante. Não é uma realidade que eu gostaria, já que o personagem é um mau-caráter. No entanto, é mais representativo para a contemporaneidade.
Um dos atores sociais que personifica o mau-caráter no Brasil ainda é o político. E você também fala deles em Estilhaços.
Eu falo muita coisa tangencialmente e outras nominalmente, pontualmente. Com o livro, trabalho com gêneros fragmentários, curtos tem duas fábulas que tratam de dois presidentes. Um deles é o Fernando Henrique Cardoso e o outro é o Lula. São relativamente críticas. Há alguns aforismos que falam da situação política e sociológica de maneira geral. A primeira relaciona o personagem FHC com um mestre transformista italiano que se chama Fregoli. Eu estava lendo alguma coisa sobre ele e me dei conta que o Fernando Henrique era o Fregoli Henrique. Fregoli trabalhou em várias áreas. Uma das histórias célebres da vida dele lembra a época de quartel, em que não era permitido aos soldados irem a um baile. Ele se vestiu de mulher e foi. Dançou a noite inteira com o general, que não percebeu estar na presença de um transformista. Aí fiz uma relação de que o general do governo FHC — que era o PFL — também estava dançando com um cara mascarado. Na fábula sobre o Lula, uso a expulsão do jornalista americano porque o profissional tinha feito uma crítica ao governo e digo que foi uma manobra diversionista, para esconder as coisas que são importantes, como o fato de não se ter feito uma reforma agrária radical.
Você escreve para o leitor?
Escrevo para mim e não porque eu quero escrever, mas porque eu preciso escrever. É sério.
Por quê?
Quando as pessoas me perguntam isso, eu digo que eu sou o único morador da zona sul do Rio de Janeiro que não faz análise.
E além de não fazer análise você ainda ajuda os outros a pensar em si mesmos. Você dá aula particular de filosofia. Descobriu um nicho?
Eu dou aula de filosofia, mas acho que sou bem catedrático, bem ortodoxo.
Não tem nenhuma relação com filosofia clínica?
Absolutamente nada a ver. Mas a relação que eu faço com a análise é que o meu público é semelhante ao que faz análise. São as pessoas que têm dinheiro para pagar R$ 200,00 semanais por consulta e estão interessados em se instruir.
Por que você decidiu dar aula particular de filosofia? Ajuda o fato de que a vida de escritor e tradutor no Brasil nem sempre é fácil?
Ser escritor não é fácil mesmo. Tradutor, no meu caso, é. Tenho excesso de trabalho para fazer, não consigo aceitar tudo que me oferecem e ganho bem. A atividade de professor particular é mais rentável. Eu ganho muito mais como professor do que traduzindo por hora.
E o trabalho como professor na Alemanha? Você deu aula de literatura brasileira e teoria da tradução na Universidade de Freiburg. Os alunos tinham algum interesse especial?
Era muito bom de dar aula lá. Eles eram muito interessados e de maneira geral, pela pouca experiência que eu tive aqui, lá os estudantes eram mais adultos. As pessoas me dizem que aqui no Brasil não é tão bom dar aula, porque os alunos no início da faculdade estão menos interessados, menos preparados. É uma questão genérica. Por exemplo: o aluno vai estudar letras e não sabe se situar no ambiente da literatura brasileira. O professor precisa explicar tudo desde o início. Na Alemanha não é assim. É um sistema de ensino diferente e o estudante tem dinheiro para comprar livro. Não passam fome. Estudante alemão tem dinheiro para viajar. Não existe alemão de 20 anos que não tenho saído do país pelo menos uma vez, numa viagem relativamente longa e eventualmente estudado fora. E isso no Brasil é uma exceção absoluta.
Estudante brasileiro não tem dinheiro para comprar livro; escritor não consegue viver da venda na prateleira. Editar — do latim “dar à luz” — no país faz jus à origem etimológica, ou seja, é um parto…
É um processo difícil sim, uma metáfora legal, bem semelhante. Eu procuro participar de todo o processo de produção. Mesmo quando não é um livro meu, normalmente escolho a tradução. Eu não aceito tradução por encomenda, a menos que o autor me interesse. Faço tradução, reviso, faço comentários à obra, nota de rodapé, prefácio, posfácio, glossário quando é necessário. E quando a editora é aberta, faço comentários relativos à capa.
Qual foi a sua motivação para mergulhar na língua alemã e seguir a carreira de tradutor?
Eu comecei a me interessar relativamente cedo. E a motivação veio do meu interesse geral pela literatura alemã. Eu constatei que existiam algumas coisas muito interessantes que não haviam sido traduzidas para o português. Sobretudo as obras clássicas — nas quais eu me detive no início — eram mais acessíveis, por não haver necessidade do pagamento de direitos autorais. Depois de fazer esta constatação, comecei a tentar achar os caminhos para fazer as traduções. Eu comecei em Porto Alegre, com uma editora importante durante a década de 80 e início da década de 90: a Mercado Aberto. Hoje, já não tem mais papel relevante no mercado editorial brasileiro.
O que muda no processo de formação do profissional e no resultado final do trabalho quando o tradutor já tem conhecimento da língua desde a infância?
Não acho que este conhecimento é primordial. Há grandes tradutores que não sabiam falar alemão quando criança. Claro que ajuda a ser um bom tradutor. Como também facilita se a pessoa tiver morado na Alemanha vinte anos.
Como você conceitua um bom tradutor?
Ser um bom tradutor é sobretudo respeitar o texto que se está traduzindo. Acho que o bom tradutor é aquele que faz o que não se fez no Brasil ao longo de muito tempo, que é levar o leitor até a obra. Não é levar a obra até o leitor de mão beijada, simplificando as coisas, alisando as arestas do alemão, transformando o estilo peculiar de um autor e levando a obra a um lugar-comum.
Essa é uma crítica que você faz a alguns autores que traduziram obras brasileiras para o alemão.
Acho que essa era a maneira que se traduzia de uma maneira geral, lá fora e aqui. Os teóricos da tradução sempre disseram que seria necessário trazer o leitor, sobretudo os teóricos do romantismo alemão e depois o Walter Benjamin. Com relação ao Grande sertão: veredas, por exemplo, o livro começa com a expressão “Nonada”, palavra que significa coisa sem importância. Eu acho bem importante o Grande sertão começar com uma palavra e logo em seguida ter um ponto. O Guimarães Rosa escrevia balanceando todas as palavras, as vírgulas. Pois bem. Esta palavra foi traduzida para o alemão com quatro palavras. O tradutor [Curt Meyer-Clason] interpretou a palavra brasileira. E assim acontecem várias vezes. Ele interpreta o que e obscuro em Guimarães Rosa, simplifica. E o pior — o que mais critiquei — é que ele faz isso trabalhando numa língua que permite construções tipicamente roseanas. Guimarães Rosa aplicou no português que ele escrevia procedimentos típicos da língua alemã, como condensação e aglutinação. Ou seja, o instrumento que o tradutor tem para traduzir já e um instrumento maior do que o próprio Guimarães Rosa tinha no momento em que ele escreveu. E ele não usou isso. Fez uma obra — em termos de construção poética — muitas vezes inferior ao texto original. Simplificou e não ousou.
O ofício de tradutor ajudou no desenvolvimento do escritor?
Encaro realmente assim. Isso não quer dizer que eu imite algum estilo ou autor. Eu não tenho a menor dúvida de que estes autores que eu traduzi ajudaram muito. Para traduzir se lê muito bem um livro. Umas cinco vezes. Esses autores foram muito importantes na minha formação. É uma questão, inclusive, quantitativa. Quando você traduz um livro, escreve um livro também. Já traduzi quinze. Essa “massa” traduzida, com certeza, ajuda no processo mental de elaboração da minha própria obra.
Tradução é co-autoria?
Não sei se eu diria que é uma co-autoria até porque eu tenho muito respeito pelo autor que traduzo. Eu tento fazer com que o Kafka e o Arthur Schnitzler, traduzidos por Marcelo Backes, tenham cada um o estilo deles e não o meu. Aliás, fiz isso de uma maneira extremamente esquizofrênica numa antologia em que traduzi 54 contos de autores diferentes. Eu sozinho. Fiquei feliz ao perceber no final que Judith Hermann, que é uma autora contemporânea alemã não tem nada a ver com Franz Kafka. Todos os autores tinham peculiaridades estilísticas que eu consegui transmitir na tradução.
Você traduziu Goethe, Schiller, Heine, Marx, Kafka, Schnitzler, Brecht… São nomes que contribuíram para mudanças importantes no pensamento ao longo da História. Não é difícil manter as suas próprias convicções depois de terminar um trabalho?
Não. Até porque são autores que eu já tinha lido muito antes, já conhecia a obra. Se eles tiveram um papel de mudar meu comportamento, foi anterior. Ao traduzir, eu já os conhecia muito bem.
Tem de ser assim para fazer uma boa tradução?
No meu caso tem de ser assim. Não acho que seja uma lei universal. Eu conheço inclusive uma tradutora sueca que traduz sem conhecer o livro. Vai traduzindo e entrando no livro. Ela diz que sente prazer fazendo isso porque lê o livro com empolgação e consegue traduzir mais rápido. Eu tenho certeza de que ela traduz muito bem. Mas, é claro, existem vantagens em se conhecer uma obra anteriormente. Essa tradutora que eu citei, tenho certeza, respeita esse detalhe. Mas tem alguns detalhes que, para ela, são mais difíceis de aceitar. Por exemplo,:acho importante usar na medida do possível a mesma tradução para a mesma palavra que aparece em vários trechos da obra. Tem um exemplo clássico da história da tradução que ilustra bem isso. É de uma obra francesa da Fedra, de Racine. Ele usa a palavra noir — preto, escuro — várias vezes e ela é uma espécie de fio condutor da narrativa. Na maior parte das traduções do mundo inteiro noir foi traduzido ora por preto, ora por escuro, sombrio… Aí se perde o fio condutor, uma perda, sem dúvida, importante. Para cada situação se pegou o sinônimo mais adequado e isso criou uma situação extremamente problemática. É muito mais fácil de dominar essa questão se o tradutor já leu a obra antes. Sabe-se que o autor usou desse recurso e se tenta manter a mesma palavra.
Houve alguma crítica que ficou martelando na sua cabeça ou que fez você mudar de comportamento?
Mudar eu não mudo. Eu dou atenção. Já recebi crítica, mas nunca global. Sempre pontual. Eu até fico satisfeito porque um dos meus maiores protestos na Arte do combate é a falta de crítica. Eu sei que alguns criticam porque eu os provoco a criticar. Existem coisas que eu escrevo que quase pedem críticas. São provocadoras mesmo. Naturalmente eu sofro. Como eu também sou muito crítico na minha atividade ensaística, fico quieto no meu cantinho. Choro eventualmente.
Não reage?
Só reajo quando a questão é pessoal. Quando não estão falando do meu livro e sim de mim. Isso já aconteceu em ambiente restrito, mais provinciano, no Rio Grande do Sul. Eu fiz a crítica de um livro, aí um amigo do autor veio e me atacou pessoalmente. Aí eu respondi pessoalmente e até terminei o texto dizendo que — se ele duvidar — até daria um tapão no ouvido dele. Se for pessoal a questão, posso mostrar que uma bofetada também pode ser um argumento poético. Eu não critico pessoas, eu critico obras. E, quando alguém transforma a crítica em pessoal, tem que encarar o pessoalismo extremo que é a agressão física.
Nesses seis anos morando na Alemanha foi possível perceber se aumentou ou diminuiu o interesse pela tradução da literatura brasileira?
Eu acho que diminuiu. Já foi maior na época do realismo mágico sul-americano nas décadas de 60 e 70. Também houve um “boom” na época da ditadura. A Alemanha sempre se interessa em traduzir algo quando existe uma contingência sociológica ou histórica que discute uma questão importante como foi o fim da ditadura. Até houve, digamos, um sutil ponto alto de interesse quando o presidente Lula foi eleito, mas logo arrefeceu, assim como o povo aqui também se desiludiu. O Brasil se tornou, em vários aspectos, uma questão mais interessante na Alemanha. As matérias nos jornais não citavam apenas o problema da violência nas favelas do Rio de Janeiro. A esperança no governante de esquerda que chegou ao poder também era abordada. O interesse na literatura vinha dentro de todo um contexto, mas passou rápido.
Você vê um caminho para tornar esse interesse permanente?
Acho difícil, ainda que a literatura brasileira esteja vivendo um momento de profissionalização, ainda que estejam surgindo autores de bom nível. Tem muita gente escrevendo. Claro que muita gente escrevendo mal também, como geralmente acontece nessas situações. Mas é possível perceber uma profissionalização na literatura e no mercado editorial no Brasil que talvez possibilite um interesse maior. Mas o que fazer e como fazer, não sei exatamente. Mas, com certeza, a profissionalização pode ser um caminho porque as editores vão pensar mais num trabalho de divulgação, em mostrar lá fora material de escritores brasileiros. Só que isso, é claro, não é determinante para torná-los conhecidos.
E o caminho inverso? O mercado editorial brasileiro continua não indo à fonte e esperando para publicar o que faz sucesso primeiro nos EUA ou isso está mudando aos poucos?
O mercado editorial brasileiro vai muito pouco direto na fonte. Esse é um problema inclusive em relação à Alemanha. Ninguém conhece os autores alemães contemporâneos, jovens e também não existem traduções de obras completas de nenhum autor alemão: nem Goethe, nem Schiller. Se você procurar de Dostoievski, Tolstoi, existe. E o russo é considerado mais difícil que o alemão. É um exemplo clássico, mas deixa patente que a literatura alemã depende muito da mediação do mercado americano — que é extremamente fechado e só publica livros americanos — ao contrário de praticamente todos os outros países do mundo. Na Alemanha, que tem um mercado extremamente profissional, imagino que a publicação de obras de autores estrangeiros ultrapasse os 50%. Nos Estados Unidos, esta porcentagem deve ser de 5% de traduções.
Essa “reserva de mercado” é boa ou ruim para o país que a pratica?
Esse umbilicalismo americano não permite que seja consumida cultura de outros países. Mas, no Brasil, até não seria ruim. Já se nota um deslocamento no sentido de uma publicação maior de livros de autores brasileiros. O número de traduções, é claro, caiu. E o que se traduz normalmente não é o que se caracteriza pela boa qualidade.
O Brasil deveria ser mais seletivo e tentar chegar a um índice de publicação de autores estrangeiros semelhante ao dos Estados Unidos?
Eu acho que não. As coisas têm que acontecer naturalmente. Nós estamos de alguma forma nacionalizando o nosso mercado. Publicar 95% de obras de autores daqui não deve ser um objetivo, até porque existe muita coisa interessante lá fora que os americanos, aliás, nem conhecem.
Nacionalizar o mercado é um passo para que outros países se interessem pelas nossas publicações e passem a traduzir mais escritores brasileiros?
O que importa é a profissionalização do mercado, como já disse, mesmo que se publiquem livros estrangeiros. Mais importante do que publicar em massa é publicar em qualidade e divulgar. Divulgar bem. Profissionalização depende de venda de livros e isso depende de algo muito mais profundo, questões de ordem sociológica, econômica. Quem não tem dinheiro para comer, não vai comprar livro.
Mas poderia encontrar com mais facilidade, por exemplo, na biblioteca da escola, do bairro…
Poderia. Mas quem está com a barriga vazia não vai se interessar. É preciso resolver outros problemas mais graves. De qualquer forma, já se nota a formação de um público leitor fora do ambiente restrito da escola e da universidade pela primeira vez na história do Brasil.
Basta ler? E o conteúdo do que se lê? Quem está lendo o quê?
Sinceramente, não acho que exista caminho que leve de Paulo Coelho a Machado de Assis, ao contrário do que muita gente diz. Mas tem um outro lado, ao qual eu me refiro: é o papel de uma boa coleção de pockets. Pockets, por exemplo, como os da LPM, que publica alta literatura, edições de boa qualidade, às vezes comentadas e caprichadas e tem muita gente que lê.
Qual o perfil de compra dos pockets?
São, por exemplo, os profissionais liberais que estão fora da universidade. Ele vai à banca de revista, vê o livro lá e acaba comprando.
Quem leva lê? Ulisses é o livro mais comprado e o menos lido…
Eu não acredito que aconteça isso. Acho que eles são lidos de fato. Ulisses é um caso a parte. É extremamente difícil. Werther tem site na Internet, blogs. Vejo pessoas comentando também sobre Kafka ou um autor contemporâneo alemão Thomas Bernhard. E não são profissionais de literatura falando desses livros. Longe disso.
Então existe uma mudança no perfil do leitor. E com relação ao perfil dos escritores. No seu primeiro livro, a Arte do combate, você diz que os escritores brasileiros não são combativos. A crítica fica restrita a eles?
Quando existe uma manifestação de combate na literatura brasileira é normalmente uma manifestação individual, mas ela não se caracteriza pelo combate, como é o caso da literatura alemã que eu debati em a Arte do combate. É uma coisa estranha, mas todos os autores alemães, conhecidos e desconhecidos, clássicos ou contemporâneos um dia escreveram uma coisa extremamente combativa, com aquele jeito briguento. Isso não é característico dos autores brasileiros. Quando você encontra um, é exceção à regra. Por uma série de questões de ordem sociológica, a gente tem uma tendência ao afago, ao carinho, a contemporizar.
Essa característica talvez seja uma outra forma de combater.
Os sociólogos da modernidade brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, têm um pouco de razão quando analisam o povo brasileiro de uma maneira genérica e chegam à conclusão de que isso acontece por questões de ordem diversa, inclusive raciais, climáticas. Também o fato de termos conseguido a nossa independência no gabinete e não brigando, guerreando, faz com que sejamos antes um país de afagos e não de brigas. Tem uma questão essencial na história do Brasil. As coisas nunca aconteceram abruptamente. Sempre foram paulatinas e farsescas. O país se tornou independente de Portugal e o nosso governante era o filho do rei português que à beira de um rio deu um grito patético, sem inimigos em volta e contra o pai. Nós ficamos independentes, mas a situação não mudou nada. É aquela história de que as coisas mudam na superfície exatamente para não precisarem mudar na essência. Isso é grave e continuou se repetindo. Está se repetindo agora. Estamos num governo de esquerda e não tivemos mudança profunda de nenhuma ordem.
Será que um povo inteiro consegue não ser combativo? Mas há a tática de se aproximar pelas beiradas.
Para ficar só no âmbito da literatura, o nosso maior clássico faz isso. Machado de Assis tem uma espécie de combate oculto na obra dele, ele come pelas beiradas. Você vê algo extremamente combativo em relação à realidade brasileira, uma dissecação absolutamente profunda, no subsolo da narrativa e que aparece no nível da forma da seguinte maneira: Machado não escreve aforismos, mas é um escritor extremamente aforístico. Tem frases no corpo da narrativa dele que são aforismos prontos. Eu cheguei a defender isso num ensaio. Em A arte do combate, digo que não somos combativos porque não praticamos esses gêneros essencialmente combativos que são os aforismos na prosa e os epigramas na poesia. Escritos curtos, provocativos, extremamente violentos são muito comuns entre os alemães. Entre os franceses também de um jeito um pouco diferente. Esses gêneros praticamente não existem no Brasil. Não existem autores que os pratiquem, a não ser modernamente o Millôr.