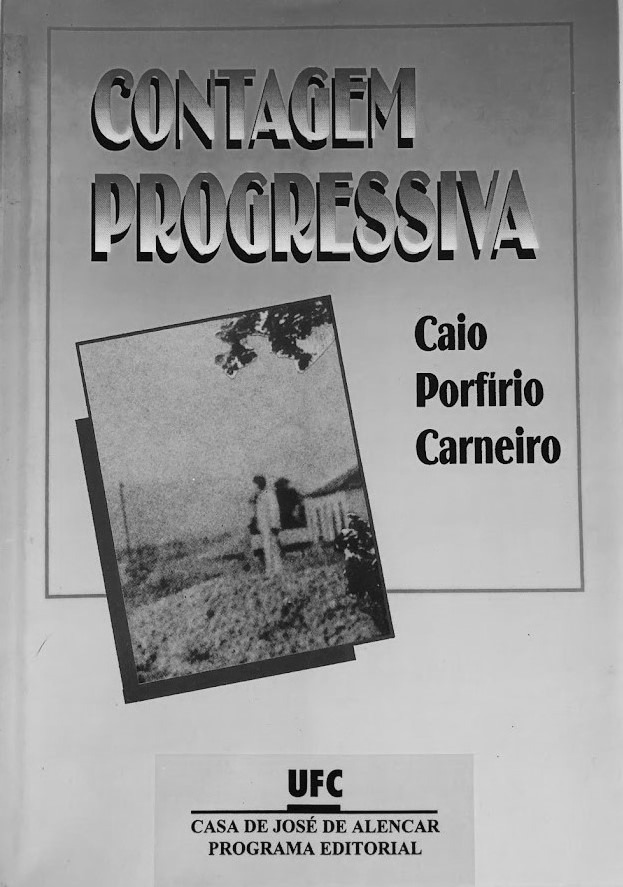Em entrevista a Cláudio Portella (Fortaleza – CE), o escritor Caio Porfírio Carneiro, 75 anos, completados no último dia 1º de julho, fala sobre como começou a escrever, a literatura brasileira e a amizade com inúmeros escritores, que resultou no livro Perfil de memoráveis.
• Quantos anos de memórias?
O meu primeiro livro de reminiscências, eu pego desde os três anos de idade, da lembrança mais remota, eu brincando com carretéis, na casa que meu pai construiu na rua Tristão Gonçalves, em Fortaleza. Eu me lembro de uma mulher perto de mim, eu despido, parece-me que despido. Sol, e eu brincando com carretéis de linha. Isto deve ter sido mais ou menos em 1931, eu tinha três anos de idade. A lembrança mais remota. Eu guardo com muita precisão as lembranças do meu passado. Meu pai foi um homem muito rico, autodidata, humanista, sabia latim, grego, francês, e tinha um escritório de representações. Depois, ele resolveu se meter com exportações. Eu ainda não tinha nascido. Vendeu o escritório de representações, se não me engano em 1926. Sobraram-lhe 200 contos de réis, era dinheiro para não se acabar mais, porque se comprava uma boa casa com dois contos de réis. Veio a crise de 1929, ele perdeu tudo, e quando eu abri os olhos para o mundo, eu sou de 1928, quando eu abri os olhos para o mundo foi para assistir à derrocada final do velho. Lembro bem dele pondo a casa no leilão, vendendo os móveis, se socorrendo de um irmão rico no Rio e nos mandando para a fazenda Pau Caído, dos meus avós, lá perto de Sobral, e sem um tostão furado no bolso. Então isso me marcou muito. Eu vi meu pai na sua fase má de saúde, um homem já sem força de vontade, já meio entregue. Foi ao Rio e voltou com uma representação para ficar novamente rico, porque ele conseguiu a representação do primeiro café solúvel do Brasil. Mas quando chegou em Fortaleza, isso em 1933, ele não teve coragem de abrir o escritório. E eu só não passei fome… A nossa casa tinha tamboretes, almoçávamos algumas vezes açúcar com farinha, éramos vários filhos. Papai empregou-se na Usina Ceará, aqui na Siqueira Gurgel, e começou a cair, cair, cair… Resultado: contraiu o Mal de Parkinson e morreu em 1942 como um santo, calado. Mas eu ainda o alcancei na sua exuberância de conversa, de alegria, mas no fundo um homem triste pelos fracassos continuados. Conheci Antônio Sales, fundador da Padaria Espiritual. Eu me lembro bem de Antônio Sales, eu era menino… Quando morreu, em 1940, eu tinha 12 anos.
• E ele tinha os seus trinta anos?
Ele morava no Alagadiço, que é Antônio Bezerra hoje, descia do bonde, conversava com meu pai. Depois ele mudou-se para uma casa, na Liberato Barroso, e conversava com o meu irmão mais velho, que era jornalista. Mas ele nunca me deu atenção, eu era menino. Mas eu me lembro bem dos traços dele, magrinho, sempre engravatado, tipo amorenado, mas um moreno assim como você. Ele tinha quase setenta anos e eu tinha doze. Agora: minhas memórias estão todas nesse livro (Contagem progressiva — primeira parte de suas memórias, Infância).
• E a segunda parte?
O segundo volume vai até a minha ida para São Paulo, que tá me dando muito trabalho. Muito trabalho não só por causa da doença, mas porque você, até 12 anos, até quando você vem para o ginásio, você, mais ou menos, é conduzido pelos pais. Mas quando chega na puberdade, com seus 18 anos, 20 anos, quando você solta as plumas, aí a sua cabeça vira, o que você tem para contar de Fortaleza, dos comícios, das praias, do mulheril, é um negócio de louco. E você não sabe nem por onde começar.
• E você quer contar tudo?
Só tem um jeito. Você tem que escrever tudo. Depois você faz a triagem. Você não pode disciplinar, vem na cabeça, você escreve. Tudo! Tem uma coisa que é incrível. A coisa mais difícil é você escrever suas reminiscências, quando você escreve com amor, livre de concisão. Quando você se senta para escrever, quando eu comecei a contar minha infância, o que vem do subconsciente e joga no consciente…
• São 70 anos de memórias e quantos de ficção?
Para ser exato com você, eu comecei a ler, eu comecei a me meter com livros, quase, é uma força de expressão, mas vale dizer, quase juntamente quando comecei a falar. Meu pai tinha uma boa biblioteca, falava bem o francês. Tinha toda a coleção dos clássicos, Machado de Assis, Eça de Queiroz completo, os escritores portugueses, Alencar… De sorte que ele nos pôs nas mãos livros muito cedo. E todos nós fomos educados segundo o padrão de cultura que era típico na época. Então eu comecei a ler muito cedo, e o primeiro trabalho que eu fiz, publicado (antes eu escrevi uns sonetinhos sem importância), eu tinha meus 12 anos. Publiquei numa revista dos padres sacramentinos da igreja de São Benedito. Eles gostavam muito de mim porque eu estudei com eles dois anos de teologia, e escrevi um conto chamado Chico Peba. Não! Fiz uma crônica e dei o título de Ave, Maria! Mas a crônica era uma Ave Maria de ruim. Ave, Maria! Aquela revista era o chamariz dos jovens que participavam das reuniões religiosas…
• Por que você não rasga nada do que escreve?
Eu tenho cadernos do curso primário, cadernos do Liceu do Ceará, do ginasial, eu guardo. Só por isso. Agora, que aconteceu? Eu escrevi tanta tolice na juventude e guardei tudo que acabei verificando, agora, que vou fazer, eu vou fazer um livro com essas besteiras, contando como escrevi e porque escrevi. Vai dar um livro curiosíssimo. Eu vou publicar trechos do romance com os erros de português todos e explicar que escrevi por circunstâncias tais, tais, tais… É um romance, mas é uma loucura. Um romance em oito cadernos, escrito a lápis. Misturo Tarzan. Tarzan mata todo mundo a soco. Essas coisas da idade. Então, tudo isso eu vou juntar e vou dar uma ordenação assim meio jocosa, mostrando, afinal de contas, o roteiro do pré-nascimento do escritor. Começa com a Ave, Maria, como pedindo perdão ao leitor.
• Vai ser uma obra completa?
Que antecede a minha vida de escritor. Agora, quando sai… não sei.
• E ao mesmo tempo faz parte dela.
Faz. Até eu sair do Liceu do Ceará, em 1945, fui um rapaz muito religioso, os padres me achavam muito inteligente e me passaram a ensinar teologia. Eu estudei com eles dois anos teologia. Eu comungava todos os domingos, eu não assistia ao carnaval. Era uma prisão escolar daquelas medievais. Retomando, então. Quando eu terminei o ginásio, o clássico, e veio a democracia no Brasil, corria o nome do Prestes, da esquerda, eu me aproximei do Democrata, jornal do partido comunista. Aí eu deixei de ser católico para ser comunista. Virei. Eu fazia comício na rua, queria enforcar o papa. Mamãe dizia que eu estava perdido. Tava nada nada! Eu estava me reencontrando, devido à repressão muito grande. Uma coisa muito importante é que eu conheci o Aluízio Medeiros, o poeta Aluízio Medeiros. Eu era revisor do Democrata e escrevia uns contos para mim mesmo.
• Algo pessoal?
Uns contos só para mim e não mostrei para ninguém. Fiz um livro depois. E como eu tinha muita vontade de mostrar esses contos ao Aluízio Medeiros, que era do grupo Clã e redator do jornal.
• Isso em 1942?
1946, por aí. Um dia eu criei coragem. Tinha saído um livro pela editora das edições Clã, Os hóspedes, um livro de poesias com quatro autores: Artur Eduardo Benevides, Aluízio Medeiros, Antônio Girão Barroso e Otacílio Colares. Eu pouco falava com ele, revisor lá atrás, ele na frente. Um homem sério, apesar de jovem ainda. E passei por ele, peguei o livro, abri na parte dele e pedi para ele autografar. Era a maneira de me aproximar dele. Aí eu disse: Aluízio, eu tenho aqui uns contos. Ele perguntou: Você gosta de poesia? Gosto. Mas gosto mais de prosa. Você tem alguma coisa. Tenho. Uns contos em casa. Traga para eu ver. Eu me questionei alguns dias se devia levar ou não. Porque não sabia se tinha algum valor. Mas, um dia, levei. Ele leu na minha frente. Na frente da mesa dele ficava a mesa do Aníbal Bonavides, que era o diretor do jornal. Eu tinha 17 anos. Ele acabou de ler. Olhou para mim, me chamava de Caíto. Caíto, isso é seu mesmo? É. Ele falou alto: Aníbal! O Caíto é escritor. Rapaz, você é escritor. Aí começou a me incentivar com leitura. Mas nunca publicou nada meu na Clã, porque eu era muito jovem, 17 anos. Resolveu só me incentivar. Mas fez uma coisa boa comigo, me passou pra redação do jornal. Viu que eu estava acima da revisão, já com aquela idade. Porque eu tinha bom embasamento de leitura, já tinha lido o Eça de Queiroz, Machado, Graciliano, Lins do Rego, Rachel de Queiroz, e por aí afora. Pois bem, mas quem primeiro publicou matéria minha em jornal foi o Jáder de Carvalho. Eu escrevi uma crítica, uma crítica entre aspas, que não era crítica coisa nenhuma, sobre um romance do Delmônedes Neto. Escrevi também um soneto de pé quebrado. E o enxadrista Hélder Câmara enviou ao Diário do Povo e o Jáder publicou. O Jáder incentivava muito os jovens. Mas aí me apareceu um emprego na firma Celso Nunes, Panair do Brasil, na época a maior companhia de aviação do Brasil. Ele era o agente e eu consegui esse emprego por meio de um parente, cunhado do meu irmão, era fiscal do consumo. E aí abandonei a literatura. Adorei a aviação. Não é bem abandonar, eu lia, mas não escrevia nada. Porque adorei a aviação. Comecei no balcão, do balcão passei para o caixa diário, do caixa diário eu passei para auxiliar do caixa geral, de auxiliar do caixa geral eu passei a caixa geral. Fiz um estágio no Rio e São Paulo e, quando voltei, assumi a direção do escritório. Eu tinha 24 anos. Muito bem, aí aconteceu comigo um grande desastre, que fez com que me mudasse para São Paulo. Uma penca de namoradas, era quase noivo de uma moça, não vou dizer o nome aqui, eu só andava no linho S-120. Carro? A Panair tinha uma frota. Eu dava para mamãe, que era viúva, 800 cruzeiros, eu ganhava três mil, não conseguia gastar. Eu ia pra farra, gastava 60 cruzeiros. Juntei dinheiro no banco. Muito jovem, trabalhando muito, mas trabalho não mata. À noite, a faculdade, curso de geografia e história. Eu trabalhava o dia inteiro, de lá pra faculdade, da faculdade ia pra farrinha. Fiquei tuberculoso. Passei três anos fora de circulação. Aí foi meu desastre, a minha queda. Porque perdi todos os amigos. Pararam de me visitar, com medo de contrair a doença, porque naquela época, 1953, 54, 55, a tuberculose era uma espécie de Aids piorada. Eu morava na rua Princesa Isabel, e chegou ao ponto de dizerem que naquele quarteirão tinha um rapaz tuberculoso. Muito bem, então eu via que não tinha mais condição de ficar em Fortaleza. Porque, embora curado, a firma não me aceitaria mais. Não estou culpando a firma. Pelo amor de Deus! Outra: a firma Celso Nunes era muito conhecida em Fortaleza. Então, outra firma não daria emprego a um ex-tuberculoso. Eu tinha um irmão muito bem no Sul, com uma imobiliária, associado com João Passarinho, irmão do Jarbas Passarinho. Veio a Fortaleza e nos levou todos para o Sul, incluindo minha mãe, meus irmãos, todos!
• Eram quantos?
Sete! Éramos dez, mas já tinha dois com ele lá e duas irmãs minhas, casadas, moravam no interior. Fizemos as malas, fechamos a casa e fomos embora. Mas antes, como eu não podia trabalhar, tinha que fazer repouso absoluto o dia inteiro, tomando pneumotórax. O Hélder Câmara me visitava quase todos os dias na minha casa. Outro que me visitava era o Milton Alves, cantor e compositor. Pus letra numa das suas composições. Está inédita. Quem sabe um dia seja gravada.
• Depois que você venceu o concurso com o conto O enxadrista.
Escrevi uma série de contos, com aqueles também que eu tinha guardado, dei o título de A última viagem. Mas não publiquei. Esse livro ficou inédito. Eu fiquei mais um ano em Fortaleza, minha família foi antes. Porque o quarto ano de filosofia, que é a parte didática profissional, eu só fiz depois e fiquei numa pensão. Uma pensão conhecida, porque não quis ficar na casa dos parentes.
• Por conta da tuberculose?
Eu estava curado! Mas eu fiquei traumatizado, pensando que a minha tia, que era a minha madrinha. Se eu bebesse um copo d’água, ela iria depois escaldar.
• Porque tinha esse preconceito velado.
Exato! Eu não quis ficar nas casas dos parentes, na casa de ninguém. Fui para uma pensão. A minha mãe conhecia uma pensão muito boa. E lá eu escrevi uma novela, Dias sem sol, em dez dias chuvosos em Fortaleza. Lá eu conto Fortaleza da época, lá eu conto a minha doença, descaracterizada, porque estava numa pensão, não tinha hospital, mas a essência era verdadeira. Pois bem, quando eu saí daqui, eu fiz um juramento, dia 17 de novembro de 1955, eu fiz um juramento de nunca mais pisar no Ceará. Por causa da doença e da retração dos amigos.
• O preconceito era forte?
Eu chegava na Praça do Ferreira, ninguém falava comigo. Só de longe. Eu era um leproso, rapaz. A doença era isso. O que era a tuberculose há cinqüenta anos? Agora, compreendo que eu teria feito o mesmo. Mas você não aceita. Então o que aconteceu: quando cheguei lá, deu saudade, com seis meses eu estava de volta. Quando eu cheguei lá (São Paulo), fui publicar essa novela. O livro de contos, eu digo para mim: eu não sei, tem contos bons, tem contos razoáveis. Resolvo: eu vou publicar a novela Dias sem sol (Ela foi publicada depois). Eu fui na editora Saraiva, que na época publicava grandes escritores, e apresentei o livro. “Deixa aqui que vamos examinar”, me falou o velho Saraiva. (Eu datilografei o trabalho num papel muito fininho, azul, sem carbono, eu não tinha os rascunhos, eu não quis colocar o carbono porque borrava muito). Quando voltei, eles disseram: o livro vai sair por oito mil cruzeiros (Vamos supor que fosse mais ou menos isso, eu não me lembro mais). Se você pagar a metade, lançamos o seu livro nacionalmente. Tinham gostado do livro, mas eu era um desconhecido. Eu voltei vendo nuvens azuis. Mas quando cheguei no escritório, eu trabalhava com o meu irmão, ele me recolheu no escritório dele, para trabalhar com ele, para que eu não trabalhasse, porque eu precisava de algum tempo para a consolidação da cura, não fazia nada, ele me dava o dinheiro todo o mês, fazia umas viagenzinhas para ele, umas coisinhas, eu disse: Carneiro, o nome dele é Manuel de Castro Carneiro, o mais velho, a editora publica, mas só se eu der a metade. Ele disse: Se você quiser o cheque agora, eu dou. Quando ele falou isso me veio a paúra, o medo, eu digo, e se eu levar pedradas e não flores? Eu não conheço ninguém. Fiquei na dúvida atroz. E aqui, acolá, meu irmão perguntava: como é que é, quando sai o livro? Eu dizia, tô ajeitando. Tirei os originais da editora, dizendo que ia revê-los. Ia fazer uma revisão. Era o medo da minha decisão. Depois, eu perdi o medo. Resultado: Perdi os originais. Mas não dei muita importância. Comecei a escrever uma série de contos regionais, 11 contos, tendo por fulcro uma vila chamada Trapiá. Tudo acontece nessa vila. O padre é o mesmo, o coronel o mesmo. Se o padre é a personagem principal de um conto, num outro ele é personagem secundária. É como se fosse um romance desestruturado esses 11 contos da vila do Trapiá. Sabe o que eu fiz? Eu vou lhe contar a verdade, é conta do mentiroso, mas eu ganhei sete prêmios num ano. Aí o filho do Graciliano Ramos, Ricardo Ramos, foi me conhecer, ele acompanhava as revistas. Foi no escritório me conhecer. Eu lhe disse: Eu tenho um livro. Eu quero ver seu livro. Ele tinha uma página literária no jornal Última Hora. Mostrei pra ele. Mostrei para o Jorge Medauar, para outros escritores, e aí começou a correr o livro. Caiu na Francisco Alves, que publicou. Estourei! Uma edição de três mil exemplares foi vendida em quatro meses. Aí, filho, abriram-se às portas para mim. O conto Come-Gato foi lançado na televisão, aqui em Fortaleza, quando a televisão aqui estava começando. Adaptado, naquele tempo já havia tape, passou aqui na TV Tupi daquela época. Passou em Recife, passou em Belém, voltou para Fortaleza. Foi considerada a melhor adaptação de conto do Norte do País. Pois bem, aí eu não tive mais problemas, passei a colaborar no Estado de S. Paulo, depois fui convidado a trabalhar na secretaria da União Brasileira de Escritores. Preparei meu segundo livro: O sal da terra, sobre salinas, um romance. Sobre as salinas do Cocó, que eram aqui no Cocó, não existem mais, devido à febre imobiliária. Até ao Juarez Barroso, muito meu amigo, eu dizia: Juarez, a miséria na porta e você não vê. Ele me deu uma resposta curiosíssima. Ele disse: Caio, quem se ausenta e volta, vê melhor. Eu fazia farra no Cocó, não estava nem aí, até que escrevi O sal da terra, romance, saiu numa edição de quatro mil exemplares pela Civilização Brasileira, mais duas edições pela Ática, duas adaptações para o cinema. Não foi filmado porque não apareceu dinheiro, mas as adaptações estão feitas, com roteiro técnico feito, não foi filmado ainda. A companhia Havaí quase filmou, mas o diretor responsável, que ia filmar, morreu do coração. E eu perdi a boca livre. Foi traduzido para o Árabe, para o italiano (edição de 20 mil exemplares, uma edição lindíssima, ganhei um dinheirinho). Muito bem, aí continuou minha carreira de escritor. Daí pra frente. Agora mesmo, O sal da terra está sendo estudado por uma professora que está fazendo um trabalho sobre ele na universidade de Boulogne, França. Contos meus foram para o japonês, o espanhol, o alemão, o italiano, o francês, o inglês. Eu estou numas oito antologias internacionais e no Brasil eu não tenho todas as antologias onde estou, porque às vezes colocam contos meus e não me avisam, mas devo estar numas vinte. Eu tenho catorze. Escrevi 20 livros, porque entrei para a área juvenil. Escrevi quatro livros juvenis, que vendem muito. Escrevi oito livros de contos, escrevi três novelas longas, fiz uma besteira na minha vida, publiquei um livro de poesias, não sou poeta, poemas de gaveta. E encontrei os originais de Dias Sem Sol, que eu tinha perdido…
• Aquele do papel azul fininho?
Sim. Na minha festa dos sessenta anos, o meu editor italiano publicou uma edição linda e eu distribuí lá em São Paulo. Entrei para o Clube do Livro, mas nunca deixei a União Brasileira de Escritores, a secretaria, que é a Voz do escritor brasileiro. Hoje também sou diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Insistiram e eu fui para lá. E a minha caminhada vai até a morte. Agora, veja o capricho do destino: se não fosse a minha tuberculose, eu teria crescido na aviação e talvez fosse hoje um burocrata aposentado, cheio de filhos, e não seria escritor. O viés veio por causa da doença. Eu era ficcionista, mas não me dedicava. Só veio quando adoeci. A vida dá muitas voltas. Gosto muito de Fortaleza. Até quando fui homenageado pelo Artur Eduardo Benevides, que me deu um diploma na Academia Cearense, eu só disse duas palavras, que são as verdadeiras. Eu disse: Eu saí daqui há 43 anos, mas já voltei umas 60 vezes, então, eu não saí do Ceará, eu apenas me mudei para uma casa mais distante (risos). É verdade. Acompanhei os amigos, acompanhei a vida da cidade, acompanhei o crescimento da cidade, faço prefácio e orelha de livros para a Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui sempre, eu adoro a minha terra. Agora, como eu estou muito ligado a São Paulo, eu não posso mudar para cá, nem que eu queira. Porque eu tenho um relacionamento enorme em São Paulo, modéstia à parte. Tô lançando um livro agora (Perfis de memoráveis). Eu fiz 60 perfis de escritores com quem convivi, mas esses perfis não são resumos biográficos. Pelo contrário, fugi disso, eu escrevi perfis de como eu os via. Eu poderia ter escrito 120, mas eu fiz 60, por imposição editorial. Eu tinha que terminar num número redondo.
• A sua literatura mudou com o tempo? Porque a gente vê que houve mudanças grandes nesses últimos 50 anos, de 1945 para cá, tudo mudou de uma forma tão grande que a gente se perdeu. O que eu lhe pergunto é isso: a sua literatura se perdeu também? Eu digo isso, se perdeu, mas no bom sentido.
O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei regionalista, porque havia a influência da fazenda e das leituras da geração de 30, mas eu fui logo mudando, fui logo mudando. Já O sal da terra é diferente. É uma literatura impressionista, já mudei a linguagem, mais correta. Depois, meu terceiro livro, Os meninos e o agreste, eu ganhei com ele o prêmio da Academia Brasileira de Letras, já era um pouco diferente. Agora, mudando dentro da minha linha ficcional. Eu não mudei para fazer outras coisas, porque todo mundo só melhora dentro do seu como dizer literário. Eu não posso escrever como o Osman Lins. É outra maneira de escrever. Eu não sei fazer aquilo. Só se eu for fazer laboratório. Escrevi um livro, Chuva — Os dez cavaleiros, que é um livro surrealista, gosto dele. Mas também ligado ao meu chão, são histórias de dez cavaleiros. Mas a minha linguagem apurou-se muito ao correr dos anos, em dois sentidos: linguagem e síntese. Então eu fui melhorando ou piorando, mas fui mudando, sempre com aquele cuidado. Quando eu faço palestra, digo sempre isso: aquele cuidado de procurar o infinito da perfeição, sabendo de antemão que nunca se chega lá. Sempre com uma consciência crítica grande, e humildade. Senão você não publica nunca. Porque quando eu solto um livro e vou reler, encontro enganos, encontro variantes, mas fica lá e eu não mudo. Faço igual ao Jorge Amado, não conserto. Deixo como está. Porque sou eu no tempo e no espaço. A Lygia Fagundes Telles muda muito, eu não mudo. Outros mudam. Eu não mudo. Eu faço um conto novo para outro livro. Mas aquilo vai ficar exatamente como eu escrevi no tempo. Porque aquilo foi o Caio daquele ano. Eu não mudo, acho que não devo mudar. Agora, a técnica que eu aperfeiçoei, vou com ela até a morte. Porque é o meu destino. Eu gosto de escrever. Escrevo. Vivo num meio onde todo mundo só fala em literatura. A informática não vai acabar com ela. Pode modificar o suporte do livro. Mas não pode acabar com o livro, porque o livro é um manancial oceânico que jamais o computador pode transmitir para o leitor. Por exemplo, você não pode pegar um livro como Guerra e paz, 700 páginas, e ler pelo computador. Lá pode estar o livro, mas não conseguirá lê-lo como no livro. O livro guarda melhor, porque o livro é dócil, é codificado. Agora, com o tempo, eu não sei como vai ficar isto tudo, porque encontrei professor de português que escreveu incelência em vez de excelência.
• Você nunca pensou em parar de escrever? Roland Barthes fala que o desejo supremo de todo escritor é destruir sua literatura. Quando falo destruir, é trocar de desejo, se calar, trocar de ofício.
Picasso passou a vida inteira mudando a arte dele. Afastou-se do impressionismo e do expressionismo, desprezou o surrealismo, foi pro cubismo, veio a fase rósea, a fase azul, a escultura, o arame, enfim, perguntaram a ele o que era arte; ele respondeu: “Se eu soubesse, não diria a ninguém”. Eu nunca vi resposta tão perfeita, porque é tão difícil definir o que é arte. É uma necessidade interior de se ir além da precária vida. Agora, se você vai ficar ou não, isso eu não sei, não é mais comigo.
• Você faz a orelha de um livro do qual você não acredita? Só para ser pago?
Há dois caminhos. Todo livro de editora precisa ter orelha. Orelha de livro não se assina. É difícil, não é qualquer um que faz. Tem que ter muita prática. É prática, conhecer o como dizer para um texto assim.
• Você nem precisa ler o livro?
Ah, precisa! Pelo menos dinamicamente.
• Dizem que o profissional faz sem ler o livro.
Eu faço sobre qualquer livro. Até para aquele que rime prefeitura com rapadura. Eu trabalho para a editora. A editora não quer saber de Caio Porfírio Carneiro. Ela quer uma informação sobre o livro. E mais difícil é contracapa, que tem que ser elogio sutil. Porque se for grande, dizem que é muita bajulação. Portanto deve não prestar. O trabalho é pago. Não assino o meu nome.
• Nunca lhe vem um questionamento?
Eu separo completamente. Porque não sinto nada, faço aquilo automaticamente. Eu trabalho para umas revistinhas, não vou dizer quais os nomes, que publicam histórias eróticas. Não é pornografia. Vende muito no interior e as mocinhas adoram. Eu cobro 200 reais por historinha que faço. Eu faço em duas horas, uma hora e meia. Aquilo não tem nada de literatura. Eu nem me lembro depois o que eu escrevi. É outra coisa. Também não levam o meu nome. Pelo menos criam o hábito da leitura. Agora: Literatura, sou eu e minha solidão. Os meus demônios.
• Fale de memórias profundas, não as mais remotas; as que espantam.
Eu quero crer que sou um espírito jovem, porque eu nunca tive trauma, nunca perdi o sono; tenho insônia por questão física, mas nunca perdi o sono nem por causa da tuberculose. Fui um homem muito religioso, sou descrente, não creio em nada mais hoje. Se bem que seja um tipo contemplativo, me sinto bem dentro de qualquer igreja. Menos essas novas, as pentecostais. Mas os meus fantasmas, são muitos, todos benfazejos. Gozado, tem coisas na minha vida que me marcaram eternamente. Marcaram, mas não me traumatizaram: meu pai na rede morrendo e eu ajoelhado, eu o vendo morrer, já contei no segundo volume de memórias; as mãos de minha mãe no hospital, ela morta, peguei nas mãos dela que trabalharam tanto por nós; ainda hoje não sei descrevê-las; e um olhar de uma mulher, não estou fazendo literatura, eu descrevo aquilo, o olhar de uma mulher, no sítio que papai alugou em 1934, na seca de 34, numa farinhada, uma seca danada, lá em Soure, hoje Caucaia. Ela chegou com os filhos e ficou sentada assim, olhando para mim, pálida, esquálida. Papai foi buscar comida, eu fiquei olhando para ela, e ela para mim. Esse olhar nunca mais me saiu da cabeça. A tal ponto de ficar vindo em pinceladas, vez ou outra, sinto, não sei por quê, que é uma boa companhia.
• Como vê a literatura de Jô Soares e Paulo Coelho?
Quando Jô Soares publicou o primeiro livro, O xangô de Baker Street, eu fiz uma pequena crítica, que foi publicada em vários jornais, ao livro dele, não a ele. Disse que ele não era ficcionista. Eu não admiti aquilo no livro, e eu acho que nenhum escritor tem o direito de fazer. Eu o conheço muito pouco. No livro dele está Sarah Bernard e está o Sherlock Holmes, que veio ao Brasil, e ele dá a entender que Sherlock Holmes é virgem, de uma maneira que eu não admito. Ninguém tem o direito de tirar de uma personagem a aura primeira que lhe deu o autor. Eu não posso pegar Capitu e transformá-la numa prostituta. Eu tenho que respeitar a aura que lhe deu o autor. Se o autor criou assim o Sherlock Holmes, ele tem que respeitar a criação do autor. Aquilo é do Conan Doyle. Você pode até usar a personagem, mas respeitando a aura primeira que o criador deu. Conan Doyle nunca disse que Sherlock era virgem. Piada de mau gosto. O Paulo Coelho, não vou dizer que é um embromador, nem conheço pessoalmente, mas faz uma literatura de circunstância, de ocasião. Houve uma época em que só se falava no demônio. Venderam-se muitos livros sobre o demônio. Acabou, passou. Agora, os de auto-ajuda, ele está aproveitando, tem talento, mas aquilo não é literatura, não é arte literária. Ele não morreu um pouco em cima do texto. Os livros passam e não fica nada. Posso até estar errado, mas não creio.
• Há alguma analogia entre o jogo de xadrez e o jogo da literatura?
Há e não há. Não estou fugindo da resposta nem dando uma resposta mineira. É que a literatura é muito perigosa. Essa é a semelhança com o xadrez. Você, na literatura, pode cair do cavalo; escrever um livro para nada. E o xadrez pode te matar como uma cascavel. Outra semelhança: o encanto criador. O encanto criador do xadrez é uma maravilha. Só que o xadrez é mais preciso nos seus botes. A literatura tem uma coisa que o xadrez não tem: você modificando aqui, acolá, você melhora, no xadrez você acerta ou erra. De cara. Ele não perdoa. Porque o xadrez é arte mas também é cálculo. Então, por estar muito ligado ao cálculo matemático, embora não seja matemática, tem precisão de bote mais rápido do que na literatura. A literatura é mais dócil e o xadrez mais ardiloso. Eu disse na apresentação do livro do Hélder: O xadrez é um jogo de tempo de espera. A literatura é uma arte mais abrangente em termos de belo. O xadrez é uma beleza à caça do inimigo.
• Mas na literatura também há cálculo.
Cálculo analítico. Mais intuição. A sensibilidade criadora corre por outros caminhos.
• Mas qual a grande semelhança?
A beleza.
• Você não acha que seria o prazer estético?
Até uma certa medida, sim. Na literatura é você e sua solidão. No xadrez é você, sua solidão e o inimigo presente.
• O inimigo na literatura não seria o leitor?
Sim, por isso mesmo a dor possui um tempo de espera mais longo. No xadrez o tempo de espera é curto.
• Você já teve algum livro que foi um fracasso de crítica?
Não. Mas já levei muito pau na moleira. No começo eu sofria, depois respondia. Há muitos anos não perco mais o sono por isto. Só quando o ataque é pessoal. Aí, por de trás desta minha aparente docilidade, ferve o meu sangue cangaceiro, que vem dos avós.
• Aonde você quer chegar com a sua literatura?
Não sei. Agora, também, eu não sou obcecado pela literatura. Isso é ruim. Eu tomo minha cerveja, gosto muito de MPB. Publiquei um trabalho agora sobre o compositor Jorge Faraj, gosto muito de música erudita, sou são-paulino roxo, sou Botafogo (sofro pra caralho!) Eu não sou obcecado pela literatura. Eu seco, às vezes passo seis meses, oito meses e não escrevo um conto sequer.