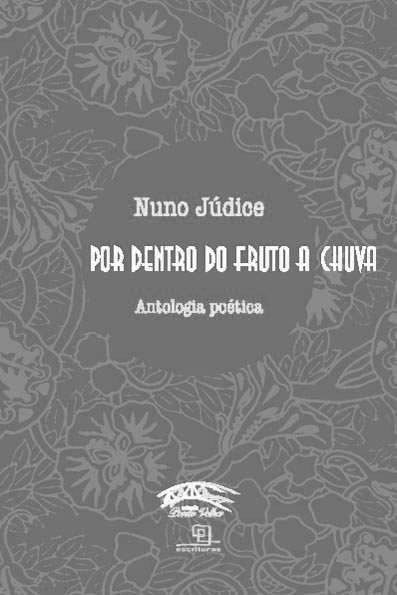Nuno Júdice (Portugal, 1949). Tem uma obra vasta que inclui poesia, ficção, teatro e ensaio. É também tradutor de Corneille e Emily Dickinson. Viveu na Suíça e na França, neste último país tendo sido Conselheiro Cultural e Diretor do Instituto Camões. Em poesia, os títulos mais recentes são Teoria Geral do Sentimento (1999), Cartografia de Emoções (2002) e O Estado dos Campos (2003), não esquecendo a publicação, em 2001, de sua Poesia Reunida (1997-2000). Nuno Júdice publica agora pela primeira vez no Brasil, uma antologia intitulada Por dentro do fruto a chuva (Escrituras Editora, São Paulo), volume com seleção, organização e prefácio realizados por Vera Lúcia de Oliveira. O poeta Floriano Martins conversou com Nuno Júdice a respeito de sua poética e demais aspectos ligados à poesia e à cultura em Portugal.
FM – No prefácio de uma antologia tua, a ser finalmente publicada no Brasil, refere-se Vera Lúcia de Oliveira a uma certa polifonia de vozes entranhada em tua poética, polifonia que acaba por definir-lhe singularidade. Podemos dizer o mesmo no que se refere a temas, ou acaso sente-se perseguido por algum tema em particular?
NJ – Há três temas que percorrem a minha poesia: o amor, a morte, a infância. Encontram-se em livros, de forma cíclica ou seqüencial; e correspondem a um conceito do poema como interrogação do ser e do mundo ou, se se quiser, do ser-no-mundo. Há uma relação estreita destes temas com aquilo que foi, e é, a minha realidade. Através desses livros, posso acompanhar um percurso biográfico que, no entanto, é apenas um dos materiais da minha poesia. Outro, é o meu diálogo com outros poetas, que também se desenvolve de forma recorrente. Rilke, através de uma referência elegíaca de que me tenho vindo a afastar; Eliot, no seu recurso a um fundo religioso da escrita poética, e ao modelo temporal da vida humana; Ruy Belo, Jorge de Sena, Herberto Hélder, no tratamento da palavra a partir de uma genealogia formal que vai buscar ao classicismo, por um lado, e à fragmentação do discurso, por outro lado, a sua estrutura natural. Sempre entendi, neste sentido, a poesia como um trabalho, análogo àquele que os mestres canteiros praticavam nas catedrais da Idade Média: a linguagem é, assim, a pedra onde procuro inscrever, com a precisão de um «escultor do instante», o meu olhar sobre o tempo.
FM – Há um limite para a criação, ou seja, há um momento em que vida e poesia deixam acaso de mesclar-se e podem seguir alheias entre si?
NJ – Durante algum tempo segui a disciplina pessoana que, segundo uma interpretação dogmática, estabelecia claramente o distinguo poesia-vida. O que sucede, no entanto, é que o poema tem essa faculdade de absorver a vida, tal como a esponja, secando o ser que o alimenta. Há, por isso, uma necessidade de evitar essa relação vampírica, em que o ser corre o risco de se transformar num morto-vivo. Julgo que o percurso normal será o de uma fusão dos dois universos – o pessoal e o do poema – ainda que, no poema, a imagem especular adquira a vida própria da Alice no outro lado do espelho.
FM – Como conciliar tua idéia de que «a vida é sempre o imprevisível e o invisível» com uma outra declaração em que afirmas que «não se descobre o que não existe». Duas situações fora de contexto ou uma contradição tua no que diz respeito a essa por vezes mal compreendida relação entre poesia e vida?
NJ – Referia-me, provavelmente, à vida que o poema reflecte, reelabora e transforma, fazendo do arquétipo (o real que está na sua origem) algo de inacessível ao olhar do leitor. Este terá, então, a vida que o próprio poema produz, e que tende a projectar-se em imagens do universo do próprio leitor. Pouco importa, então, quem foi a mulher real amada por Camões, ou quais as circunstâncias que envolveram a génese do «Guardador de rebanhos». O que é importante é que, nesses poemas do amor camoniano, vivem todos os sentimentos que o amor desperta; e que nos campos de Caeiro passam todos os rios em que o tempo do poema reproduz a sua perenidade.
FM – Consideras o poema em prosa uma espécie de gênero de exceção? Quais limites podem ser estabelecido entre ele e o verso tradicional, digamos, e de que maneira este duplo exercício fundamenta tua própria criação?
NJ – Julgo que é um gênero que importa tratar com a máxima moderação. Correspondeu a uma época de contestação das formas tradicionais – do final do Romantismo até ao surrealismo; mas acabou por desembocar em textos híbridos, em que apenas se torna visível a impotência do romancista, por um lado, e a incapacidade de dominar a linguagem poética, por outro lado. Prefiro, por isso, utilizar a memória da prosa em poemas em que o verso vai até aos limites do versículo; ou em que o poema se assume como pequena ficção, mantendo sempre o fecho perfeito que caracteriza o último verso. Assim, se utilizei, e hoje muito mais raramente, utilizo a prosa na escrita do poema, isso deve-se apenas à minha necessidade de conservar esse valor da linguagem poética, não abdicando de ultrapassar o limite do verso quando o poema o exige.
FM – Já disseste em uma entrevista a Maria Augusta Silva que Portugal se ressente da «falta de um pensamento, de uma reflexão sobre nós». De que maneira têm contribuído poetas e artistas para a manutenção ou erradicação dessa falta de reflexão?
NJ – Se não houvesse poesia, em Portugal, faltaria com efeito uma componente essencial do que nos funda: um pensamento daquilo a que se chama o «ser português». É verdade, por outro lado, que menosprezamos a nossa filosofia; e sem dúvida existem, nos séculos XIX e XX, algumas obras importantes neste domínio – de Antero a Pessoa, de Sampaio Bruno a Teixeira de Pascoaes, de José Marinho a Agostinho da Silva, de Vergílio Ferreira a Eduardo Lourenço. Mas muitos destes autores são, também, ou sobretudo, criadores literários; e é na sua obra que se encontra, mais até do que nos escritos propriamente filosóficos ou reflexivos, essa teorização de um pensamento. Isso faz-nos esquecer, muitas vezes, que existe esse pensamento; e que é graças a isso que não corremos o risco de perder nem a nossa identidade nem a nossa diferença no contexto da globalização.
FM – Acaso esta ausência de reflexão interna resultaria na falta de percepção no tocante a uma maior aproximação com o Brasil? Claro que me dirás que esta não percepção é mútua, e não haveria muito no que discordar disto. Como explicá-la então nos dois âmbitos? E graças a tua experiência numa esfera institucional, de que maneira o assunto tem sido tratado?
NJ – Contrariamente à idéia de que somos um povo aberto ao mundo, julgo pelo contrário que vivemos demasiado fechados sobre nós e sobre a nossa estreita realidade. Mesmo quando saímos, levamos conosco o bacalhau, o fado e a dose de saudade quanto baste para não sermos tocados, a não ser superficialmente, pelas realidades que descobrimos. O lado positivo encontra-se no Brasil, e na mestiçagem de gênio e de cultura que desembocou nesse imenso país. Mas foi um caso isolado, que não se reproduziu nem na África nem na Ásia.
FM – Na mesma entrevista citada dizes que, no tocante à repercussão européia de literatura brasileira, «os grandes nomes desapareceram; novos estão a surgir, mas ainda não ganharam projecção». Vinculas esta repercussão apenas a uma questão de oportunidade editorial, ou consideras também uma perda de qualidade estética?
NJ – Procuro seguir, na medida do possível, o que se passa na poesia brasileira contemporânea, e também na ficção. Admito, porém, que o abismo que nos separa, decorrente da difícil divulgação do livro brasileiro em Portugal (o contrário parece ser também verdade), tal como das revistas literárias, nos dê uma imagem fragmentada, elíptica, distorcida, dessa realidade. O que referia, porém, era a falta de nomes de referência – como o foram, no passado, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano, Amado, ou na poesia Cecília Meireles, Drummond, João Cabral, Murilo, Haroldo de Campos, entre outros. Esses nomes ajudam a uma melhor transmissão dos mais novos, que vêm na sua sequência; e a sua falta faz com que um Paulo Coelho se tenha tornado o cometa imparável de uma nova literatura, infelizmente centrada no conceito do best-seller e dos temas em voga.
FM – Em outra entrevista, desta feita concedida a Ana Marques Gastão, dizes que te parece que em Portugal «a poesia funciona como um substituto da filosofia», no sentido de que postula uma «outra forma de aproximação do conhecimento». Mas esta não pode ser vista como uma característica em isolado da poesia portuguesa, uma vez que se confunde com a grande busca da poesia em toda a modernidade. Caberia aqui um aclaramento, pois.
NJ – Julgo ter já respondido, em parte, a esta questão. A poesia vem responder a um vazio que decorre da ausência de uma filosofia assumida como tal, isto é, com o aspecto de uma visão pessoal do mundo e da vida que procura, de uma forma reflexiva e individual, dar corpo a um modelo universal do comportamento humano, e dar expressão, sob uma forma problemática e equacionante, à resposta à interrogação sobre o que somos, e qual o nosso destino. O que vemos, hoje, é que essa reflexão é produzida sobretudo num quadro acadêmico. É uma linguagem de iniciados, longe do ensaio que implica uma aventura e um desafio, do ponto de vista do pensamento, e que obedece às regras de como escrever uma tese, desembocando em textos em que o rigor científico se alia a uma ausência sistemática de aposta subjectiva. Exceptuo, como referi, Eduardo Lourenço, e mais recentemente Fernando Gil, cujos estudos a partir de Bernardim Ribeiro e de Fernando Pessoa (os primeiros em colaboração com Helder Macedo) são do mais interessante que se tem produzido nesse domínio.