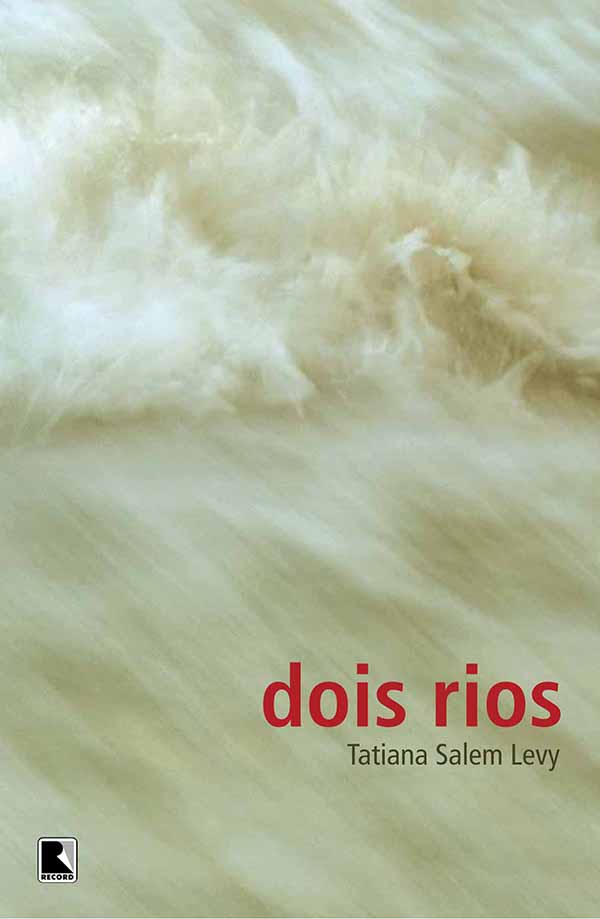Pelo menos desde que, em 1851, Moby Dick foi publicado, o gênero romance é uma “visita ao mundo das águas” quando se está, como o narrador Ishmael, sem dinheiro e entediado de terra firme. O personagem se lança ao mar, em longa viagem de perseguição à baleia branca; a sintaxe, de largo fôlego, desliza pelos devaneios do narrador, mesclando memória pessoal, enciclopédias, medos, análises, enfim, estilos que, no fluxo da leitura, combatem a viscosidade da melancolia anunciada. O leitor, por fim, habita um espaço de imaginação elaborado, no qual, como no mundo das águas, é difícil pegar qualquer forma que se deixe tocar.
Esse mundo visita Dois rios, o segundo romance de Tatiana Salem Levy, publicado recentemente. A autora há cinco anos estreou com A chave de casa, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria autor estreante. A cena premiada pela qual se inscreve na literatura contemporânea pode dizer um pouco acerca da grande habilidade que demonstra na construção de Dois rios, articulando uma narração em fluxo de consciência muito sensível aos afetos dos personagens, uma sintaxe concisa de tom equilibrado, um lastro da história política brasileira fortemente associado à história dos personagens, tudo costurado pelo largo mundo das águas — conceito que organiza as camadas do livro.
Resposta ao luto
Dois Rios, a princípio, é o nome do vilarejo de Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, em que, durante a ditadura militar, funcionava o presídio que abrigava presos políticos e presos comuns. As duas alas em que se dividiam as celas contam a curiosa história do surgimento de um fantasma urbano que colocou — e ainda coloca — do mesmo lado os então jovens revolucionários da esquerda, presos, e os autodenominados revolucionários da direita, os militares da época. Todos iguais na repulsa à organização revoltada e sem ideais humanistas formada por criminosos comuns que se constituiu naquele presídio — o Comando Vermelho — e posteriormente se disseminou pelas áreas empobrecidas do Rio e de São Paulo e se dividiu em outras facções sustentadas pelo tráfico de entorpecentes.
No livro de Tatiana Salem, no entanto, são dois rios os dois narradores, os irmãos gêmeos Joana e Antônio, que, um na primeira metade do livro, outro na segunda, conduzem o leitor à cena da infância que os unia, a fim de compreender o ressentimento que, depois da morte do pai, se instala na relação entre eles. O que detona essa revisão de suas memórias, aos 33 anos de idade, é o encontro que cada um tem (sem que o outro saiba) com um mesmo personagem, a francesa Marie-Ange, pela qual ambos se apaixonam. Como dois rios prestes a desaguar no mar afetivo que vem de outra língua, os narradores constroem uma espécie de luto do percurso, um enfrentamento da culpa: Joana afirmando decididamente a perdição no mar; Antônio desejando voltar à nascente, antes do desvio que os separou.
A cena da infância que os irmãos recordam ocorre, agora sim, em Dois Rios, vilarejo em que passavam todo ano as férias na casa do avô militar, que trabalhava no presídio. É como se eles tivessem se transformado no nome desse lugar, Dois Rios, em torno do qual seus pais se conheceram e no qual se inscreveram a plenitude da infância e o trauma devido à morte do pai. Na ilha, durante as férias: o prazer. Há nesta combinação três imagens de exceção que, no entanto, representavam toda a extensão da vida para Joana e Antônio. Por exemplo, depois de um dia inteiro brincando livres na praia e nas ruas do lugar, o banho da menina exausta e realizada é recordado pela mulher que retorna, adulta, à casa dos avós:
Deixava a água deslizar, cobrindo os olhos com o cabelo molhado, a boca em bico para não engolir o líquido, os braços rentes ao quadril. Passava longos minutos ouvindo o eco dos gritos dos meus amigos, sentindo o pé afundar na areia, as ondas do mar me dando cambalhotas, a mão do meu irmão enquanto corríamos. Tudo ainda muito presente, mas também distante, como se fizesse parte de outro mundo, como se a menina que tinha passado o dia na praia não fosse a mesma que estava sob o chuveiro. Sob o chuveiro, eu buscava um sentido para os acontecimentos, e me dava conta de que poucas coisas se dão a entender. Aqui neste banheiro, quando eu parava e percebia que tinha um corpo, descobria a largura da vida, e ela me assustava.
No banho, a menina elaborava o dia “sentindo” o que se passara, dividida entre o mergulho impensado nos acontecimentos e a superfície intacta do dia que se perdia no tempo e se ganhava na memória, como cinema, como Narciso a se olhar. Essa adesão ao corpo, que produz os trechos mais bonitos do livro, ressurgiria apenas ao Joana conhecer Marie-Ange e construir uma relação homoerótica repleta de delicadeza e silêncio. Trata-se de uma narradora que recupera o corpo sensível da infância como um modo de se descolar do corpo ausente do pai morto, ao qual se atrela a loucura da mãe, de quem a filha cuida. Trata-se, enfim, de confrontar o sujeito com a família (tema caro ao gênero romance) através da narração, ou seja, da transformação da história do indivíduo, da ativação da força de enxurrada do tempo.
Marie-Ange representou, para Joana, “a liberdade de saber que não existe apenas o inferno, e que as histórias podem ser recontadas”. A filha que vivia paralisada em casa, a serviço da mãe, e no trabalho, dando aulas particulares, de repente se desloca pelo mundo, viaja, experimentando o desconhecido: o lugar tradicional do pai e do irmão que saem de casa para sobreviver. Ela veste outro corpo, construído pelas palavras com que reconta sua vida e pela relação com Marie-Ange, a quem apresenta Ilha Grande. O passeio pelo mapa, da francesa ao Rio, da carioca a Ilha Grande, se desdobra no passeio pelos corpos enamorados, em plena praia de Dois Rios: “sem pressa, ela se põe nua. Sobre seus seios, escorrem filetes de água salgada e suor. Em seguida, ela se agacha, e eu esqueço o medo e a angústia”. Na praia do vilarejo, o rio deságua no mar.
Ausência
Antônio viaja o mundo como fotógrafo, conhece Marie-Ange no metrô de Paris, apaixona-se, acompanha-a até a ilha de Córsega, onde ela vive com a família, e é então abandonado pela francesa. Sua narrativa é de espera, é uma narrativa de Penélope que tagarela dias afora fazendo e desfazendo o painel de sua vida familiar. Os irmãos trocam de lugar ao narrar, ela passa a viajar, ele a esperar. Enquanto ela se descola da família, ele não encontra o nó que poderia desatá-lo, escolhe, em lugar do corpo, a indagação, que não cessa:
Quando uma história termina, ainda por cima de forma tão abrupta e inesperada, só há uma coisa a fazer: procurar uma explicação para o que aconteceu. Mas quando tudo acaba o tempo já não existe, o buraco é um só, e a pergunta é sempre a mesma: existe alguma coisa depois do fim?
Acabaram de repente a história de amor e a da infância. Antônio, como fotógrafo, viajava o mundo mas não saía de um mesmo lugar: o de ter se tornado, como o pai, ausente de casa, aquele que sempre faltava no apartamento de Copacabana. Sua narração remói a memória, pouco encontra do corpo que experimentou Marie-Ange, o mar da infância, a família. Como fotógrafo, utiliza uma máquina para se relacionar com o mundo através do olhar (e não, como Joana, do tato). Ou através da reflexão. Ao lembrar dos longos banhos de Joana em Ilha Grande e da recorrente espera pela sua vez no banheiro depois de um dia agitado, Antônio observa: “Nunca entendi o que ela fazia para demorar tanto”. Ao se reconhecer, adulto, no mesmo lugar em que a reconhecia, o da demora, é preciso agir.
Marca cosmopolita
Que se tenha desenhado até aqui um breve retrato dos narradores apenas confirma a força principal do livro de Tatiana Salem: a identificação com personagens que dominam o leitor, como se fossem compostos por um sistema todo equilibrado de signos — as memórias, as sensações, as viagens, a família, o mar, o presídio, etc. — que oferece ao mesmo tempo uma impressão realista e artificial do livro. São vidas engenhosas que se lêem, comunicando a memória — que guardam nos corpos inventados — e o ato — que instituem ao narrar, ou seja, ao fazerem, eles mesmos, literatura.
Essa ambigüidade produzida pelos “personagens-autores” é duplicada por dois detalhes: o crédito da fotografia da autora Tatiana Salem, na orelha do livro, é atribuído a Marie-Ange Luciani; a dedicatória do livro anota: “Para o meu pai”. São dois indícios do modo pelo qual a escritora cruza ficção e experiência a fim de construir personagens tão consistentes. O desenvolvimento de uma trama que se cruza com um espaço decisivo na história política do Brasil — o presídio de Dois Rios — torna os personagens ainda mais verossímeis — principalmente para quem conhece diversas histórias familiares da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, onde mora Joana, histórias que muitas vezes precisam lidar com sonhos desfeitos, como o próprio bairro de Copacabana.
Da garota de Ipanema que enche de graça o “mundo inteirinho” às “novinhas” do atual funk carioca, transforma-se alguma coisa decisiva na cidade, alguma coisa que pulsa, em breves momentos, no livro de Tatiana Salem, como uma alteridade com a qual o homoerotismo de Joana e o exílio profissional de Antônio lidam o tempo todo, ainda que de maneira indireta. Por exemplo, a caminho de Ilha Grande, passando provavelmente pelo trecho repleto de favelas do Complexo da Maré, a narradora observa: “Do outro lado da janela, a paisagem suja e caótica da Avenida Brasil se desenrola, quase sem fim”. Nesta nota melancólica, leio certa asfixia de Joana e Antônio, tão cosmopolitas, que vêem mares sempre limpos, mas sobretudo vêem mares em vez de cidades.