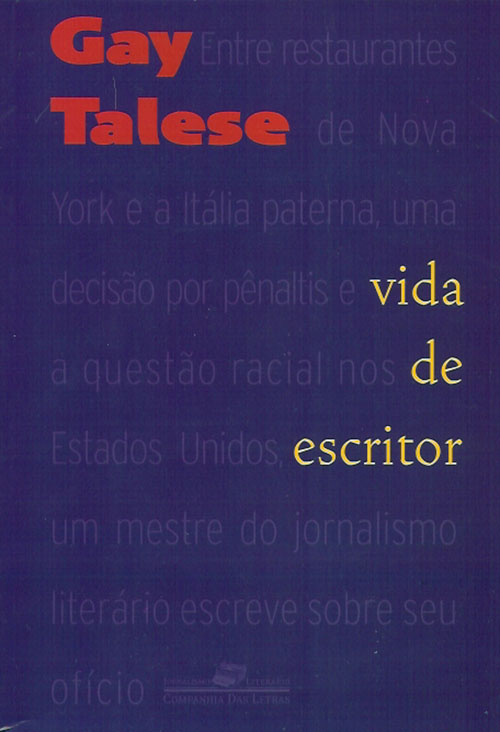Sábado à tarde, 10 de julho de 1999. O jornalista Gay Talese, um dos mais renomados escritores de não-ficção dos Estados Unidos, zapeia os canais da TV no intervalo do jogo de beisebol, quando chama sua atenção a transmissão da final da Copa do Mundo feminina de futebol. China contra Estados Unidos. Na decisão por pênaltis, o time da casa vence as chinesas, que entregam o título após uma cobrança defendida pela goleira norte-americana.
Vida de escritor inicia — e termina — com uma confissão de total indiferença pela paixão do brasileiro (“Não sou, nem nunca fui, um apreciador de futebol.”), mas uma afinada sensibilidade de repórter que leva o autor a descobrir, mesmo naquilo que menos o atrai, boas histórias para contar. Enquanto a imprensa destacava os vitoriosos daquela tarde, Talese capturou na mirrada, frágil e humilhada figura da jogadora chinesa que errou o pênalti, num contexto político de rivalidade entre os países que transpunha os limites do estádio, a personagem de uma trama mais interessante que o próprio jogo.
Em sua mais recente obra, composta de fragmentos de narrativas, livros inacabados e projetos abandonados, misturados com reflexões sobre o ofício do escritor e relatos pessoais, Talese compõe uma autobiografia fora do comum. Mas a sensação de sinfonia inacabada, em que falta a estrutura presente em obras já clássicas do autor, como A mulher do próximo, O reino e o poder e os textos reunidos em Fama & anonimato (os três publicados no Brasil), e ainda que se compense pela prosa elegante e ritmada de Talese, é apenas aparente. O tema do livro é o fracasso de histórias anônimas, marginais, que se revelam tanto mais dignas no momento da queda.
O gol perdido que leva o escritor a uma viagem ao outro lado do planeta para tentar entrevistar a atleta, o boxeador que vai à lona, as desventuras dos habitantes do prédio “azarado” de cinco andares no número 206 da rua 63 Leste, em Nova York, e seus restaurantes falidos, e a tragédia “peniana” do casal John e Lorena Bobbit são, mais do que reportagens ou materiais reunidos para projetos e livros nunca terminados e pautas recusadas pelos editores, vidas das quais Talese se torna cúmplice. E que refletem nele próprio, filho de imigrantes italianos, o olhar de uma América menos arrogante, sobretudo na arte do escritor que se revela pouco inspiradora e cansativa enquanto processo, pontuada de becos sem saída em seus resultados.
Tempo perdido
Notas manuscritas em cadernetas e depois datilografadas em uma Olivetti elétrica, a mais notável tecnologia que Talese admite, fora seu computador desatualizado dos anos de 1980, acumulam o resultado de anos de investigação, que levam o jornalista a viajar quilômetros dentro e fora dos Estados Unidos, ter despesas com incontáveis jantares para convencer os entrevistados a falarem e que, mesmo assim, nem sempre trazem como recompensa um projeto finalizado. É como uma decantação lenta, quase um martírio, que pode se perpetuar por mais de uma década de procrastinação, para desespero dos editores que esperam pelo livro pronto.
Metade desse tempo é gasto com pesquisas — Talese prefere entrevistas pessoais para descrever ambiente e reação dos personagens, uma das técnicas do jornalismo literário —, sendo 80% do conteúdo destinado ao lixo de seu escritório. A outra metade do tempo é consumida na tarefa de edição e reescrita de palavras, frases e parágrafos, na esperança de que assumam a forma de algo nada menos do que publicável, mas nem sempre: “(…) é importante reconhecer que durante os quarenta anos de minha carreira como escritor-pesquisador eu investi pesadamente em tempo perdido”. Nem de longe estamos diante do jornalista infalível, que desbarata conspirações, escapa de tiroteios e, no final, vai para casa com a certeza do dever cumprido, essa figura romanceada que prolifera em filmes de Hollywood, de O correspondente estrangeiro (1940), de Hitchcock, até o recente State of play.
Talese começou cobrindo o time de perdedores no colegial e, em seguida, foi editor do jornal da faculdade do Alabama (que só conseguiu entrar por indicação de um amigo do pai, depois de ser recusado em dezenas de outras universidades). Desde o começo, já procurava o diferencial da reportagem, tanto nas pautas “menores” quanto no texto nada canônico para os padrões do jornalismo norte-americano, que o tornaria mundialmente famoso como escritor e, a contragosto, um dos expoentes do new journalism, que renovou a profissão nos anos de 1960.
Conhecedor de literatura, usava artifícios estilísticos para “florear” as derrotas sucessivas do time de futebol americano da escola. E foi como repórter esportivo que começou no The New York Times, um dos mais influentes jornais do mundo, onde trabalhou por nove anos, de 1956 e 1965, e que depois desnudou nas intrigas de redação em O reino e o poder. Foi nessa mesma redação que fez o laboratório de texto que o tornaria um mestre no gênero.
Jornalismo literário
No sisudo jornal, valorizava-se o tom objetivo e a camisa-de-força do lide como principal ferramenta do repórter para transpor para o papel a realidade de forma imparcial, de modo a atender ao prazo fatídico do deadline, sob a supervisão e cortes textuais dos redatores e copidesques. Com a chegada da TV, o hardnews, ou a notícia de última hora, deixou de ser produto exclusivo dos jornais impressos (e o que dirá hoje, com a internet). Talese, então, apostou em histórias contadas com estilo, empregando técnicas da literatura, como ambientação, diálogos e perfis detalhados, para construir narrativas não-ficcionais, que fariam também a fama de seus contemporâneos Truman Capote, Tom Wolfe e Normam Mailer, entre outros.
Reportagens bem apuradas, entrevistando tantas pessoas quanto fosse possível, e muito bem escritas, com o texto revisado penosamente até os limites da perfeição, constituíram o segredo do jornalismo literário ou, como preferia Capote, da literatura não-ficcional. Como diz Talese, “(…) acreditava que a redação de notícias podia ser ao mesmo tempo literária e fiel do ponto de vista factual”.
Logo, descobriu que o jornal não era o lugar mais adequado para esse tipo de experiência, pois os prazos frustravam o apego aos detalhes e a busca da perfeição, traços adquiridos com o pai, alfaiate italiano, além de deixarem a sensação da pesquisa incompleta, sem as longas entrevistas conduzidas pelo ouvinte paciente, outra herança familiar, esta da mãe, vendedora de vestidos para senhoras de classe média alta do Estado de Nova Jersey.
Foi nas revistas, com fechamentos menos apertados e maior liberdade literária, que buscou refúgio, como a Esquire, terreno de Wolf e Mailer, onde em abril de 1966 publicou pela primeira vez o famoso perfil Frank Sinatra está resfriado, em que entrevistava dezenas de pessoas que viviam às voltas do ídolo, menos o próprio cantor, e, em julho, matéria sobre o astro do beisebol e marido de Marilyn Monroe, Joe DiMaggio.
Mas as revistas — que incluíram a The New Yorker, Harpers’s Magazine e Newsweek — também ficaram pequenas para o extenso material recolhido por Talese. Ele resolveu então se dedicar aos livros, que se revelaram outro purgatório de bloqueios criativos e prazos estourados. “Muitas vezes, escrever é como dirigir um caminhão de noite, sem faróis, errando o caminho e passando uma década numa vala.” (p. 93), afirma o jornalista, que encontrou o caminho do sucesso em três livros publicados em três anos — O reino e o poder (1969), Fama & anonimato (1970) e Honor thy father (1971). Nos vinte anos seguintes, publicou apenas dois, Thy neighbor’s wife (1981) e Unto the sons (1992), seguidos de mais de uma década pontuada de pautas que, ora eram recusadas peremptoriamente pelos editores de revistas e livros, ora teimavam em não acertar o foco.

Domingo sangrento
Em Vida de escritor, de certa forma, Talese acerta as contas e com os últimos 14 anos de estiagem que o separam da obra anterior, publicando, finalmente, parte do material reunido em entrevistas, como os relatos de cozinheiros, garçons, gerentes e donos de restaurantes, dos quais é freqüentador contumaz desde a infância, com os pais. Há relatos como o de um restaurante que era alvo, rotineiramente, de “desvios” de produtos por seus funcionários, com hilários acidentes provocados por ovos escondidos nos bolsos ou pacotes de manteiga debaixo do chapéu.
O escritor também recorda a cobertura que fez em seu derradeiro ano no Times das manifestações históricas pelos direitos civis dos negros em 1965, lideradas por Martin Luther King, na cidadezinha sulista de Selma, no Alabama, cujos protestos reprimidos com violência pela polícia e transmitidos pela TV, no dia que ficou conhecido como “domingo sangrento”, tornaram-se um marco da luta contra o racismo. Vinte e cinco anos depois, nas comemorações de aniversário da marcha em Selma, ele voltou à cidade para fazer uma matéria especial para o Times, e encontrou um lugar ainda segregado culturalmente, com o movimento negro já extremamente politizado. Foi quando, por acaso, numa conversa com o prefeito, descobriu que o primeiro casamento inter-racial da cidade (o que era proibido constitucionalmente no Estado do Alabama), entre um funcionário público negro e uma branca divorciada, ocorreria quase oculto em meio às celebrações. Era a história que procurava.
Parte desse material colhido em anos dedicados a entrevistas, duradouras o suficiente para diminuírem o distanciamento entre o repórter e a fonte, e acompanhamento dos desdobramentos dos fatos, é recuperado na obra. Dos julgamentos do casal Bobbit, com as dificuldades para falar com Lorena, a manicure venezuelana que, numa madrugada, decepou o pênis do marido, um ex-mariner desajustado, relutância da personagem que lhe custou uma matéria encomendada e enfim recusada pela New Yorker; até a desvairada e infrutífera aventura que o levou à China, atrás da jogadora que perdeu a Copa.
Todos esses diários de repórter, entrelaçados com memórias pessoais, como a visita à Itália e o casamento com a mulher — e a extrema delicadeza com que se exime de falar da sogra que, muito religiosa, só soube do matrimônio, no civil, por uma nota no jornal —, se enredam num labirinto de fatos e rostos quase anônimos que adquirem contornos mais familiares, como se fossem vizinhos que ignoramos em sua indiscreta proximidade. O fio de Ariadne é denunciado pelo escritor na passagem sobre sua frustrada e insistente tentativa de escrever sobre um prédio em Nova York:
(…) o assunto está menos ligado ao edifício e seus ocupantes do que a mim e a minha afinidade natural, embora às vezes desorientada, com pessoas e lugares que existem nas sombras e nas ruas secundárias da cidade e outros espaços desprezados, nos quais há histórias ainda não contadas e que estão à espera de serem descobertas e narradas por mim.
Mais do que uma autobiografia ou bastidores sobre o ofício da escrita e da reportagem, Vida de escritor é uma confissão de humanidade. Talese, do mesmo modo que os atletas de suas matérias e personagens de livros, foi derrubado na lona, ficou no banco de reservas e perdeu pênaltis. Nada disso o impediu de ser um dos mais bem sucedidos jornalistas de sua geração.