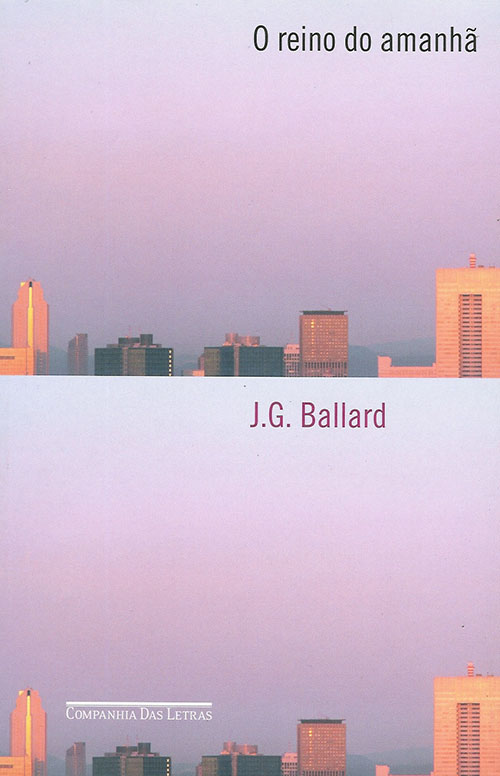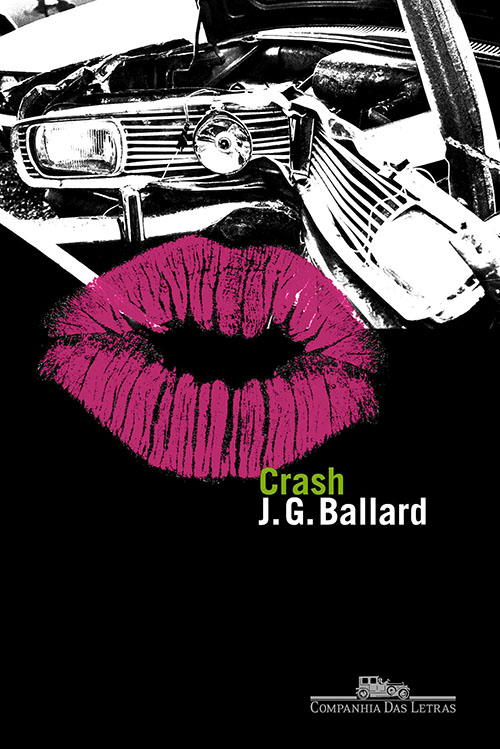Em novembro de 1999, o estudante de medicina Mateus Meira saiu de casa para assistir ao filme Clube da luta, que acabara de estrear nos cinemas de São Paulo. Logo após o início da sessão, Meira, então com 24 anos, sacou a metralhadora que havia trazido e efetuou uma série de disparos. O resultado foi avassalador. Três mortos e alguns feridos. Ato contínuo, não faltaram especialistas para opinar a respeito, assim como sobraram motivações para o crime. O filme. O fato de usar drogas. Um diagnóstico de dupla personalidade. E houve quem traçasse, ainda, um paralelo com casos semelhantes que aconteciam nos Estados Unidos — sendo o mais conhecido deles o assassinato numa escola de Columbine, que também aconteceu naquele ano. Infelizmente, esses foram apenas alguns dos casos que ocuparam o noticiário local e estrangeiro a propósito de crimes desse tipo. O tratamento, todavia, é sempre genérico, não investigando as particularidades de cada caso. Em um romance lançado originalmente em 2006, o escritor britânico James Graham Ballard utiliza esse assunto como pano de fundo e ensaia uma nova interpretação a respeito. É o que se lê em O reino do amanhã, ora publicado em português pela Companhia das Letras.
Morto recentemente, J. G. Ballard foi um autor que dedicou parte significativa de sua produção literária para buscar significados mais profundos do que as opiniões de ocasião a propósito dessas neuroses coletivas. Em livros como Crash, que foi levado às telas pelo cineasta David Cronenberg, e mesmo neste O reino do amanhã, o romancista extravasa em forma de romance uma elaborada análise do comportamento humano em uma sociedade que se pretende moderna, correta, objetiva e absolutamente centrada. Dessa maneira, embora entre os críticos literários há quem diga que o escritor pertença às fileiras da ficção científica, talvez seja mais acertado afirmar que Ballard bebe na fonte dos escritores ora desiludidos, ora pessimistas, que não crêem num futuro redentor. Em vez da utopia, a distopia — isto é, a convicção de que o futuro guarda uma versão piorada do tempo presente.
Pessimista
Antes, é necessário entender o que faz dessa obra um romance pessimista. À história, então. Richard Pearson é um publicitário desempregado que, vicissitudes da vida, vai até a cidade de Brooklands, perto do aeroporto de Heathrow, em Londres, com a incômoda missão de enterrar o pai, o ex-piloto Stuart Pearson. Se a situação já não fosse por si só difícil, havia, ainda, o triste fato de Pearson ter sido assassinado num shopping center local, o Metro-Centre, espécie de gerador das atenções, paixões, ódios e afetos da população local. No começo do livro, portanto, o leitor tem a impressão de que a narrativa se desenvolverá em torno de um plot de investigação. Afinal, quem matou o ex-piloto? Um desequilibrado local? Um atirador fortuito? Ambas as opções? Rapidamente, surge um nome e a investigação parece encaminhar para um desfecho mais ou menos plausível.
E, com efeito, tudo estaria bem — ou melhor, a história não se desenrolaria — se este fosse mesmo o nó a ser desfeito no livro. Todavia, o ponto que deve ser observado com muita atenção é a perspectiva algo sombria que envolve o cenário do crime — o já citado shopping center. Dentro daquele centro de compras, as aparências apresentam um ambiente propício para o regozijo da sociedade de consumo. Ao mesmo tempo em que a existência desse estabelecimento causa admiração por parte do público, a ponto de as vendas e a freqüência não terem sido afetadas com o crime, determinados setores sentem-se verdadeiramente afetados pelo shopping. Com isso, aqui e acolá, o protagonista começa a ouvir reclamações, ainda que não totalmente declaradas a propósito daquele espaço, seja como força motriz de um consumo desenfreado, seja porque nele as pessoas ficam andando a esmo, sem rumo, como se estivessem perdidas.
Em poucas páginas, portanto, o objeto de admiração — com perplexidade e cinismo — de Richard Pearson torna-se o shopping e, não há dúvida, os princípios que o estabelecimento, de certa maneira, representa. A anestesia em relação às questões fora da vida de consumo; a reificação da vida, como se fosse um objeto sem importância passível de ser substituído a qualquer momento; o triunfo da aparência e das imagens da publicidade em relação à vida das pessoas, freqüentando todos os espaços — de lazer, de cultura, de bem-estar; e o comportamento do grupo — melhor seria dizer manada — em relação ao indivíduo. Nessa nova escalada do fascismo, há um triunfo basilar do caráter coletivo das escolhas, dos desejos e dos afetos. Em poucas palavras, essa sociedade é capaz de se comover com a morte de réplicas de urso em tamanho natural e não se espantar com o assassinato de um ser humano.
Realismo esgarçado
Nesse sentido, é possível afirmar que a ficção de Ballard propõe uma espécie de realismo esgarçado, e isso porque o autor em diferentes momentos do livro mostra-se atento aos problemas contemporâneos — de identidade, do retorno ao orgulho nacional em determinadas camadas sociais, da urgência da sociedade do consumo (e do espetáculo). E é aqui que o romancista se transforma em um analista essencial para a contemporaneidade, haja vista que nem a teoria crítica, tampouco a religião e muito menos a política conseguem pensar em respostas àquelas questões. Dessa maneira, o que resta é a resignação diante do fato de que a experiência de consumo atingiu um novo patamar, como uma nova religião. Nas palavras do narrador:
Mal se tornara um adulto e já era um fanático de meia idade em formação. Imaginei que ele não tinha vida alguma fora do Metro-Centre. Todas as suas necessidades emocionais e seu senso de identidade eram satisfeitos por aquele imenso espaço de compras. Era inocente e entusiástico, cumprindo um noviciado que nunca teria fim. E eu ajudara a criá-lo.
Richard Pearson se refere, no trecho acima, ao fato de, como publicitário, ter ajudado a forjar essa idéia de que o consumo tornava as pessoas mais felizes do que elas poderiam ser. Não raro, ao longo do romance ele enfatiza esse espécie de mea-culpa, que, num sinal trocado, pode ser entendido como uma crítica aos publicitários que, durante muitos anos, foram senhores do universo ao envolver objetos com uma aura mítica, deixando-os mais atraentes em escala universal. Quem assistiu ao documentário The corporation ou leu o livro No logo, de Naomi Klein, sabe por que determinadas marcas representam a formação de corações e mentes no imaginário das massas. J. G. Ballard não ataca as marcas nominalmente, mas apresenta uma crítica sofisticada a esse fenômeno de consumo que se auto-estimula e alimenta o deus-mercado, outro ser quase onipresente na agenda política, econômica, social e cultural dos países.
Vistos separadamente, os casos citados no primeiro parágrafo deste texto representam exceções que comprovam a regra de uma aparente tranqüilidade em um mundo desigual, mas que caminha rumo ao progresso. Uma leitura mais crítica, no entanto, possibilita certo desencanto com o sentido desse avanço. Mais preocupante do que isso é observar que uma obra de ficção composta sob o olhar do pessimismo consegue revelar o espírito do tempo, indicando que os instintos mais primitivos estão prestes a aflorar. Diante disso, é torcer para que esse Reino do amanhã não passe a vigorar amanhã.