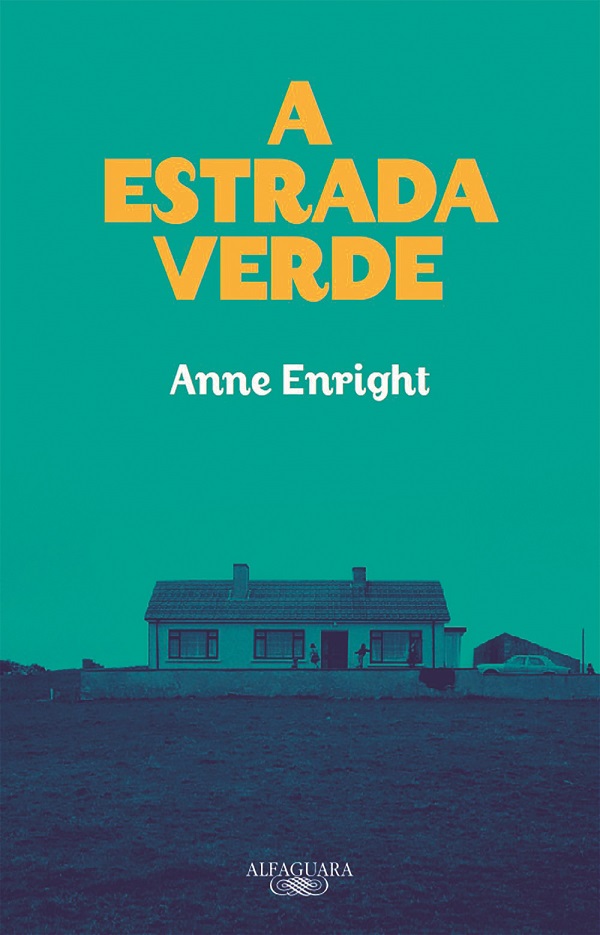No final do romance, Rosaleen Madigan se desculpa por não ter prestado a devida atenção às coisas. Porque é muito difícil, quando se constrói uma família, não oscilar entre a melancolia e a ansiedade, o tempo presente não é percebido.
Em A estrada verde, a irlandesa Anne Enright, ganhadora do Man Booker Prize de 2007, conta a história de um reencontro familiar para as festas de fim de ano. Os quatro filhos de Rosaleen, cada qual vivendo a sua vida, retornam para a velha casa da família, onde nasceram e hoje vive sozinha Rosaleen, a mãe viúva, que alimenta uma sensação de não pertencimento, apesar de aquela ter sido a casa onde ela mesma nascera, onde morreu seu pai, seu marido, onde assistiu a todos os seus filhos partirem.
A mesma cabeceira de mogno, decorada com um medalhão rosa e cerejeira, o mesmo estrado de ferro escuro com uma ase de terras firmes, e nele toda a pompa de sua vida familiar: beijos, febres, bolsas rompidas, a umidade de suas vidas, a seiva.
Rosaleen tem quatro filhos: Dan, que passou um tempo em Nova York nos anos noventa e agora vive em Toronto, com seu companheiro Ludo; Emmet, que dedica a vida a causas humanitárias pelo mundo; Hanna, a filha artista em crise com sua recente maternidade; e Constance, que é mãe.
Primeiro conhecemos Hanna, em 1980, aos 12 anos indo à farmácia para sua mãe, que há duas semanas estava acamada porque Dan, seu filho preferido, anunciou, no feriado de Páscoa, que queria virar padre. Ou foi assim que a família interpretou sua fala.
Dan disse, “Ando conversando com o padre Fawl de novo”. […] Ele falou que preciso pedir perdão a vocês, pela vida que esperavam que eu tivesse e os netos que não vão ter.
Com a notícia veio a reação exagerada de Rosaleen, que não só demonstrava seu amor pelo filho, como também uma certa displicência com os outros. Não era a primeira vez que a “mãe adotava a solução horizontal”. E o que a narrativa diz pela sua estrutura é que Hanna foi quem mais sentiu essa falta. Nesse primeiro capítulo, apesar de se chamar Hanna, é Dan que aparece como o protagonista dos grandes dramas. O que vamos saber de Hanna mais tarde é que ela é uma artista, com problemas com álcool, que agora precisa conviver com uma maternidade que não parece lhe pertencer, apesar de ter saído de dentro dela mesma.
Dan não virou padre, mas talvez não tenha levado a vida que a família irlandesa católica esperava para ele. Nos anos noventa, estava em Nova York, descobrindo sua sexualidade e a morte entre artistas e poetas durante a epidemia de aids. Há duas coisas curiosas nesse capítulo. A primeira é a sensibilidade de Enright ao tocar no assunto. Há muita verdade nas descrições do medo da morte, da culpa do amor, na entrega de Dan ao sexo e ao amor por outro homem. Outra curiosidade é que vez por outra o narrador passa a usar a primeira pessoa do plural, sem que, no entanto, fique claro quem é que convivendo ali nos conta essa história. O tom desse capítulo também é outro, saímos dos campos irlandeses para a Nova York de Basquiat e Keith Haring, não sem um certo estranhamento que tomamos emprestado desse irlandês “ruivo e de pele bonita”, que recitava os poemas que talvez tenha lido com sua mãe.
Depois disso, anos transcorreram sem que ninguém visse Dan. Não o culpávamos. Pelo menos tentávamos não censurá-lo. Essas coisas são muito difíceis.
Em 1997, Constance está no hospital para uma consulta. Está sozinha, nem o marido sabe que ela está ali, esperando o diagnóstico.
As pontas dos seus dedos examinavam cada pequeno nódulo, averiguando a sensação, e então encontraram o ponto: uma massa pequena, escorregadia, como um naco de cartilagem, que se mexia e não respondia a seu toque. Era isso o que devia procurar: uma parte dela que não conseguisse sentir. Só uma partezinha. E não sentia porque não pertencia a ela.
Na sala de espera, pensa nas amigas da juventude, espalhadas pelo mundo, pensa em sua mãe, para quem pareceu sempre um tanto inadequada, longe de ser aquela “filha que ficasse bem em cima de um pônei”, nas decepções antes de conhecer Dessie McGrath. Na violência que esse corpo, que teme estar fora de controle, sofreu. O corpo estranho — que tomara não seja nada.
Não era uma palavra que fora educada para usar, sejamos realistas: Como assim, “não”? […] E lhe parecia um troço bruto, a penetração — pelo menos naquela época, em que o corpo era um lugar tão estranho: quando sua pele era a coisa mais inteligente que havia nela, por saber como enrubescer, e ela nem conseguia falar o nome das coisas que tinha da cintura para baixo.
Emmet. O filho que escolheu como família as pessoas miseráveis das partes mais miseráveis do mundo.
Trabalhando em ações comunitárias da ONU, conhecemos Emmet em 2002, em Máli, onde ele percebe nascer e morrer um amor nas terras contaminadas pela pobreza e a falta das condições mínimas. Mas o que é um coração partido diante da epidemia de cólera, da fome de crianças que já nascem meio mortas?
A construção de um personagem que como se diluísse nos outros, no esforço de aceitar que os problemas do mundo são muito maiores que a culpa de deixar a mãe velha morando sozinha com seus dramas, seus livros, e suas frustrações, a depressão de ter perdido o pai, o abandono de Alice, aquele cão que come melhor que os filhos de seu empregado. Se Dan se interessa muito pelas coisas, principalmente as simples, sensíveis e belas, Emmet, no contraponto, tenta se encontrar nos horrores humanos. Esse filho Rosaleen perdera para a fome dos outros, para a morte em si.
É para lá que os filhos vão — seguem os pais ao vale da morte, como se partissem para a guerra.
E chegamos no tempo presente do romance. Rosaleen, escrevendo os cartões de Natal para os filhos que estão longe, esperando que todos venham, pois decidiu (ali, enquanto escrevia), vender a velha casa. Primeiro o cartão para seu Dan, o filho querido, aquele cuja saída de casa ficou marcado no relógio parado, às dez horas há anos. Ou teria sido depois que seu marido, Pat Madigan, falecera? Ela não sabia, porque talvez os sentimentos se misturassem dentro dela, e da primeira vez que se sentiu como uma viúva foi quando seu filho, aquele para quem contava certas coisas que não contava a mais ninguém, partira.
Os cartões a que Rosaleen se dedicava a escrever naquela manhã (ou seria tarde, ela não sabia as horas) quem comprou foi Constance, assim como a comida para a ceia de Natal que ela, Constance, prepararia, como as bebidas, que teria de esconder de Hanna, a outra filha, alcóolatra e triste.
Depois veio o cartão a Emmet, ela não sabia o que dizer.
Um homem que a culpava por tudo, inclusive pela morte do pai. Porque é isso que os filhos fazem quando crescem. Viram e dizem que é tudo culpa sua. O fato de as pessoas morrerem. É tudo culpa sua.
O filho que a julgava, “a cópia perfeita” de John Considine. O pai dela. Um outro tipo de amor e recusa.
E então, na segunda parte do romance, os filhos e netos reunidos na velha casa, a tentativa de reencontrar qualquer coisa em comum que não seja aquela mulher de onde saíram um dia, que agora aos sessenta e seis anos também tenta encontrar-se, que se sente uma governanta na casa onde nascera, essa que quer deixar de ser árvore. A genialidade narrativa de Enright em construir um personagem a partir de suas conexões com os outros, principalmente esses que são, de princípio, eles mesmos (ou feitos da mesma matéria, do mesmo tempo e, sobretudo, vindo do mesmo lugar — Rosaleen, a Irlanda).
Enright cria uma sobreposição de tempo em Rosaleen, cujos filhos são não só a continuidade de sua vida, mas também a composição de seu passado (o pai, o marido, ela mesma dividida entre as filhas). Se não estamos contidos entre o chapéu e as botas, como diria Walt Whitman, somos, isso sim, essa família com quem deixamos, ano a ano, de nos identificar, mas que carregamos conosco e repassamos aos nossos filhos que um dia, também, nos abandonarão. As famílias infelizes (ou apenas família) não são tão diferentes assim. Estão aí as memórias recentes das festas de fim de ano para nos provar.