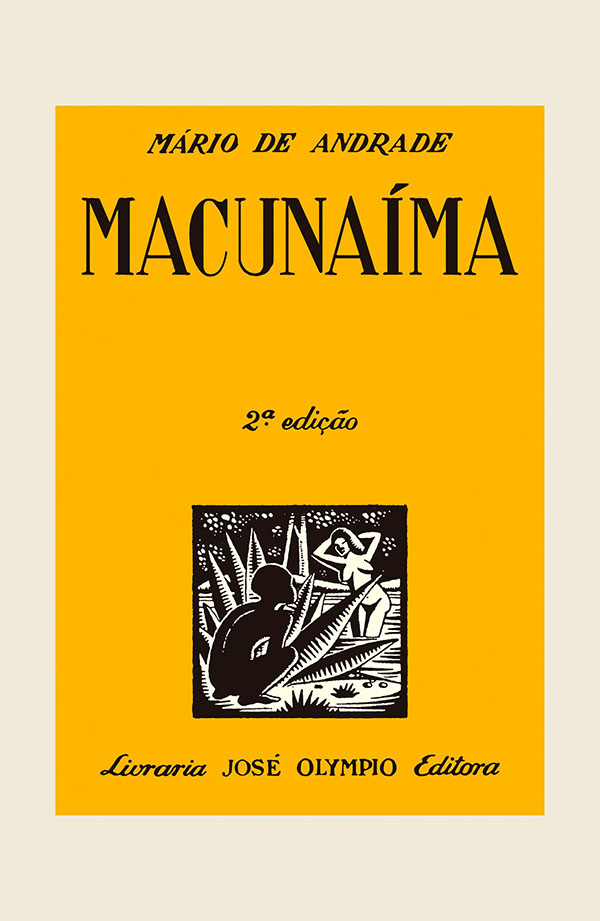O horror político nos dias que correm é a naturalidade com que uma parcela nada desprezível das populações não apenas participa, mas acompanha os fatos com o prazer anexo ao fanatismo. No Brasil, a imitação da invasão do Capitólio, em Washington, aconteceu quase exatos dois anos depois, em uma farsa ampliada. Deu-se o teatro de encenação patriótica em plena Praça dos Três Poderes, com o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal servindo de cidade cenográfica para uma espécie de transe nacionalista jamais visto por aqui. Excursões de várias cidades se encontraram em Brasília, avançaram sobre os prédios simbólicos da República, com irada alegria, destruindo o que estava pela frente. E registrando orgulhosamente em vídeos e selfies postados nas redes sociais, a destruição promovida pela horda de patriotas tão encolerizados quanto avessos ao menor chamado à sensatez.
A cada eleição, o conjunto de ares e signos a que chamamos Brasil parece mais esfacelado. A renovação prometida pela democracia talvez aconteça, aqui, pelo avesso — afinal, votamos mais contra alguém do que em alguém. Ou talvez a imagem da brasilidade em formação se revele com indesejável nitidez, na violência eleitoral, na intolerância política transmitida e compartilhada na sociedade, muito além das redes sociais. E ainda, no esquecimento abrangente que dizima a evolução histórica, as raízes culturais e a diversidade de um povo que deixa de ter a capacidade de se enxergar coletivamente, e prefere apontar no outro aquilo que diz, com repulsa, não ser. Na preparação e execução das invasões de 8 de janeiro, bem como nos acampamentos que permaneceram meses antes diante dos quartéis, segmentos sociais de variadas origens compõem um mosaico que une evangélicos, políticos, empresários e trabalhadores do agronegócio, além de outros profissionais de diferentes níveis de renda.
O ufanismo praticado com ira e segregação, desfazendo laços de família e amizade, é o verniz político para o discurso da transformação sem consequência. “As coisas que acontecem aqui, acontecem paradas. Acontecem porque não foram movidas. Ou então, melhor dizendo: desacontecem”, escreveu Manoel de Barros acerca do Pantanal, definindo o que se passa no ambiente sob a ordem do não movimento. No Brasil que se procura e não se acha, tudo desacontece antes que algo aconteça. Ao invés de se estabelecer como o somatório sucessivo dos fatos do passado ao presente, o futuro aparece no que sobra dos desacontecimentos.
Neste breve rascunho sobre o ego brasileiro, fragmentos de três leituras despontam: os relançamentos de Livro de pré-coisas, de Manoel de Barros, Macunaíma, de Mário de Andrade e Insônia, de Graciliano Ramos. Obras imersas num país que mudou, e ao mesmo tempo, não muda. De onde se extraem personagens típicos diferentes, no amplo leque de ligações possíveis com a terra e o solo social em que brotam. Construções atuais que realçam essências que não mudam, continuam de fácil identificação, apesar dos tique-taques decorridos. Se a literatura oferece o campo vasto do que vai além das páginas, podemos extrair, dos livros, esboços ilustrando a nação, a partir dos tipos e traços que se repetem na paisagem.
O Brasil como a soma infinita de desarmonias que se espremem — na comparação de dissonâncias levadas ao extremo da escala de incongruências — compõe uma sombra melancólica, facilmente reconhecida pela realidade. Onde a duração das disputas simbólicas entra em espiral igualmente sem fim, numa cacofonia de desacordos e indignados assombros. “Vivem em combates singulares e coletivos, todos armados da cabeça aos pés”, provoca Mário de Andrade em Macunaíma, sobre os paulistas, em menção que podemos estender ao país-continente. Sentimos falta da lentidão das conversas espaçadas pela compreensão mútua, ou mesmo da incompreensão consentida. Viramos personagens apressados de enredo à deriva, enquanto nos afastamos uns dos outros. Esquecemos o tempo da conciliação e a conciliação do tempo: o ranger dos segundos se apresenta indispensável e urgente.
Brasil político
O gigantismo da natureza é apequenado pela rotina dos desacontecimentos forjados à custa da permanência do que se prefere parado — e da corrosão das potencialidades feito a terra que se desmata. As belezas componentes da identidade coletiva se desgastam, mas não deixam de ser exaltadas pelos representantes do povo. O cidadão abandonado, sem ter o que comer nem onde morar, para o qual a cidadania é um sonho longínquo, é manipulado e mantido a distância, numa redoma de miséria inquebrável. Vale outra imagem de Manoel de Barros: o Brasil é um “ninho fotogênico cheio de filhotes com frio”.
Ao invés de escolhas ponderadas entre opções, temos sido pressionados a responder a uma dicotomia mostrada como inescapável na política nacional. Tudo ou nada, nós ou os outros, céu e inferno tomam conta das campanhas eleitorais, e dos discursos que respaldam a inexorabilidade de lados incompatíveis. No efeito social do apartheid político brasileiro, amizades derretem e famílias implodem, na desagregação causada pela polarização excludente. Somos torturados pelos polos: “Sim ou não? Quem me está fazendo na sombra esta horrível pergunta?”, pensaríamos, como escreve Graciliano Ramos em Insônia. Sem meio termo ou escape a um dos lados — sempre um certo, um errado, na lógica dicotômica. Nos anos 30 do século passado ou nos atuais anos 20, notícias de prisões continuam gerando um “sombrio contentamento” em muita gente.
Enquanto isso, políticos e funcionários públicos graúdos agem e pensam como heróis sem caráter — longe da bonomia encarnada pelo personagem mais famoso de Mário de Andrade. Na cena política brasileira, a ingenuidade só cabe aos eleitores. Excelentíssimos senhores e senhoras que deveriam zelar pelo respeito coletivo não perdem a chance de se divertir à custa da credulidade popular. Aqui, como o incontrolável Macunaíma, figuras de peso da República e seguidores que neles se espelham, parecem também ter abandonado a consciência numa ilha. Adoram dar grandes gargalhadas olhando a desgraça ou o ridículo nos outros, continuamente enganados como as vítimas das trolagens do herói impiedoso e infantil, que mente “sem querer”, mas adora ser mimado e homenageado por onde passa. Aos políticos que não enxergam na política um trabalho e se comportam como “uma raça refinadíssima de doutores” que “muito pouco têm de humanos”, a diversão é sempre garantida.
Em Insônia, Graciliano Ramos traz imagens que definem a vida brasileira sem condescendência. Como o cidadão comum equiparado a um bicho doméstico que percorre as ruas. As crianças nas escolas de subúrbio, tristes e enfezadas, enquanto a “gente lá em cima” não desperta de seu sono de pedra. O sofrimento dos infelizes “na luminosa poeira das réstias” enquanto o tempo escorre “nas pancadas medonhas do relógio velho”. A necessidade recorrente do “sangue dos inimigos da pátria”. A senhora que “se tinha habituado a um grande número de amolações e receava não poder viver sem elas”. O cidadão, diante de autoridade do governo, com “a impressão de que, se continuasse a encolher-se, iria achatar-se como a paisagem” de um quadro na parede.
Podemos ver um “modo furtivo de esquivar-se como quem não toca no chão” naqueles que usam o mandato ou o cargo público como biombo para ilicitudes, tantas e tantas vezes encobertas por foros privilegiados e imunidades à lei, que proporcionam anos, décadas ou vidas inteiras de impunidade. A desfaçatez dos impunes talvez se valha do que Vinicius Müller descreve como “a baixa capacidade de estabelecermos relações que dependem de abstração” enquanto sociedade, suscitando máximas como “brasileiro não tem memória” ou “brasileiro deixa tudo para a última hora”. A definição enquadra relação esquiva com o passado e o futuro: “Quanto mais tempo passa, menos identificamos aquilo que nos trouxe até aqui. E, inversamente, quanto mais tempo imaginamos necessário para algo acontecer, menos capazes somos de planejar. Ou seja, lidamos mal sempre que o tempo é longo”, escreve, em artigo de 2017 presente na coletânea A história como presente (Fundação Astrojildo Pereira, 2020).
Do mesmo modo, o professor de história econômica no Insper ressalta a dificuldade da sociedade brasileira de “superar sua crônica deficiência em se identificar a partir de conceitos tão abstratos como liberdade e igualdade”. A identificação com a natureza, de outro modo, é fácil, direta e imediata.

Brasil natural
No dizer de Graciliano Ramos, “um silêncio grande envolve o mundo”. Silêncio que perturba mais do que conforta, pelo que deixa passar de perguntas tão incessantes quanto sem resposta. É do solo brasileiro que emanam sons de alento, quebrando a angústia escondida em vozes caladas. Como se o Brasil fosse um pré-país, ao modo das pré-coisas de Manoel de Barros. Lugar em que até “as ruínas dão árvores!”, terra em que vivem as fênix mitológicas, renascendo das cinzas em constante renovação. Diante da sensação de que nos compomos mais de cinzas do que de fênix, na gigantesca natureza verde-amarela — “Ah, que preguiça!”, diria Macunaíma — cabem a nostalgia e a utopia do paraíso perdido, sempre reencontrado. Do saber natural inviolado, mágico, quase milagroso em extensão e profundidade, feito a raiz mais longa de frondosa árvore. E se as ruínas arvorecem, certamente enraízam, criando a indistinção entre o fim e o começo, mais que o pêndulo em cíclico balanço.
O “desejo de árvores e aves” de Manoel de Barros perdura no burburinho inquieto da civilização brasileira. Na potência do desejo, a raiz nostálgica sobe ao solo com o sonho de inventar novas margens, como o rio do poeta mato-grossense. De receber a chuva cujos prelúdios se sentem na pele, quando “todo vivente se assanha”. E aos primeiros pingos, recobrar o advento da renovação em ambiente conhecido, com “perfume de telha molhada” onde “o jardim está pensando… em florescer”. O metabolismo do Brasil natural é um convite à esperança que não se entrega ou limita, feito um ecossistema como o Pantanal cantado pelo poeta. No ciclo da natureza que se encharca para se recriar, a chuva da noite é a alegria da manhã. Graciliano dá cor ao sentimento, por meio do aviso de uma personagem, em alusão ao integralismo da época: “O futuro do Brasil é verde. Verde, a cor das nossas esperanças, a cor das nossas florestas”.
E a recriação nivela os seres — “árvores, bichos e pessoas” — que se confundem com a natureza. Como se fossem a designação de nomes para o mundo natural, “todos se fundem na mesma natureza intacta”, resume Barros. Resgatando o começo dos tempos, em que tudo era inominado — e belo, enquanto desnecessário. Como a ausência de nomes — de palavras — nos une ao passado do qual surgimos em solo, primeiro, povoado, depois invadido e nomeado de Brasil? Em que medida a invasão colonizadora corrompe ou compõe a identidade nacional e suas posteriores imagens no espelho da história coletiva? Se a invasão destrói e aniquila, assimilando e se sobrepondo, somos o que restou ou o que surgiu da destruição e da agregação que nos compõem? Nesse prisma, o Brasil natural é ao mesmo instante imagem primordial, ruína originária e projeção de um ideal que se sustenta, apesar das desnaturalizações do chamado processo civilizatório, no qual, tomando São Paulo como exemplo, Mário de Andrade aponta em sua obra clássica, ao descrever a visita de Macunaíma, o imperador do Mato-Virgem: “Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens”.
Ainda com Manoel de Barros, aprendemos que o brasileiro mantido alheio à maquinação da vida, incorporado ao cenário natural, é “ser que não conhece ter”, com “adesão pura à natureza”, praticante da inocência que “anda na terra como quem desabrocha”. Talvez queira ser como um passarinho com “uma filosofia nua, de vida muito desabotoada e livre” que nos remete a tipo semelhante a Macunaíma, um herói das matas que se desconhece na urbe e exalta “todas essas coisas que podem ter sossego porque não possuem pensamento que nem nós”.
Noutra metáfora de asas, voltando a Manoel de Barros, o poeta traz a garça pantaneira exibindo uma tristeza de sobrevivência: “Alguma coisa em azul e profundidade lhes foi arrancada. Há uma sombra de dor em seus voos”. O brasileiro, assim, seria uma mistura entre os potenciais da terra primitiva e as angústias da desnaturalização.
Brasil ideal
A restauração de uma identidade que se reflita no semblante brasileiro de forma una, sem escamotear nem condenar as diferenças, passa pela busca que se renova, após um século do movimento modernista, apresentada pelo autor de Macunaíma: “Pretenso inventor da ‘nossa gente’ reconstituída em seu herói, Mário de Andrade compreendeu como poucos que nossa comunidade — diversa, caótica e estonteante — é capaz de mobilizar uma poética do encontro, reinventada pela língua”, diz a nota da José Olympio para a 2ª edição do livro clássico.
No prefácio para a mesma edição, Veronica Stigger aponta que o personagem percorre um caminho de descaminhos, pavimentado por encontros inesperados, que “se faz por erros, por errâncias: uma descoberta leva à outra, que leva à outra, e assim por diante”. Nas metamorfoses de Macunaíma talvez possamos enxergar as de uma nação em que o território de possibilidades oferece oportunidades de transformação. Se extraímos do herói a similitude com a brasilidade, a definição de Stigger talvez se aplique a cada brasileiro: “a um só tempo, singular (não há outro como ele) e múltiplo (está sempre se desdobrando em outros). Nada é estático em seu mundo. Nada está dado de uma vez por todas”.
Essa imagem mutante propicia a composição de um traço coletivo idealizado na disposição para a mudança, apesar do beco sem saída em que nos vemos em longas crises políticas, em acirrados períodos eleitorais que parecem não terminar depois da contagem dos votos, ou ao presenciarmos os efeitos alucinógenos da inoculação de valores exóticos na sociedade, segundo a expressão do ministro da Justiça, Flávio Dino, um dia após o ataque dos vândalos em Brasília. Mas o ser maleável esbarra em outra característica da dinâmica brasileira — a desilusão do sonho, como a volta da rotina após a expectativa do Ano Novo. No país onde tudo é possível, nem tudo acontece, por mais que a alma coletiva pareça cruzar distâncias em voo livre. Aqui, para usar outra imagem de Macunaíma, o “herói de nossa gente”, os pássaros caem de susto e viram pedras.
Pode ser necessário o resgate da síntese que também nos é cara. Recorrendo à possibilidade de que “os elementos que definimos como contraditórios são, muitas vezes, complementares”, na fórmula do professor Vinícius Müller para uma simbiose proporcionadora de situações com perdas e ganhos. O amadurecimento da identidade coletiva deve atravessar a história sem recalques e ressentimentos que negam o que passou ou o que se coloca diante dos olhos. “Sociedades maduras aprendem com sua história e preservam não só aquilo que as engrandece, mas também aquilo que no presente as envergonha”, ensina o professor, para quem “a história em chamas é o fracasso do futuro”. Nesta direção, a síntese da identidade não descarta a reconciliação da brasilidade com a sua própria formação, incluindo os vexatórios momentos de antes e de hoje. Para escapar do que Müller chama de “ilusório presentismo concreto, muito brasileiro”.
No território indefinido da idealização de um país que já foi cordial na política e exótico pela natureza em seus domínios, surge incessante a tarefa das palavras. Como diz Manoel de Barros, “a maneira de reduzir o isolado que somos dentro de nós mesmos, rodeados de distâncias e lembranças, é botando enchimento nas palavras”. Além de alargar os limites, as palavras podem elevar o grau de reconhecimento, rompendo o silêncio do isolamento, ou simplesmente diversificando o que se diz e o que se escuta, o que se escreve e o que se lê. Lembrando Mário de Andrade, vamos pensamentear mais: quem sabe assim nos reencontramos na mesma imagem refletida.