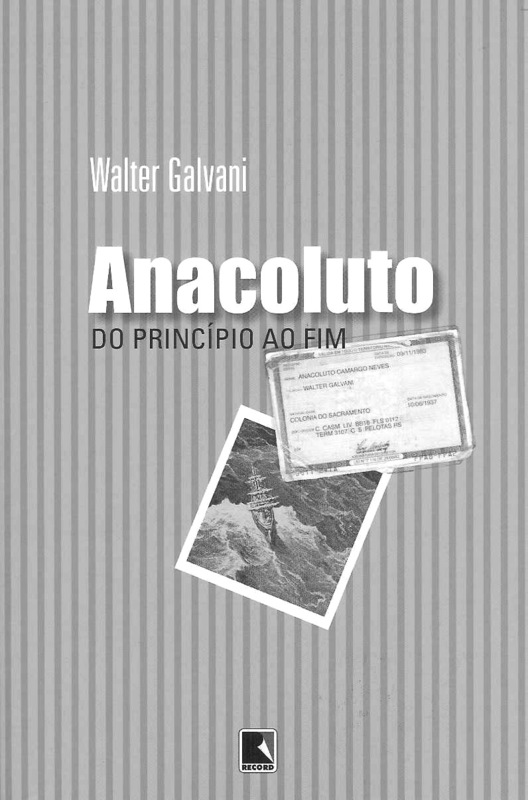As melhores narrativas são as que não precisam provar sua técnica. Anacoluto do princípio ao fim é uma leitura leve, mas nunca passageira. Enquanto vivemos uma época de gula pela fama, o livro descreve as emoções primordiais de alguém que deseja justamente o contrário, o anonimato. Enquanto autores buscam singularizar o desvio e a aberração, Galvani se debruça na biografia pacata e comum de alguém que pode estar ao alcance de um esbarrão na rua. Não há malabarismo, pirotecnia verbal, fluxo desordenado de passagens, mas uma simplicidade essencial e linear que rumina meio século da memória de um homem que sempre ambicionou se ausentar da lista de chamada. Seu nome já é uma maldição. Ninguém mereceria ser chamado de uma figura de sintaxe. O cartório vira, na perspectiva do personagem-narrador, uma espécie de cemitério inaugural. Anacoluto Camargo Neves torna-se um fantasma desde o seu nascimento, mergulhado no impasse de desaparecer por inteiro ou se vingar de virtudes. Não quer trabalhar, não quer ter sucesso, nada que possa levantar sua graça um pouco mais alto. Tudo dá errado, nunca errado o suficiente para mudar de trajeto. Ele se acomoda na herança de seu pai, o latifundiário Neves, e toca a casa com rendas. O excesso de sorte acaba o prejudicando e ele nunca é cobrado pela temeridade do fim do mês. Lê, passeia, joga dominó, pensa demais. O que se lê é seu diário e fica-se com a impressão de que podemos ser enganados a toda hora: será que ele escreve aquilo que viveu ou pretende corrigir sua vida perante os familiares à medida que a descreve? Essa pergunta não é dissipada com o final. Não é de estranhar que sua mulher Rosa Pigafé seja o eixo da trama, contribuindo para o jogo de espelhos: o marido amarga vergonha de sua inutilidade aos olhos dela, nem tanto por ele.
A literatura brasileira está acostumada à malandragem, ao tipo macunaíma, que tira vantagens das mentiras e dos simulacros, da encenação do herói bastardo, das sinuosas linhas da maldade ou dos tipos depressivos ou raivosos, afundados em si. O romance de Galvani apresenta algo diferente e, portanto, mais difícil: um otimismo cético, a honestidade do princípio ao fim do personagem, uma lucidez que o faz compreender suas limitações (apesar de não combatê-las), uma fé pelo porvir que adia as decisões ao dia seguinte. “Não acredito em nada destas coisas, mas, pelo sim pelo não, achei melhor achar alguma crença para me agarrar e reencontrar o equilíbrio.” Resplandece a retidão sedutora de Anacoluto. A autocrítica o impede de ser um canalha (bem que poderia, mas até a maldade exige talento). Sente-se culpado quando trai sua esposa em escapadas com a criada. Sente-se culpado e fracassa ao se libertar das pequenas culpas. Somatiza decepções como a derrota do Brasil na Copa de 50, o autoritarismo paternal e o fato de se deixar levar pelas circunstâncias. E se o protagonista queria se livrar do nome, isso enfim acontece de modo trágico e doloroso (mostrando a coesão da história e a profecia do batismo). Sua vitória é, na verdade, um empate amargo. Passa a sofrer de mal de Alzheimer, perdendo gradualmente a memória e o domínio narrativo, repetindo situações e misturando reminiscências. “O que eu não sabia era o que me aconteceria quando fosse perdendo a consciência e esquecendo quem eu era, o que fora, o que fizera na vida.” O destino cobra alto para fazer a redenção. Anacoluto apronta suas memórias — o próprio livro — como quem se prepara para a morte. Cabe escrever, não tendo possibilidade de revisar o que rascunhou. É uma carta-testamento para Rosa Pigafé. Não mudará nada, mas devolverá os pensamentos aos fatos fundadores.
Galvani, prêmio Casa de las Américas, autor do sucesso de crítica e público Nau Capitânia sobre Pedro Álvares Cabral, deixa a pesquisa histórica de lado para livre romancear, demonstrando que a covardia em viver pode ser maior do que a vida.