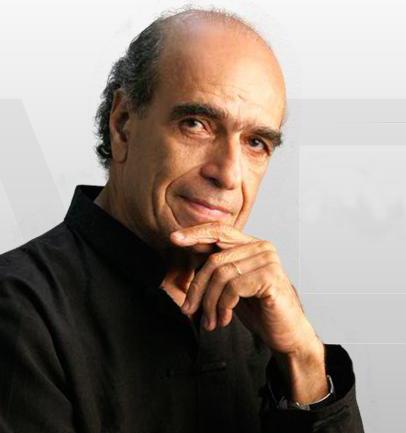As agências de notícias divulgaram nesses dias que o urinol, que Duchamp expôs em 1917, em Nova York, foi eleito a obra mais influente do século 20, mais que outras como a Guernica de Picasso. Muita gente se espantou, muita gente achou graça, muita gente não entendeu nada. Acho o prêmio merecido e, paradoxalmente, ele deixa Duchamp numa incômoda situação.
Tenho dito que se poderia escrever um longo ensaio ou livro intitulado: Tudo o que você sempre quis saber sobre o urinol de Duchamp e ninguém nunca lhe contou. Essa notícia acima incita ainda mais a que alguém enfrente essa tarefa. Como e por que aquele urinol chegou a ter este status em nossa cultura? Ou, o que houve com a nossa cultura, que fez com que o urinol de Duchamp seja considerado, pelo menos nessa pesquisa, a obra do século 20? As pessoas estão inquietas, querendo saber como devem encarar essa notícia.
Há várias maneiras. Uma seria discutir, de uma forma nova e ousada, o sentido da obra de Duchamp, vendo-a a partir de hoje, século 21, como de alguma maneira empreendi no livro Desconstruir Duchamp (Editora Vieira & Lent), e não mais com a complacente neofilia do século 20. Outra maneira mais tópica de penetrar no assunto é examinar o contexto em que a eleição secular do urinol apareceu, pois o contexto é já um texto. Por exemplo, no site UOL, ela vem na seção “arte e diversão”. Essa duplicidade é informativa. Duchamp, que foi mais chargista que pintor, melhor humorista que pensador, gostaria disto. E talvez a notícia pudesse ser lida de trás para frente, ao se anotar duas entidades que patrocinam essa enquete. A primeira é a organização do Prêmio Turner, na Inglaterra, um prêmio que tem sido caracterizado por produzir escândalos, mais do que “obras de arte”. O que prepondera na escolha dos vitoriosos hoje é a capacidade de chocar e produzir notícias, que difundidas aumentam logo o preço das obras em pauta. Não esquecer que a Inglaterra é quem tem hoje o controle publicitário da arte contemporânea, desde que o maior publicitário inglês Charles Saatchi instalou em Londres sua grande galeria. Em segundo lugar, o patrocínio é (também) de um fabricante de gim. E ele deve estar muito feliz com o fato de que as agências de notícia de todo o mundo veicularam o nome de sua marca, no que se chama de “mídia espontânea”. Atrás dessa “mídia espontânea”, interessada espertamente no espetáculo, no escândalo, no insólito, muitas empresas têm patrocinado “qualquer coisa” que dê mídia.
Mas isto é apenas uma nota introdutória, e naquele livro que alguém um dia escreverá se poderia estudar melhor a relação entre mercadoria e arte, quantidade e qualidade, marketing e valor, dentro dessa coisa confusa a que chamamos de pós-modernidade. Consideremos, no entanto, o tal urinol. É inadiável que se faça a história arqueológica do urinol de Duchamp.
Há alguns detalhes pouco conhecidos sobre esse urinol de parede de Duchamp. Sabe-se que Duchamp intitulou essa peça de Fonte e apresentou-a, de cabeça para baixo, na exposição de 1917, em Nova York, com o pseudônimo: R. Mutt. Duchamp fazia parte da direção daquele salão de vanguarda, mas preferiu apresentar “sua” obra sob pseudônimo. Estava testando o próprio comitê de que fazia parte. O regulamento dizia que não haveria júri nem censura, que qualquer um que pagasse seis dólares poderia expor o que quisesse. Pois o urinol foi rechaçado. Os outros organizadores do salão, mesmo sendo vanguardistas, alegaram que aquilo não era obra de arte.
O fato é que, recusado, tendo ficado encostado em alguma parede, alguém achou que o urinol era um urinol e jogou-o fora. Então, o urinol original desapareceu. Mas naquela recusa, Duchamp e seu marchand viram uma excelente oportunidade de discutir os limites da arte de nosso tempo. E o debate foi fomentado pelo próprio Duchamp e seu marchand Arensberg, que editaram um jornal chamado, sintomaticamente, Blind man (homem cego), decretando não apenas o fim da arte “retiniana” — a pintura, mas defendendo a idéia que, com o urinol que era e não era urinol, o autor “criou um novo pensamento para o objeto”. A proposta duchampiana era simples e provocadora: um objeto deslocado de suas funções práticas e colocado num espaço artístico, assumia imediatamente o valor de obra de arte, pois a intencionalidade do criador é que contava.
A provinciana Nova York de l917, ávida de ser moderna e vanguardista, pois o futurismo já acontecera em 1909 em Paris, transformou isto numa grande celeuma, logo exportada. Certas frases e conceitos, de acordo com o estilo autoritário e axiomático dos manifestos futuristas viraram axiomas indiscutíveis. Frases como “é arte tudo o que alguém chama de arte” eram tão inovadoras e caíam tão bem no espírito moderno que quem ousasse duvidar era logo taxado de herege, ou, mais grave ainda, não-moderno, antigo, reacionário, conservador. E diante da figura sedutora de Duchamp, ninguém ousou fazer uma análise das suas afirmativas. Ninguém atinou, nem estava teoricamente aparelhado para perceber uma coisa básica: Duchamp era um signo duplo. E como extraordinário inovador e provocador, só pode ser entendido plenamente se considerarmos as suas duas faces e as suas contradições. No entanto, todo o século 20, vidrado em neofilia e numa falsa idéia de progresso em arte, foi gasto em ver somente a face óbvia do inovador, daquele que deu uma sacudidela na história da arte. Mas será que Duchamp é só esse revolucionário? O que aconteceria se, passados tantos anos, analisássemos sua obra e suas palavras de maneira teórica mais eficaz? O que a antropologia, a sociologia, a psicanálise, a lingüística, a lógica, as técnicas de marketing e a teoria da comunicação teriam a dizer sobre o “deslocamento metonímico” que ele provocou? (Desculpem-me indicar, mas no livro Desconstruir Duchamp, tratei já disto mais detidamente)
Vejamos, no entanto, a estória desse urinol em sua “fonte”. Embora o urinol tivesse desaparecido daquela exposição em Nova York, a idéia prosperou, pois na “arte conceitual”, a idéia pode ser mais importante que a coisa. Então, surge a primeira contradição por parte de Duchamp: quem estava contestando instituições e conceitos artísticos, sucumbiu econômica e artisticamente ao sistema. Ele começou a produzir cópias de seu urinol, a assiná-las para diversos museus para inseri-las no sistema artístico que condenara. Só em 1964, autenticou oito outras peças semelhantes, caindo na repetição que tantas vezes condenou. O antiartista virou artista e a antiarte, arte. O feitiço virou contra o feiticeiro. O contestador sucumbiu à cultura do mercado. E, no final da década de 90, a Tate Gallery de Londres comprou uma das cópias por quase um milhão de libras.
Alguém poderia alegar que se poderia comprar mais barato: bastava ir à fábrica de urinóis, mandar escrever ali R. Mutt e Fountain. Mas, paradoxalmente, os que querem dessacralizar, ressacralizam tudo, precisam da “assinatura”, da “marca” do artista, num movimento de fetichista, digno das mais arcaicas sociedades.
A paradoxal sacralização do objeto dessacralizador seria confirmada ainda pela badalada artista americana Sherrie Levine, que produziu um urinol de bronze dourado. Ou seja, o urinol virou a Mona Lisa da modernidade. Não estranha aquela eleição do tal urinol como a obra do século, academizando de vez a vanguarda e o vanguardista.
Aquele ícone duchampiano teve duas conseqüências: 1) inumeráveis pessoas se sentiram autorizadas a pegar qualquer objeto e a nomeá-lo como arte, sem se darem conta que, ao se julgarem originais e vanguardistas, estavam apenas refazendo algo não mais original. Como diria David Hockney, com a autoridade de ser um dos mais importantes pintores da atualidade, “é algo anti-duchampiano fazer e refazer Duchamp”. O detalhe que escapou a Hockney é que Duchamp foi o primeiro a cair na própria armadilha. Em segundo lugar, incontáveis artistas ficaram presos para sempre a esse ícone, como o cão ou cobra que morde o próprio rabo. Por exemplo, um estudante americano de arte viu jogado no lixo, lá no Alaska, um urinol semelhante ao de Duchamp; alugou um helicóptero e remeteu-o ao Tennessee de presente ao seu mestre Ronald Jones, que o expôs com dois textos, contraditórios ao lado. Um, do teórico George Dickie, dizia, espantosamente, que aquela peça “tem muitas qualidades a serem apreciadas — a superfície brilhante, por exemplo, tem qualidades que lembram Brancusi e Moore”. A essa alucinação teórica, contrapunha-se um texto do próprio Duchamp ao lado: “Eu joguei o urinol na cara deles como desafio e agora eles o admiram como objeto de arte por suas qualidades estéticas”.
Mas está longe de parar a viciosa história em torno daquilo que psicanaliticamente se pode chamar de objeto traumático, do qual alguns artistas e teóricos não conseguem se livrar ou superá-lo teoricamente.
Como uma dízima periódica, que se repete tediosamente, a imagem do urinol fixava-se em mentes pouco dadas a um raciocínio mais pessoal e original. Em 1993, em Nîmes (França), havia uma exposição com outra cópia do urinol de Duchamp, e segundo Nathalie Heinich, o objeto estava tão sacralizado que eles o limpavam e o guardavam com o mesmo carinho que se dedicavam à Guernica. No entanto, um artista chamado Pierre Pinoncelli desencadeou uma performance. Ele era pós-moderno, filhote de Duchamp. Preso a essa metáfora original, aproximou-se do urinol de Duchamp e jorrou ali a sua urina. Isto feito, declarou que ao urinar ali o urinol deixava de ser de Duchamp e passava a ser dele; pois esse é o preceito da arte conceitual, ele apropriou-se do urinol icônico. E justificava seu gesto com sutileza teórica: ao urinar no urinol fez com que o objeto voltasse à sua função original. Seria isto o ápice da carreira simbólica do urinol duchampiano. Mas ele não se satisfez com esse gesto artístico. A seguir, já que havia se apropriado esteticamente do urinol, sendo ele um objeto seu e não mais do governo ou do Duchamp, destruiu-o a marteladas. Desconstruiu Duchamp ao seu modo.
Isto virou caso de polícia e o ministro da Justiça francesa entrou na questão alegando que “houve a degradação voluntária do monumento ou objeto de utilidade pública” no valor de 300 mil francos. Aquele artista conceitualista, contra-argumentou que ele, como um autêntico duchampiano, exigia que o urinol não fosse restaurado, nem fosse tratado como objeto vandalizado, mas como nova obra de arte, que a ele agora pertencia. Enfim, nesse círculo vicioso, alegava que havia se apropriado da apropriação.
Mas a estória não pára aí. Em dezembro de 2005, fui ao Beaubourg, em Paris, para ver a grande retrospectiva sobre o dadaísmo. O urinol estava lá. E mal havia retornado ao Brasil, leio nos jornais que aquele mesmo Pinoncelli pegou um martelo e partiu pra cima do urinol outra vez. O urinol ficou danificado. Estima-se que valha hoje US$ 3,6 milhões, ou seja, uns R$ 7 milhões. E aí surge a ironia dos fatos: se o próprio Duchamp comprou vários urinóis, por que não compram um outro — deve custar apenas umas 500 pratas — e botam a assinatura dele? Qual o inconveniente? Pois ele não pegou um trabalho de um “pintor de domingo” e não assinou o nome dele? Ele não fabricou moedas e recibos para pagar dívidas? O fake não faz parte dessa arte?
Como se vê, é uma seqüência de atos e pensamentos prisioneiros de uma mesma idéia, num beco sem saída. Reprodução da reprodução com pretensão à originalidade. Pastiche do pastiche. Por essas e por outras é que digo que enquanto não desatarmos o nó duchampiano não se sairá do sonambulismo teórico que aprisionou a arte na modernidade. Não é quebrando o urinol e ressacralizando-o a seguir que se desconstruirá a falácia duchampiana, que teve sua função histórica e hoje ficou perempta. É decompondo suas idéias, que têm sido seguidas como dogmas e servilmente ressacralizadas, que se abrirá outra vertente além do exausto século 20. Algumas afirmações teóricas de Duchamp não resistem a uma análise lógica e interdisciplinar. Duchamp, inteligentemente, produziu sofismas, mas perfeitamente questionáveis. Como disse Wittgenstein, “compreendemos mal a linguagem que usamos, e por isso de forma enganosa, vivemos a formular as mesmas perguntas. A linguagem é a origem das confusões filosóficas”.
Como disse num outro texto “equivocado também em termos de política (‘é uma atividade estúpida que não leva a nada’), equivocado em termos de cinema (‘não acredito em cinema como meio de expressão’) e obtuso diante das manifestações simbólicas e rituais (‘é uma imbecilidade maluca ter criado a idéia de Deus’)”, já é hora de rever os equívocos quase-artísticos duchampianos.
A melhor maneira de desconstruir Duchamp não é negar ou quebrar o seu urinol, mas tomar o seu discurso, já que ele se quer um artista conceitual que usa a linguagem como arma, e na análise de seu discurso mostrar as suas falácias. E isto é possível desde que tiremos a venda dos olhos, deixemos de ser o “blind man”, que ele cultivou, e como o menino da lenda de Andersen digamos, com argumentos teóricos, como e porque o rei está nu.