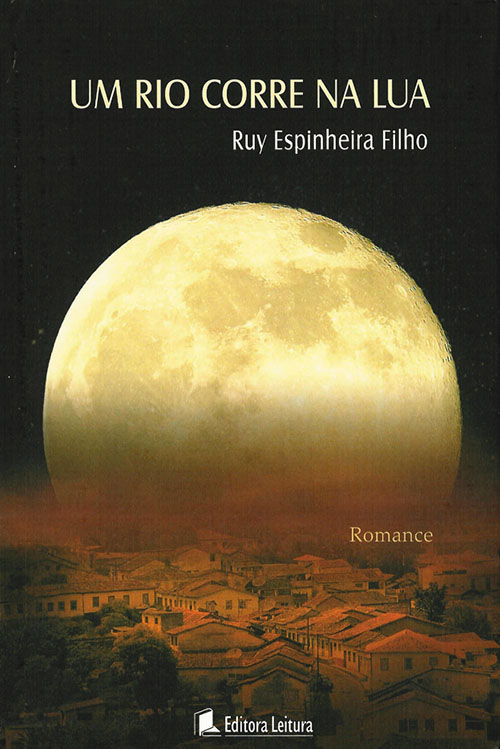Há poetas prosaicos e prosadores poéticos — e não vai aqui nenhum juízo de valor considerando um superior ao outro. Há poetas que fazem de temas do cotidiano o objeto de sua poesia, e o fazem numa linguagem próxima à prosa, com economia de recursos, sobriedade, parcimônia de imagens. Há prosadores, ao contrário, que se debruçam sobre a linguagem, viram-na do avesso, forçam-na, enriquecem-na, avizinhando-a da poesia, quer os temas sejam “sublimes” ou comezinhos. Isto não prova nada. Só prova que as fronteiras entre poesia e prosa, como de resto entre todos os gêneros, são porosas. Já correram rios de tinta na tentativa de definir a distinção entre uma e outra. Ao cabo de tantos debates, parece que a melhor definição de poesia é ainda a mais óbvia: poesia é aquela em que é o autor quem decide onde acabam as linhas.
Ruy Espinheira Filho, poeta, não é necessariamente um poeta prosaico. É verdade que seus temas são os do dia-a-dia; é verdade que a sua dicção é dúctil, suave, isenta de estridência. Mesmo quando se serve do metro, e ele o faz amiúde, o seu ritmo é fluido, leve, como água de rio. Mesmo quando se serve da rima, e ele também o faz amiúde, sua rima nunca é engastada como um “rubi”, não chama atenção sobre si como que a falar: olha como eu fui difícil de achar. Não há torções sintáticas em seus poemas, não há preciosismos, exercícios de virtuosismo, vocábulos esdrúxulos, metáforas exuberantes. Ruy é da escola de Verlaine, mais que a de Mallarmé ou Rimbaud. Aqui no Brasil, sua estirpe é a de um Raul de Leoni, de um Ribeiro Couto, só para citar dois grandes poetas que andam meio esquecidos. Com efeito, Ruy não é nem guardião do passado nem novidadeiro. Sua carreira — e lá se vão quase 35 anos desde o seu primeiro livro — se desenvolveu à margem dos modismos e das tribos poéticas (aliás, na República das Letras, os poetas, mais que os prosadores, costumam andar em bandos, talvez para se protegerem dos bandos rivais). Meio de banda, assobiando de lado, avesso a toda autopromoção — também muito comum entre os desesperados poetas —, ele foi construindo o seu nome, até que ano passado recebeu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras, pelo livro Elegia de agosto. Aliás, não foi o seu primeiro prêmio. Este baiano tem colecionado não poucos galardões em seu farnel — e o mesmo livro já tinha recebido o Jabuti. Mas, pela importância do prêmio, foi uma espécie de reconhecimento nacional a este vate. E falo vate porque este artista não despreza as musas, não as do Parnaso, que estão mortas, mas as da mnemosis, que é onde se refugiaram as musas desde Proust.
Mas Ruy Espinheira Filho não é só poeta. É também ensaísta, com dois estudos sobre Manuel Bandeira e Mário de Andrade, que demonstram que o baiano sabe a que veio. E prosador, com livros de contos, crônicas, três novelas e dois romances. Ou melhor: três, com o lançamento agora de Um rio corre na lua. E como romancista, ele é um excelente poeta. Não que faça estripulias com a linguagem. Nada disso. Sua prosa é escorreita, elegante, discreta, como sua poesia. A estrutura do romance também é simples, despojada. São capítulos curtos, parágrafos curtos, períodos brevíssimos, às vezes lembrando a disposição gráfica de um poema (novamente as fronteiras se embaralham), como se pode perceber pelo trecho citado. Mas nessa economia, nessa aparente simplicidade de recursos ressuma sua poesia, a começar pelo belíssimo título, uma poesia que, em verso ou prosa, não se envergonha do lirismo.
Em torno da santa
A história de Um rio corre na lua se desenrola numa cidadezinha do interior do Nordeste. Aliás, Nordeste é pressuposição minha, dado as origens do autor. A história, retificando, se desenrola numa cidadezinha qualquer do interior do Brasil. O tempo é impreciso, não há televisão, mas já o rádio e o cinema. Aliás, um único cinema, “com um filme diferente a cada dois ou três dias, [que] estava quase sempre cheio”. Talvez uma cidade assim já não exista mais, pois a televisão impôs os costumes da metrópole nas pequenas cidades, diminuindo assim, sensivelmente, nossa “biodiversidade” cultural. Em que cidade do interior ainda se dançam valsas e boleros ao som da banda no coreto? Mas esta cidade está imantada na memória de Ruy, criado que foi em Poções e Jequié, duas cidades do interior baiano. E agora esta cidade, ou estas cidades, perdidas no tempo, são recuperadas pela pena e pela memória do autor na cidade imaginária cujo nome é Rio da Lua. A cidade “invisível” se torna assim cristalina.
O eixo da história é a pretensa aparição da imagem de uma santa numa vidraça. O primeiro a perceber é a dona da casa em cuja janela o fenômeno se dá:
O sol talvez estivesse provocando uma ilusão, como inicialmente ela pensou. Mas logo também pensou que de manhã o sol sempre batia naquela vidraça — e ela nunca havia visto mais do que a própria vidraça e, através dela, a rua lá fora, tediosa.
Mudando de posição, como logo experimentou — caminhando para a esquerda, para a direita e para trás (um estranho temor a impediu de ir à frente e examinar a vidraça de perto) —, D. Cinha constatou algumas mudanças na forma, mas não o suficiente para alterar a impressão que começava a despertar-lhe arrepios na nuca. (p. 11.)
Em seguida, lá estão D. Cinha, Zênia, sua afilhada, e sua vizinha, D. Raimunda, “de joelhos na rua (felizmente de terra fofa)”, “choramingando” uma reza. Como era de se esperar, a nova cedo se propaga:
Logo a notícia circulou pela vizinhança.
Correu pela praça.
Espalhou-se pelo comércio.
Grassou na periferia.
Galopou pela zona rural.
Chegou ao único jornalista da terra, Caga na Têa (do jornalzinho O Vigilante, de periodicidade — por assim dizer — volúvel) e às autoridades:
O prefeito, Dr. Fulgêncio Queiroz, que era pediatra;
o delegado, o tenente Evandival Moreira;
o pastor Aprígio Modesto;
o padre Honório Belluzzo.
E com isso, o foco narrativo, veloz, ágil e leve, como de resto todo o romance, vai se alternando sobre uma série de personagens mais ou menos típicos nas narrativas sobre o interior do Brasil, todos eles tendo sua rotina alterada pelo “milagre”. Não poucos se sentem prejudicados pelo portento, como o balconista de farmácia Carlito Cunha, cuja namorada passa a lhe recusar as “intimidades” que lhe prometera: “Não pode ser, Lito, com Ela olhando pra nós lá da vidraça!”. Outro prejudicado é o velho Gringo Matraca, celebrado contador de casos, que de repente perde sua audiência. A vidente Madame Jurema também vê desaparecer da noite para o dia sua antiga e tradicional freguesia. Todavia, “outro cidadão não acreditaria jamais que houvesse alguém tão prejudicado quanto ele: Neco Lindoso, proprietário do Cine Rio da Lua”, que, para contra-atacar a súbita perda de clientela, passa a exibir sessões contínuas do filme Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, numa velha cópia toda remendada que ele só projetava na Semana Santa.
Ao par desses personagens, que se assemelham mais a “tipos” (aos quais se pode acrescentar o velho Porfírio, que vivia enxergando nos céus “Espíritos de Luz”; Isaulino, que tinha o estranho hábito de “atirar pedras em qualquer lugar”; a Paulina, que de poeta e louca tinha bastante), aparecem outros cuja visão de mundo se aproxima mais da do discreto narrador em terceira pessoa (digo discreto, pois ele fica a meio termo entre o narrador intrujão, de viés machadiano, que mete o bedelho em tudo, e o narrador “neutro”, que se restringe a relatar o que vê, de matriz flaubertiana). Uma delas é o vereador Lauro Arcanjo, um “ateu humanista”, político cheio de equilíbrio numa câmara municipal onde (para variar) vigora a ignorância. Outro é o já citado delegado, o qual, num país cuja elite não tem escrúpulos em apelar para a truculência sempre que julga necessário, prefere lançar mão do diálogo quando as coisas ameaçam desandar em Rio da Lua por conta das conseqüências da aparição. Mas a figura que melhor representa o bom senso num mundo onde a irracionalidade encontra livre curso é o também já citado prefeito. Com efeito, o Dr. Fulgêncio Queiroz, médico pediatra de profissão, parece não estar muito à vontade no universo da baixa política que não raro domina as relações do poder executivo com o legislativo em todas as instâncias de nosso país. “Era-lhe difícil suportar o palavroso vazio da edilidade.” Não só como prefeito mas também como médico incumbe-se de atender aquela multidão que se ajuntara para ver a santa. Quando uma das crianças de que tratara morre, vê-se inconsolável:
O problema mais grave, que ele não podia solucionar, era o da desnutrição.
Tomou providências, arrecadou alimentos, mas sabia, com tristeza, que a fome continuaria a ser a realidade daquelas crianças.
Como era a de seus pais.
Como fora a de seus avós.
Cuidando deles, daqueles corpinhos frágeis e sujos, Dr. Fulgêncio tentava alentar a esperança de que a fome não fosse também a realidade dos que nascessem deles. Mas era uma esperança tão frágil quanto aqueles meninos e meninas.
Quando uma morreu em seu consultório, tendo ele esgotado todos os recursos para salvá-la, chorou quase tanto quanto a mãe.
E ao final, é o prefeito, espécie de livre-pensador num mundo onde o acesso à ciência era raro, quem explica numa sentença a aparição da imagem (que então já tinha “migrado” para o obelisco da cidade vizinha) e de certa forma resume o espírito de Um rio corre na lua:
— (…) criamos tudo à nossa imagem e semelhança. Vivemos num mundo feito por nós. O outro, o mundo, onde está a Natureza com sua fauna e sua flora, é aquele que deixamos de viver assim que deixamos o Paraíso (…). A partir daí, para sobreviver, tivemos que inventar toda essa tralha de religiões, filosofias, artes…
O que retoma uma das epígrafes do livro, o verso “tudo é milagre”, de Manuel Bandeira. De fato, não há milagre, já que tudo é milagre neste tempo vago, nesta cidade vaga, que a despeito do nome, não tem rio, mas cujo rio lendário “um dia evaporara e passara a fluir e cantar lá em cima, na vasta moeda de prata, refletindo seu antigo mundo, cuja loucura ainda — ao mesmo ainda – não impedia que fosse visto ao longe como uma suave lua azul”.
Não, não estamos diante de uma tese (graças a Deus!), e a voz do prefeito, embora recebendo certo acento, é apenas mais uma no concerto para muitas vozes que é este romance — onde praticamente não há um protagonista, a não ser a própria cidade com sua historia e seus habitantes.
Sem medo do lirismo
Além do mais, o texto é vazado de humor, mas um humor leve, sem sarcasmo, impregnado de ternura e simpatia pelas figuras humanas que se sucedem. Esta mescla de humor com ternura propicia um grau de distanciamento que não é nem a distância máxima da ironia, uma espécie de “olhar superior”, nem a fusão da cumplicidade, uma espécie de “olhar por dentro”, quando o narrador (e autor) participa do mesmo universo de valores que os seus personagens — o que ocorre à exaustão na prosa nacional contemporânea. Um rio corre na lua avança entre um extremo e outro, sinuosamente, como um rio serpenteando no sertão, convidando o leitor a um mesmo tipo de olhar, nem tão longe, nem tão perto, mais simpático que empático. E, através deste olhar terno, nem sarcástico nem acrítico, todo o lirismo, não raro reprimido em nossa prosa de ficção, vem à tona, redimindo, um pouco que seja, este mundo do lado de cá dos livros. Se não há milagres e tudo é milagre, Ruy Espinheira Filho fez um pequeno milagre com este singelo romance. Na fronteira sempre móvel entre prosa e poesia, fez brotar um rio onde lirismo e contenção se cruzam e se mesclam — lá onde também memória e ficção perdem suas margens e o realismo ganha umas tintas de fantástico.