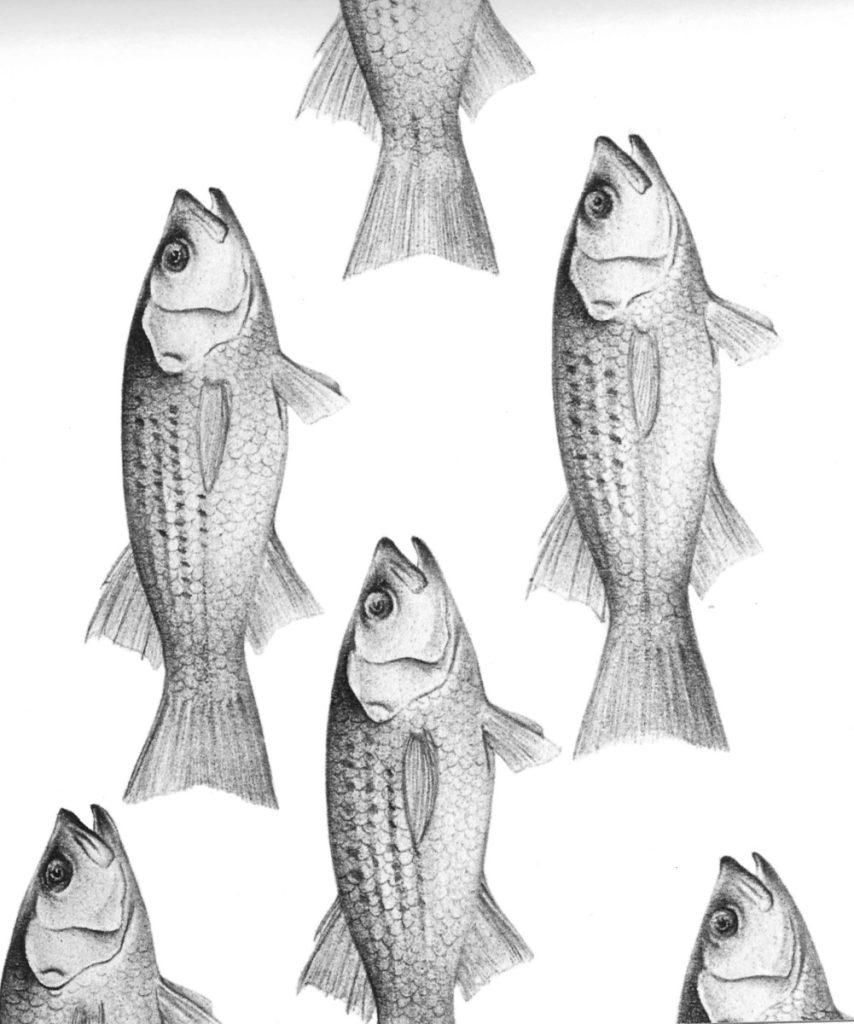Terceiro mergulho
A subversão das normas de linguagem
Foi nos primeiros vinte, trinta anos do século 20 europeu que a prosa e a poesia experimentais explodiram os cânones derivados do classicismo e do romantismo. Tudo o que de relevante apareceu depois na literatura mundial é conseqüência desse big-bang — o que de mais arrojado tem sido feito hoje em dia também. Os vorticistas, os expressionistas, os futuristas, os cubistas, os espírito-novistas, os dadaístas e os surrealistas romperam as barreiras existentes não só entre os diversos estilos, mas principalmente entre as diversas linguagens. À maneira do que já vinha sendo feito na pintura, os novos escritores introduziram nos seus poemas, contos e romances elementos até então estranhos a estes: fotos, desenhos, bilhetes de trem, anúncios publicitários, embalagens de produtos industriais, recortes de jornal, partituras etc.
Mas, não. No Peixe solúvel não ocorre esse tipo de incorporação, que traz para o livro elementos da comunicação visual urbana. Os 32 capítulos (ou minicontos) da novela de Breton têm tramas e protagonistas específicos e relativamente fáceis de ser reconhecidos, todos de teor fantástico. Até aqui não há nada que possa ser considerado bom exemplo de subversão das normas literárias ou de linguagem. A subversão se dá no âmbito microscópico, da frase e da oração. Os exemplos são quase infinitos, eles infestam a novela toda. Selecionei esses três para ilustrar o que ficou dito:
Um edifício é o sino de nossas fugas: a fuga às cinco da manhã, quando a palidez acomete as belas viajantes do expresso em seu leito de filifolhas, a fuga à uma da tarde, passando pela oliveira do assassínio. Um edifício é o sino de nossas fugas numa igreja semelhante à sombra de Madame de Pompadour. Mas eu estava tocando a sineta na grade à entrada do castelo. (p. 68)
O camafeu Leão acabava de tomar a palavra. Balançava diante de mim o pequeno espanador de penas, enquanto me falava na quarta pessoa, como compete a um criado de sua nebulosa espécie. Com toda a jovialidade de que me sinto capaz, contrapus-lhe, sucessivamente, a algazarra, a cabal idiotia dos andares de cima e o poço do elevador que apresentava aos recém-chegados uma grande lula de luz. (p. 76)
No giz da escola há uma máquina de costura; as criancinhas sacodem seus cachos de papel prateado. O céu é um quadro-negro a cada minuto sinistramente apagado pelo vento. “Sabeis o que sucedeu aos lírios que não queriam adormecer?”, começa o mestre-escola, e os pássaros fazem ouvir a própria voz pouco antes da passagem do último trem. (p. 95)
Como se vê, nada de estranho ocorre no campo sintático dos alicerces do Peixe solúvel. A função e a relação de dependência das palavras na oração e das orações no período seguem à risca as normas gramaticais: a regência, a concordância e a colocação permanecem intocadas. É no plano semântico que a subversão acontece. A aproximação quase sempre aleatória de termos estranhos que jamais poderiam se relacionar fora do texto poético, aproximação tão comum nas experiências surrealistas com a fala e a escrita automáticas, é que empresta o sentido ora cômico ora bizarro aos exemplos selecionados.
Marilda de Vasconcelos Rebouças, ao comentar a poesia surrealista, estendeu-se também sobre os pontos de contato desta com a prosa, momento em que se dá a contaminação da segunda pela primeira: “A poética surrealista valoriza, no ato criador, a espontaneidade, o automatismo e o acaso. A página escrita não deve ser corrigida; não se deve apagar o discurso da boca da sombra. (…) A escrita automática é o desafio a cânones de composição consagrados: ela descarta a rima, a métrica e as formas tradicionais de organização da linguagem literária. O novo discurso procura recuperar amostras do funcionamento do inconsciente. Não há mais necessidade do apelo transcendental da inspiração. (…) A ausência de coordenação e subordinação é característica (involuntária, no caso da escrita automática) dos poemas surrealistas. Tanto o lado do discurso mágico como o do onírico podem ser evocados nessa ausência de coordenação. (…) Mesmo quando a coordenação e a subordinação estão presentes, freqüentemente pouco contribuem para clarificar as imagens. (…) Nos textos em prosa, como o Peixe solúvel, ou Os campos magnéticos, feito em colaboração com Soupault, a poética surrealista aceita, em parte, as regras do discurso narrativo. À função metafórica, eixo central da poesia, associa-se o plano mais literal, condutor do fluxo da narração. Isso pode parecer paradoxal, uma vez que os surrealistas sempre desprezaram os elementos romanescos ou anedóticos, mas é praticamente impossível conduzir um texto mais longo sem os recursos da narratividade. Entretanto, esse plano sintagmático, ordenador de frases e seqüências, submete-se ao plano paradigmático, domínio absoluto das imagens, da livre posição dos campos semânticos. A qualquer momento pode surgir na frase a metáfora que levará o discurso a um novo jogo imagético. A surrealidade do texto coloca-se no nível onde tudo pode acontecer. A função sintagmática é mera condutora da irrupção violenta e preciosa das metáforas; ela tece o caminho que será pontuado pelo brilho das imagens”. (Surrealismo, p. 66).
A cidade sobrenatural
Os surrealistas, desocupados e desempregados crônicos, no período de formação do movimento costumavam reunir-se nos bares e cafés mais suspeitos, onde fervilhava a fauna do proletariado, das prostitutas e dos proxenetas. Procuravam, com isso, estar próximos da verdadeira vida: “O surrealismo não se escreve, não se pinta, se vive, e seus fundadores são os apóstolos de uma nova religião que se celebra nos bares: no Certâ, no Grillon da Passagem da Ópera, no Cyrano, sobre cujas mesas, por entre a fumaça dos cigarros, o barulho dos copos e as gargalhadas, a leve embriaguez que dá o mandarim-curaçau, Aragon alinha, como boas brincadeiras, as imagens fulgurantes d’O camponês de Paris. Certamente não se trata de literatura, não lhe é permitido fazê-la. O trabalho artístico e qualquer outro trabalho são, com efeito, vilipendiados, amaldiçoados, deve-se consumir a vida tal como ela nos foi dada, e não ganhá-la. E viver é olhar, escutar, aspirar a atmosfera desses lugares inspirados da Paris do pós-guerra: a Passagem da Ópera, o bulevar Bonne-Nouvelle, a Porta Saint-Denis, o parque Buttes-Chaumont. Corre-se ao cinema Parisiana para assistir ao Abraço do polvo, degustam-se as peças idiotas do Teatro Moderno ou da Porta Saint-Martin. Os espetáculos mais ridículos são os mais apreciados, porque colocam em cena os sentimentos e as emoções populares que ainda não foram corrompidos pela cultura. Freqüentam-se os bordéis, em busca da natureza nua e crua das prostitutas. Procura-se a cretinização por ela mesma. A maneira é simples: basta adquirir um bilhete num domingo, numa estação que dá para o subúrbio, girar indefinidamente durante horas e horas por todos os caminhos de uma paisagem desolada, numa viagem cujo fim não mais se espera” (Nadeau, p. 63).
A topografia parisiense divide com os bosques e as florestas também a cena do Peixe solúvel. Apesar de parecer o contrário, tais locais são concretos, reais, não se situam em outro ponto no tempo e no espaço nem pertencem ao outro mundo dos românticos. A vida real ocorre aqui e agora, e isso é que é surpreendente. Ferdinand Alquié, para quem as páginas d’O camponês de Paris, as de Nadja e as do Peixe solúvel são iluminadas pela mesma inspiração de erotismo e paixão, de esperança e otimismo — raramente de pessimismo, diferentemente do que afirmavam os próprios surrealistas e seus críticos (essa é a tese principal defendida por Alquié em seu estudo do movimento) —, vê no cotidiano de Paris, de uma Paris em incessante transformação, o ritmo maravilhoso das comunidades típicas dos contos de fada.
Paris é a cidade surrealista por excelência. É, por isso, paisagem a ser percorrida, escrita a ser decifrada e presença fulgurante na novela de Breton. No capítulo 3, o único assunto da conversa na praça da Bastilha é a enorme vespa que desce o bulevar Richard-Lenoir, cantando a plenos pulmões e propondo enigmas às crianças, enquanto não longe dali o Sena conduz o torso polido de uma mulher; no capítulo 13 a jovem fama recolhe-se embaixo da escada da Bolsa de Valores; no capítulo 16 tudo o que interessa ao narrador é a chuva divina “como uma harpa às duas da tarde num salão da Malmaison”; no capítulo 18 o lampião de rua passeia pela rua Etienne Marcel e por outras ruas da capital, enquanto “na altura da Porta Saint-Denis uma canção morta ainda aturdia uma criança e dois agentes da força pública”; no capítulo 24 os amantes passam a noite numa praça pública, nas imediações da Ponte Nova, próximo ao City Hotel; no capítulo 26 a mulher de seios de arminho está postada à entrada da Passagem Jouffroy, ao passo que o “Encontro, nem moço nem velho, tem nos arredores da Porta de Neuilly uma pequena loja de vidro quebrado”; no capítulo 28 o narrador e suas amigas, partindo da estrada de Saint-Cloud, sobrevoam “Paris, num carro cujos ocupantes vão inteiramente recobertos de sonhos”; no capítulo 32, em que a capital está ainda mais presente, o narrador lamenta as “propriedades mal fechadas de Montfermeil, onde as pessoas vão à procura de lírios do vale e de uma coroa principesca”, passeia pela rua Lafayette, que “balança suas vitrines da esquerda para a direita”, aprecia o anúncio luminoso “na esquina da rua da Paz com a praça da Ópera”, observa “a inimiga da sociedade entrar no prédio situado no número 1 do bulevar das Capuchinhas” e depois numa casa da rua Hanôver; e, por fim, finaliza sua narrativa comentando que “os muros de Paris foram recobertos com cartazes que representavam um homem fantasiado de lobo branco, com a chave dos campos na mão esquerda: esse homem era eu”.
Como é possível ver, dentro da narrativa os bulevares e as praças são talvez os locais mais privilegiados da cidade, afinal é neles que se dá o maior acúmulo de objetos de naturezas diversas, que, colocados lado a lado, compõem o espetáculo circense da vida cotidiana:
A praça do Porta-Manto, com todas as janelas abertas esta manhã, é sulcada pelos táxis de bandeira verde e os veículos de senhores. Belas inscrições em letras de prata divulgam por todos os andares os nomes dos banqueiros, dos mulherengos célebres. No centro da praça o Porta-Manto em pessoa, com um rolo de papel na mão, parece mostrar a seu cavalo o caminho por onde outrora se arrojaram as aves-do-paraíso que apareceram, certa noite, sobre Paris. (…) Do lado esquerdo da praça desventram-se tonéis; as ramagens das árvores inclinam-se até eles e logo se reerguem cobertas de rebentos de cristal e de vespas desmesuradamente longas. (p. 87)
As figuras grotescas que habitam a praça do Porta-Manto e as outras regiões do Peixe solúvel parecem-se com as dos filmes e peças idiotas de que Breton e os companheiros tanto gostavam. Paris torna-se, assim, um grande picadeiro místico, com direito até a um espelho que reflete e aprisiona em sua superfície outras cidades:
As cidades mal tinham tempo de aparecer entre duas de suas espessuras: cidades de febre, sulcadas em todas as direções por mulheres solitárias; cidades de abandono e também de gênio, cujos edifícios tinham, no alto, estátuas animadas, cujos monta-cargas eram construídos à semelhança de seres humanos; cidades de tempestades pobres; e esta, mais bela e mais fugitiva que as demais, cujos palácios todos e mais as fábricas eram em forma de flores: a violeta era o atracadouro dos barcos. (p. 104)
A personagem mais constante no Peixe solúvel não é o professor T, a mulher dos seios de arminho, a grande vespa ou outra figura extravagante qualquer, mas a própria Paris. São as ruas, as praças, os cafés, os teatros, os hotéis, os cabarés, os prostíbulos e a infinidade de pontos topológicos da capital francesa do primeiro quartel do século 20 que coordenam o relato de Breton, passando não raro de mero pano de fundo à protagonista da narrativa. Sair a passeio pela cidade, a pé, sem que antes fosse estabelecido o itinerário, muito menos o destino, esse era um dos conhecidos hábitos de Breton e dos surrealistas. Tais deambulações eram rituais votados ao acaso e aos encontros inesperados, pois, da mesma maneira que a redação do Peixe solúvel incorporou todo tipo de erro e ato falho, também as caminhadas ao deus-dará tinham como objetivo despertar certas revelações que, do contrário — numa narrativa disciplinada, numa caminhada planejada —, continuariam adormecidas. Esse clarão do pensamento, esse êxtase momentâneo, esse esplendoroso estalo da mente é parte de algo muito maior, que Walter Benjamin denominou, no seu famoso ensaio sobre o surrealismo, de iluminação profana, experiência que pode ser confundida com o êxtase religioso ou com o produzido por drogas, mas muito diferente desses por ser de inspiração materialista e antropológica. Mas, ainda nas palavras do desconfiado Benjamin: “Nem sempre o surrealismo esteve à altura dessa iluminação profana, e à sua própria altura. Justamente as obras que a anunciam com o máximo de vigor, o incomparável Camponês de Paris, de Aragon, e Nadja, de Breton, mostram desvios perturbadores. Assim, há uma bela passagem em Nadja sobre ‘os esplêndidos dias de pilhagem, em Paris, por ocasião do episódio de Sacco e Vanzetti’, e Breton nos assegura que nesses dias o bulevar Bonne-Nouvelle cumpriu a promessa estratégica contida em seu nome. Mas aparece também a senhora Sacco, que não é a mulher da vítima de Fuller, e sim uma vidente, domiciliada na Rue des Usines, 3, que diz a Éluard que não deve esperar de Nadja nada de bom” (O surrealismo: o último lampejo da inteligência européia).
Na lista de obras tocadas pela iluminação profana peço permissão ao mestre alemão para incluir o Peixe solúvel. Essa pequena novela de Breton me mostrou que saber orientar-se numa cidade não significa grande coisa, mas saber perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. “Nesse caso, o nome das ruas deve soar a quem se perde como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade devem refletir as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro”, escreveu certa vez Benjamin.