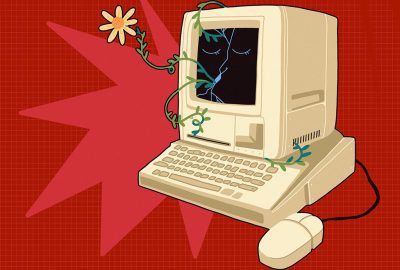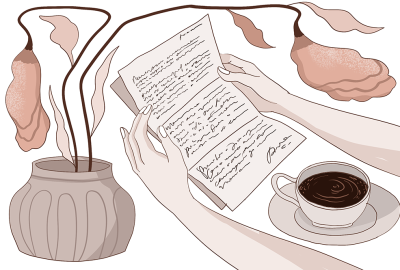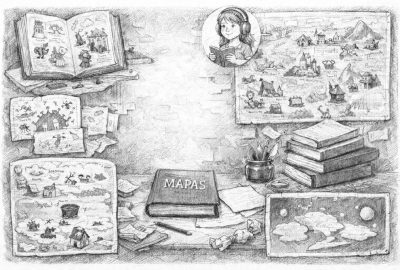Quando escreveu The Pole, seu último romance (O Polaco, ainda inédito no Brasil), J. M. Coetzee tinha mais coisas em mente do que simplesmente contar uma boa história. O Nobel de Literatura de 2003 pretendia dar mais alguns passos em sua luta contra a onipotência e a onipresença da língua inglesa, defender o Sul global e, de quebra, ainda explorar algumas questões relacionadas à tradução. Assim, ele decidiu que a edição em língua espanhola, El Polaco, traduzido pela argentina Mariana Dimópulos, não só sairia bem antes da versão original, como é a que deveria ser utilizada como fonte para as traduções para outras línguas.
A primeira parte do plano deu certo. El Polaco foi lançado em agosto de 2022, enquanto The Pole só veria a luz do dia mais de um ano depois, em setembro de 2023. Mas a segunda não funcionou. Até mesmo por uma questão de lógica (e até de contrato), assume-se que a obra tenha um autor, e os tradutores, ora, são tradutores, não autores. E traduzem-se as obras dos autores, não dos tradutores. Nenhuma editora mundo afora aceitou receber El Polaco quando podia ter The Pole.
A questão das línguas traduzidas e adaptadas está na raiz do romance de Coetzee. A história se passa em Barcelona, e os protagonistas são Beatriz, uma catalã da alta sociedade, dirigente de uma associação filantrópica que organiza concertos musicais, e um pianista polonês, já idoso e com a carreira em declínio, que é convidado a se apresentar pela instituição de Beatriz. Como ela não fala polonês e ele não fala espanhol ou catalão, a língua com a qual se comunicam é o inglês, mas é um inglês obviamente limitado, pois não se trata da língua materna de nenhum dos dois.
Diálogo sobre tradução
A conversa entre autor e tradutora suscitada pelo processo de edição de El Polaco levaram Coetzee e Dimópulos a publicar recentemente (maio de 2025) um livro em coautoria, Speaking in tongues (Falando em línguas), no qual dialogam a respeito do livro, de línguas e de tradução. Se não é necessário apresentar Coetzee, não custa mencionar que Mariana Dimópulos, além de tradutora respeitada, é também romancista, com quatro livros publicados. Ela é uma das responsáveis, por exemplo, pela tradução da obra de Heidegger para o espanhol.
O resultado do diálogo entre autor e tradutora é interessante não porque traga muitas novidades quanto ao ofício de tradutor, mas principalmente pela maneira como os dois conversam e trocam opiniões. Coetzee, o “autor”, defende firmemente a liberdade criativa dos tradutores, citando até, como exemplo, as belas e autorais traduções dos brasileiros Haroldo e Augusto de Campos, ao passo que Dimópulos, a “tradutora”, ressalta o dever de se manter fiel, tanto quanto possível, às intenções e à arte do autor, ao corpo e à alma da obra original. Nada disso, como escrevi acima, é propriamente uma novidade. Mas os argumentos usados, além de inúmeras outras questões levantadas, me levaram às reflexões que compartilho a seguir.
Os cidadãos da antiga Roma, ávidos leitores de obras gregas, não se importavam muito com a forma original, entendendo que o que precisava ser vertido para o latim era a essência, para que a leitura da obra traduzida fosse prazerosa e pudesse transmitir claramente as ideias do autor. Cícero, a respeito da tradução que havia feito de um texto de Demóstenes, escreveu:
Eu traduzo as ideias, suas formas ou, pode-se dizer, seus formatos; contudo, as traduzo para uma linguagem compatível com nossos costumes. Portanto, não faço uma tradução palavra a palavra, mas em vez disto algo que reflita o estilo e o sentido das palavras estrangeiras.
É claro que, em Roma, como hoje, é mais fácil seguir os preceitos libertários de Cícero quando se traduz obras técnicas ou de não-ficção em geral, pois literatura é coisa mais complicada.
Quem plantou as bases do moderno debate a respeito da tradução foi o filósofo alemão Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Muito resumidamente, o que ele dizia é que o tradutor pode puxar o saco ou do autor ou do leitor. Se escolhe o primeiro, ele tentará ser mais fiel ao estilo, à cultura e até mesmo às idiossincrasias do original; se for o segundo, vai buscar facilitar a vida de quem lê, simplificando o vocabulário e fazendo adaptações. Por exemplo, como traduzir “feijoada”, para uma outra língua? Se a ideia for a fidelidade, o tradutor poderá criar um neologismo ou escrever uma nota de rodapé, explicando que se trata de “um típico prato de origem afro-brasileira com feijão preto, carne de porco, farinha de mandioca e couve”. Se a ideia for não desafiar o leitor, ele poderá buscar um prato equivalente na língua de destino ou adaptar para algo como um “caldo de feijão preto com linguiça”. Algumas editoras, preocupadas em atrair o maior número possível de leitores, acham boa ideia nivelar por baixo e pressionarão pelo segundo caminho. E como os tradutores, na maioria dos casos, têm liberdade restrita para trabalhar, é por aí que por vezes seguirão, mesmo contra a vontade. O ideal, claro, é sempre buscar um equilíbrio.
Antes de Schleiermacher, o poeta inglês John Dryden (1631-1700) já havia pensado em algo semelhante, mas, neste caso, com um elemento a mais. Para ele, as traduções podem ser 1) Metafrase, na qual o tradutor procura verter o original com rigidez, palavra por palavra, linha por linha; 2) Paráfrase, na qual o tradutor não perde de vista o autor, mas põe mais ênfase no conteúdo do que na forma original; 3) Imitação, na qual o tradutor se permite total liberdade para recriar o que o autor escreveu, buscando manter apenas o significado original.
Fidelidade e fluência
Os desafios dos tradutores, é óbvio, vão muito além da dicotomia de Schleiermacher ou do tríptico de Dryden, e depois deles, afinal mais ou menos contemporâneos de Newton e Darwin, é natural que o debate tenha evoluído enormemente, inclusive entrando para a academia e virando matéria importante nos cursos de Letras. Mas nada do que já foi e tem sido dito e prescrito significará que o tradutor, por mais experiente que seja, diante de um parágrafo original, não sinta o sempre renovado desafio de se equilibrar entre fidelidade e fluência.
As línguas têm mais diferenças entre si do que, à primeira vista, pode parecer. Num exemplo prosaico, há línguas fortemente baseadas em gênero (como o português) e as que não são (como o inglês). Se em inglês está escrito “the doctor prescribed”, e o autor não explicita, o tradutor vai ter que escolher se escreve “o médico” ou “a médica”. Numa certa altura da conversa com Dimópulos, Coetzee dá o exemplo de uma eventual tradução do inglês para o vietnamita, na qual o autor escreve “Roger e seu irmão pegaram um ônibus”. Parece simples, mas, na língua do Vietnã, não existe uma única palavra para “irmão”, e sim para “irmão mais velho”, irmão mais novo” e assim por diante. Portanto, se não souber se, para o autor, Roger é mais novo ou mais velho, o tradutor precisará decidir por conta própria.
Também há o problema do tempo. Se você pegar uma tradução de Guerra e paz feita no começo do século 20, achará natural que ela use uma linguagem mais antiquada. Mas e se uma nova tradução for feita hoje, não será interessante que, mais do que apenas traduzir para o português, ela busque fazer as devidas atualizações, trazendo-a para o século 21? O complicado é que, mesmo que a intenção seja boa, e que você evite colocar na boca de um conde russo uma expressão como “este banquete está da hora”, a tarefa não será trivial. A estrutura social russa do período das guerras napoleônicas, quando se passa a história, é muito mais complexa do que usualmente pensamos (nobreza x camponeses), e o mesmo ocorre com as questões militares. Por outro lado, se o tradutor buscar utilizar uma linguagem mais antiquada, correrá o risco de deixar a coisa com um tom de novela de época da Globo, nas quais as pessoas não falam como se falava no século 19, mas do jeito que os roteiristas acham que elas falavam.
Questões política e ideológicas
Uma questão recorrente, também ligado ao tempo, e mais sensível, é se devemos suavizar, ou não, questões políticas e ideológicas. Há pouco tempo, precisei trabalhar com livros de três autores clássicos em língua inglesa, Charles Dickens, Oscar Wilde e James Joyce. E, coincidentemente —ou não — nos três havia menções antissemitas. Ora, sabemos que havia antissemitismo na Europa dos séculos 19 e inícios do 20, mas a coisa ganhou roupagens novas, e infinitamente mais dramáticas somente décadas mais tarde, com a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, a guerra e o Holocausto. Nem Dickens, nem Wilde e nem Joyce, acredito, deixariam de se horrorizar com o Holocausto, mas o fato é que o antissemitismo está presente em suas obras, ainda que na voz do narrador e de personagens, e não, necessariamente, do autor, sutileza que costuma passar despercebida pelos vigilantes ideológicos. Mas, enfim, ao traduzir, hoje, um destes autores, devemos suprimir as menções antissemitas? Ou mantê-las, explicando em notas de rodapé ou numa introdução, o contexto em que elas foram manifestadas, e explicitando, em todo caso, nossa discordância com relação a elas? Eu prefiro, pessoalmente, esta última solução.
Melhorar o estilo?
Algo que sempre se coloca diante dos tradutores literários é a se devem melhorar, ou não, o estilo do autor. Num projeto recente em que estive envolvido, o autor, de resto bastante renomado, escrevia, nos diálogos, apenas “disse” (said). Fulano disse, o outro disse, Beltrano disse, Cicrano disse, e assim por diante. Mas, no fim, em nome da fluência em português, precisei alterar e, em vez de manter como estava no original, ficou “Fulano disse, o outro perguntou, Beltrano respondeu, Cicrano replicou”, e assim por diante. Será que, com a mudança, melhorei alguma coisa? Não tenho certeza.
Um ponto importante para Coetzee, no projeto The Pole e na conversa com sua tradutora argentina, é o da atual supremacia universal da língua inglesa, algo que, não é de hoje, muito o incomoda. O próprio romancista, que escreve em inglês, não tem esta língua como materna, já que sua família era africânder (sul-africanos brancos que falam uma derivação do holandês) com antepassados poloneses e alemães. Mas, ora, com dois impérios globais que há cerca de duzentos anos, sucessivamente, dominam o planeta, o britânico e o norte-americano, era mais ou menos previsível que isso acontecesse, assim como ocorreu, durante e após o Império Romano, com o Latim.
Com relação a esse “imperialismo” anglófono, de todo modo, Coetzee e Dimópulos chamam a atenção para dois fatos significativos. O primeiro é que muito mais livros são traduzidos do inglês para outras línguas do que no sentido oposto, numa gigantesca assimetria. No caso da Alemanha, por exemplo, de todos os livros estrangeiros publicados em 2022, 60,4% eram originários da língua inglesa, 12,2% da japonesa, 10,6% da francesa e o resto, ou 12,2%, de todas as outras línguas somadas. E, dos livros alemães publicados naquele ano, só 4% viriam a ser traduzidos para o inglês. Mais ainda: de todos os livros publicados anualmente nos Estados Unidos, apenas 3% são traduções. Não tenho os números para o Brasil, mas não é difícil perceber que lemos, todos os anos, uma enxurrada de títulos de origem norte-americana, ao passo que, no sentido oposto, quando um autor brasileiro chama a atenção de alguém nos Estados Unidos, fica parecendo que ganhamos a Copa do Mundo (Oh, vejam, é Machado de Assis! Oh, reparem, é Clarice Lispector!).
O segundo fato é que, de acordo com um estudo, os estilos literários dos livros estrangeiros traduzidos para o inglês e publicados nos Estados Unidos revelaram-se incrivelmente semelhantes. Ou seja, as traduções norte-americanas tendem a simplificar e homogeneizar os textos que vêm de fora, sejam eles coreanos, nigerianos, brasileiros ou marcianos.
Um outro ponto importante é o do domínio das línguas de origem e de destino pelo tradutor. É mais ou menos consenso, hoje, que quem traduz precisa ser fluente em ambas. Mas isso não é tão óbvio, e nem sempre foi assim. No Brasil, nas primeiras décadas do século passado, grandes autores, como Mario Quintana, Erico Verissimo e José Geraldo Vieira traduziram obras russas, alemãs e italianas sem saberem (ou, pelo menos, sem serem fluentes) nestas línguas. Nem por isso as versões em português ficaram ruins, muito pelo contrário. O que nos remete ao poeta Ezra Pound, que traduziu de terceira mão, em Cathay (1915), poemas clássicos chineses. Os versos haviam sido mal traduzidos para o japonês, daí novamente mal traduzidos para o inglês, Pound pegou o trabalho a partir deste ponto e, sem saber japonês ou chinês, refez todas as traduções — o resultado ficou maravilhoso. Enfim, se for para escolher apenas uma das alternativas, é melhor ser fluente na língua de destino do que na de origem.
Na mesma linha, o ensaísta Eliot Weinberger sugere que bons poetas traduzem poemas melhor do que bons acadêmicos, mesmo quando menos fluentes na língua original. Vejamos o caso do famoso Campo dos cervos, do poeta clássico chinês Wang Wei (699-761), um dos poemas mais traduzidos do mundo. Uma versão mais literal é a de Ricardo Primo Portugal e Tan Xiao:
O retiro dos cervos
Vazia a montanha ninguém se vê
entanto rumores vozes se ouvem
torna a luz poente até o bosque denso
ainda ilumina o musgo verde sobre
Vejamos agora uma solução mais poética, do mexicano Octavio Paz, que conhecia bem a cultura chinesa, mas não a língua:
En la Ermida del Parque de los Venados
No se ve gente en este monte.
Solo se oyen, lejos, voces.
La luz poniente rompe entre las ramas.
En la yerba tendida brilla verde.
E, finalmente, uma ainda mais livre, do poeta norte-americano Gary Snyder, ligado ao movimento beat, que estudou bastante a filosofia Zen, a China e o Japão clássicos, e conhecia a língua:
Empty mountains:
no one to be seen.
Yet — hear —
human sounds and echoes.
Returning sunlight
enters the dark woods;
Again shining
on the green moss, above.
Nenhuma das três tentativas está certa ou errada, mas elas claramente refletem abordagens distintas de tradução, evidenciando o quanto cada versão em outras línguas e outros tempos pode ser não só distante do original quanto entre cada uma delas. Claro, é forçoso admitir, traduzir poemas é um caso à parte. Se você colocar num gráfico que tenha num eixo a forma, e no outro o conteúdo, o poema estará naquele ponto extremo em que a forma (musicalidade, aliterações, sonoridade, ritmo, rimas…) e conteúdo (referências, memórias, sensações, duplos sentidos…) são tão umbilicalmente ligados que qualquer tradução será, necessariamente, limitada. O que o tradutor de poemas acaba fazendo, a não ser que assuma estar livremente recriando tudo, na linha dos irmãos Campos, não será uma tradução perfeita, mas a mais fiel possível às intenções e ao lirismo do poeta e do poema. É por isso que defendo que edições de poemas traduzidos não podem deixar de ser bilíngues. Menos para que o leitor “julgue” a qualidade da tradução, mas para que possa, sempre que possível, e ainda que de forma limitada, ter um vislumbre da estrutura e da sonoridade do original. Há pouco tempo, quando soube que um livro de poemas que cotraduzi sairia apenas em português, perdi o sono por umas três noites seguidas.
Inteligência artificial
Um tópico infelizmente deixado de lado na conversa entre Coetzee e Dimópulos é o do impacto da inteligência artificial na atividade de tradução. Logo no início, eles explicam que não trataram do tema não por ser pouco importante, mas porque “ele é tão recente que ninguém já está em condições de avaliar suas limitações (se é que haverá alguma!) quando se trata de tradução literária”. Bem, eu nem precisaria dizer que este é um dos temas dominantes, hoje, não só entre tradutores, mas todas as pessoas que trabalham com texto, como revisores, editores e mesmo autores. O impacto já está ocorrendo. Pode-se argumentar que a tradução literária, com todas as sutilezas envolvidas no processo, ainda está relativamente segura diante da IA. Afinal, você não conseguirá traduzir Tolstói decentemente sem ter acumulado uma boa bagagem a respeito de história e literatura da Europa e da Rússia no século 19. Até poderá usar IA, assim como Google e dicionários online para tirar dúvidas, da mesma maneira como usava, antes, os dicionários e as enciclopédias impressas. Mas quem de fato traduzirá o texto é um ser humano, com toda a sua sensibilidade e erudição. Fora o problema concreto de que talvez a maior parte do que é classificado como “obra literária” seja composto por livros voltados para o mercado de massa, sem profundidade, com personagens planos, vocabulário pobre e pouquíssimas referências culturais, o que pega é que nenhum tradutor sobrevive de traduzir apenas Tomas Mann, James Joyce ou Albert Camus. Eu mesmo, há pouco tempo, perdi para a IA uma tradução de um relatório empresarial para acionistas. Não era arte, mas era trabalho, e ainda por cima, decentemente remunerado. E não tenho dúvida de que a IA deu conta do recado, mesmo que, aqui ou ali, algum eventually tenha virado eventualmente.
No fim das contas, o fato é que todo tradutor, com ou sem IA, fica em dúvida com suas escolhas e, mesmo quando entrega um trabalho de qualidade, permanece acreditando que poderia ter feito melhor. Além disso, dando razão a Coetzee, a verdade é que a atividade de tradução literária é difícil, relativamente mal paga (diante do trabalho que dá) e muito pouco reconhecida. E é fundamental, é o que permite que a cultura viaje. Walter Benjamim chamou a atenção para o papel da tradução na preservação da literatura através dos tempos, uma vez que as línguas perecem, mas as obras, desde que atualizadas, não. Já pensou se os textos da Grécia clássica e da Roma antiga, e a Bíblia, ainda estivessem em suas línguas originais? Tamanha é a importância da tradução que têm surgido iniciativas, aqui e ali, defendendo que o tradutor, do ponto de vista de direitos autorais, seja considerado um coautor. Todo tradutor chora em silêncio quando ouve alguém citar um trecho de livro ou poema estrangeiro como se estivesse reproduzindo as palavras do autor, quando, na verdade, está usando as palavras do eternamente menosprezado tradutor. O surrado e injusto provérbio italiano “traduttore, traditore” (tradutor, traidor) já passou do tempo de ser trocado por “tradutor, herói”.