Que o sentido da tradição artística e literária sofreu duros golpes, principalmente com a chegada da ala mais iconoclasta das vanguardas do século 20, disso todos nós sabemos. Nessa época forjada a ferro e fogo — o ferro e o fogo das duas Guerras Mundiais, da Revolução Russa e de tantos outros movimentos totalitários no exterior e aqui —, demolir as instituições era a palavra de ordem entre os artistas e os escritores. Nunca a tradição cultural européia foi tão atacada quanto nesses primórdios da era da eletricidade, da máquina e da velocidade. Romper com o passado e projetar-se rumo ao futuro, esse foi o desejo de muitos poetas, romancistas, músicos, coreógrafos, pintores, dramaturgos, escultores e arquitetos há oitenta, noventa anos. A transição dolorosa entre o passado e o presente, as novas conquistas da ciência e da tecnologia, o surgimento de novas invenções e de novos meios de comunicação (o automóvel, o telefone, o dirigível, o avião), o crescimento acelerado das cidades, a ampla difusão da cultura industrial, tudo isso contribuiu, entre os artistas e os escritores, para a formação da atmosfera de ruptura. Pela primeira vez na história todos os criadores de real talento formaram um bloco coeso, hegemônico, de combate ao sistema político e econômico vigente. Mas com o passar das décadas, quando ficou claro que o que esses artistas chamavam de futuro era algo tão sombrio quanto o momento presente, esse desejo foi arrefecendo.
Peter Bürger, na Teoria da vanguarda (publicada em português pela editora Vega, de Lisboa) demonstra como as vanguardas deixaram de estar na vanguarda a partir do instante em que suas obras começaram a ser assimiladas pela instituição artística contra a qual se dirigiam. Os exercícios dos surrealistas — a escrita automática, os objetos encontrados ao acaso, os sonhos provocados e os cadáveres delicados —, por exemplo, na sua origem não eram entendidos como produções artísticas. Eram parte de uma prática vital emancipadora que bombardeava todas as instituições burguesas, inclusive a artística. No momento em que esses procedimentos foram incorporados pela arte e pela literatura, o surrealismo deixou de ser o surrealismo. Bürger nos recorda que em sua origem os objetos surrealistas e, antes destes, os ready-mades de Duchamp não eram obras de arte. Eram manifestações contra o conceito de arte formulado na renascença e mantido inalterado até então, que estabelecia que “a arte é a criação individual de obras singulares”. No caso dos ready-mades, o sentido da sua provocação não residia na totalidade de forma e do conteúdo dos objetos particulares que Duchamp assinava, mas unicamente no contraste entre os objetos produzidos em série, de um lado, a assinatura e sua inserção em um museu, do outro.
É evidente que uma provocação assim não poderia ser repetida em qualquer momento. A provocação dependia da natureza do seu objetivo: nesse caso, da idéia clássica de que a arte é algo singular criado por indivíduos. “Porém, uma vez que uma roda de bicicleta ou um urinol é assinado e aceito nas galerias e nos museus, a provocação deixa de ter sentido e transforma-se no seu contrário: em obra de arte. Quando os artistas dos dias de hoje assinam e exibem, nas galerias dos quatro cantos do planeta, os objetos mais banais tirados do cotidiano, é claro que já não estão mais denunciando o mercado artístico, mas submetendo-se a ele. Já não estão mais criticando o conceito de autoria e de originalidade — como faziam os dadaístas e os surrealistas —, mas reafirmando-o. A razão disso está no fracasso da intenção vanguardista de superar o conceito burguês de arte, de refundir a arte na prática vital.” Depois que o protesto contra a instituição artística, promovido pelos integrantes das vanguardas, também passou a ser considerado arte, a posterior atitude de protesto desses mesmos integrantes e dos novos vanguardistas (baseada na dos seus antecessores) já nasceu muito parecida com as falsificações mais caricatas.
Hoje, cada vez que os jovens prosadores brasileiros afirmam que não lhes interessam os autores do passado, que não têm gosto pelos clássicos da literatura, eles estão reproduzindo, mesmo sem o saber, os tradicionais bordões das vanguardas clássicas. Todos na faixa dos vinte e cinco anos, esses jovens prosadores nascidos na internet deixam bastante visível, sempre que dão entrevistas ou participam de mesas-redondas, a sua aversão pelas instituições estabelecidas pelas gerações precedentes. Nesse ponto eles se diferenciam dos seus irmãos poetas. Via de regra, a poesia contemporânea brasileira tem pecado por reverenciar demais o passado recente. Reunidos em pequenas escolas, os novos poetas não têm arriscado trilhas próprias, não têm procurado caminhos desvinculados dos grandes nomes: Drummond, Bandeira, João Cabral e, mestres em formar epígonos, os concretistas Augusto, Haroldo e Décio. Tal reverência impede, por exemplo, que se separe o joio do trigo, sempre que a obra desses autores já canonizados é lida e comentada. Nessa hora o distanciamento crítico é trancado no quarto de despejos e a defesa incondicional desses cardeais, por parte de seus seguidores, é posta sempre como questão de vida ou morte.
Mesmo assim não há razão para se arrancarem os cabelos. Essa relação mal administrada com a tradição cedo ou tarde começará a apresentar rachaduras. Repudiar o passado ou idolatrá-lo, sem que o repúdio e a idolatria sejam constantemente questionados, acontece todos os dias. Porém é apenas de tempos em tempos que essas duas linhas de força conseguem permanecer em equilíbrio. Como nem os vanguardistas nem os tradicionalistas estão conseguindo cercar e submeter o adversário, no Brasil o choque de interesses estéticos tem seguido inalterado há décadas. Mas não existe equilíbrio que dure para sempre. Um sinal do desgaste dessa situação é o sentido vexatório que as palavras tradição e tradicional adquiriram para ambos os lados, a ponto de nem mesmo os tradicionalistas mais conscientes do valor dessas palavras quererem estar sob a sua custódia.
De fato, o substantivo tradição e o adjetivo tradicional há tempos deixaram de ser bem-vindos ao escritório do poeta ou do ficcionista. Nos ensaios e nas resenhas críticas, nenhum autor, inclusive os francamente tradicionais, se sente confortável ao ver o seu nome e a sua obra ligados a essas duas palavras que, na virada do século 19 para o 20, com a chegada das vanguardas, passaram a ter vida dupla. Os termos conservadorismo e conservador, devido à proximidade semântica, amargam situação semelhante. Em que consiste essa vida dupla? No caso de tradição, consiste em apresentar, quase ao mesmo tempo, dois sentidos opostos. O sentido positivo de patrimônio, herança e riqueza, ou seja, de conjunto de bens materiais e de conhecimentos morais, religiosos, científicos, filosóficos e artísticos legados pelas gerações que nos antecederam, e o sentido negativo de fardo, empecilho e estorvo, noutras palavras, de repositório de objetos deteriorados, idéias ultrapassadas e comportamentos antiquados.
Para os antigos a tradição era um terreno firme, o local mais indicado para a construção das obras que ambicionavam vencer o tempo. Para os primeiros modernos ela se parecia mais com um pântano que precisava ser urgentemente aterrado com as novas idéias e os novos costumes. Ainda para esses modernos de primeira hora, conservar certos costumes das gerações passadas era encarado como crime contra a inteligência e a sensibilidade. Não é exagero dizer que, mais de um século depois, continua sendo assim para muitos de nós. Mas críticos-poetas da envergadura de Ezra Pound e T. S. Eliot, talvez as vozes mais consistentes da língua inglesa no alto modernismo, logo perceberam o perigo de se abraçar irrefletidamente o novo, a novidade, e de se descartar de uma só vez todo o passado, em bloco.
A divisa de Pound — “make it new” (renovar) —, defendida em inúmeros artigos e centenas de traduções, inspirou-o a mergulhar, por exemplo, nas composições dos trovadores provençais, nas peças do teatro nô e nas odes de Confúcio. Eliot não deixa por menos, nas três partes do célebre ensaio Tradição e talento individual (inserido na coletânea Ensaios escolhidos, da Art Editora). Logo no início da primeira parte ele reconhece que a verdadeira tradição, a tradição viva, não pode ser herdada: ela é algo que precisa ser conquistado através de muito esforço. Também observa que, quando elogiamos determinado poeta, tendemos a salientar “os aspectos de sua obra nos quais esse poeta menos se assemelha a qualquer outro”. Tendemos a sublinhar apenas as suas idiossincrasias, a sua essência individual, a sua originalidade. “Salientamos com satisfação a diferença que o separa poeticamente de seus antecessores, em especial os mais próximos. Empenhamo-nos em descobrir algo que possa ser isolado, para assim nos deleitar.”
De fato, esse tem sido o procedimento corrente desde a explosão do romantismo, momento em que a busca pela originalidade passou a comandar as artes e a literatura. Porém Eliot vai na contramão dessa tendência. Na sua opinião, ao analisar a obra de determinado poeta, não devemos nos deter apenas nas suas idiossincrasias, não devemos valorizar somente as suas peculiaridades. O preconceito contra o passado e os antecessores não deve nortear a nossa leitura crítica. “Se nos aproximarmos de um poeta sem esse preconceito, poderemos amiúde descobrir que não apenas o melhor mas também as passagens mais individuais de sua obra podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus ancestrais, revelam mais vigorosamente sua imortalidade.” Substitua poeta por ficcionista, músico ou pintor e o raciocínio continuará fazendo sentido.
Nenhum novo escritor ou artista tem a sua significação completa sozinho, pois “o seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os escritores e os artistas mortos”. Dessa maneira, o esforço necessário para se herdar a tradição dirige a percepção do escritor ou do artista para o entendimento do sentido histórico e da real presença do passado. Entendimento esse que faz com que ele se torne mais consciente do seu lugar no tempo, da sua própria contemporaneidade. Quando Eliot diz que a evolução do escritor ou do artista passa pelo contínuo auto-sacrifício, pela contínua extinção da personalidade, ele está se referindo a essa plena apreensão do sentido histórico. O processo de despersonalização, para Eliot, desenrola-se simultaneamente ao processo de apreensão do sentido da tradição. Concluídos ambos os processos, o novo autor elege para si apenas o sentido positivo da palavra tradicional e passa a medir a sua própria produção pela dos autores canonizados. Enxergar o presente projetado sobre o passado e o passado projetado sobre o presente deixa claro que a poesia, por exemplo, não é constituída de poetas, mas de poemas. Deixa claro que a arte é o conjunto vivo, dinâmico, feito de todas as obras de arte já produzidas até hoje.
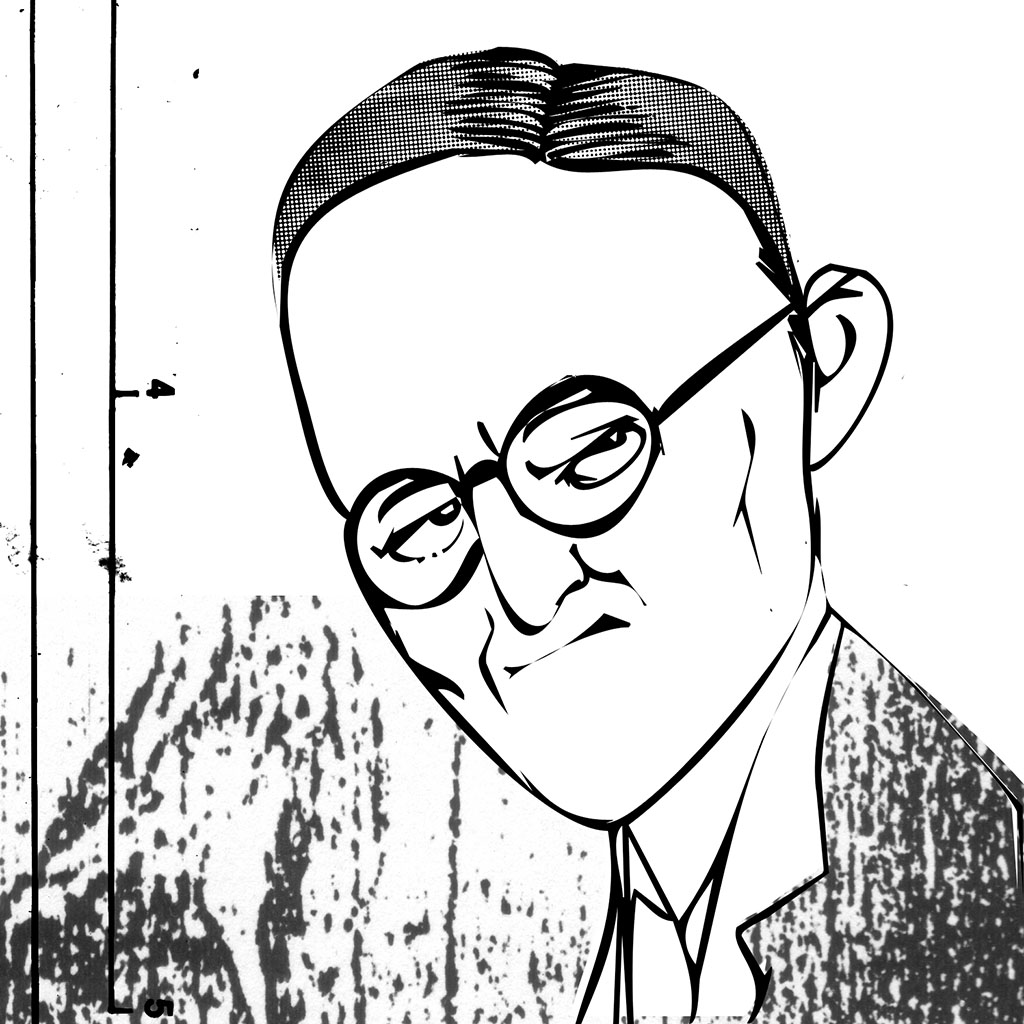
Para o escritor despersonalizado, em literatura não há progresso ou retrocesso, a arte jamais poderá ser aperfeiçoada. O sentido histórico leva-o a escrever como se os grandes autores da tradição ainda estivessem vivos, trabalhando ao seu lado, julgando-o e por ele sendo julgados. Essa existência simultânea constitui uma ordem estética simultânea. O que torna um escritor tradicional, na melhor acepção do termo, é esse sentido de que tanto o atemporal quanto o temporal sempre estiveram reunidos. De que “o passado deve ser modificado pelo presente tanto quanto o presente deve ser orientado pelo passado”.
Para alcançar a despersonalização, a impessoalidade, o escritor precisa entregar-se inteiramente à obra que irá conceber. Para gerar algo novo, é preciso que ele tenha o domínio do seu poder de criação. Mas é improvável que ele tenha essa consciência, ou saiba o que irá conceber, se insistir em viver apenas o momento presente. É aí que entra o sadio comércio com a tradição. Para ser bem-sucedido na sua empreitada, ele precisa viver também “o momento presente do passado”. Para Eliot, ter o domínio de seu poder de criação é saber jogar com a razão e a intuição, com a consciência e o inconsciente. O mau escritor está sempre trocando as bolas. Ele é habitualmente inconsciente quando deve ser consciente e consciente quando deve ser inconsciente, e ambos os erros tendem a torná-lo pessoal, individual.
Numa câmara fechada, se misturarmos oxigênio e dióxido de enxofre, nada acontecerá. Mas se introduzirmos nessa câmara um filamento de platina, os dois gases formarão ácido sulfúrico. “Essa combinação só ocorre se a platina estiver presente. Todavia, o novo ácido formado não contém nenhum indício de platina, e ela mesma aparentemente não é afetada, permanecendo inerte, neutra e inalterada.” Eis a metáfora: o oxigênio são as emoções (afetos penosos ou agradáveis, inconscientes e não-verbais), o dióxido de enxofre são os sentimentos (palavras, frases ou imagens verbais), e o filamento de platina é a mente criativa do escritor, que provoca as combinações surpreendentes e inesperadas. Eliot apresenta a analogia do catalisador para fortalecer a sua hipótese de que a diferença entre a mente do autor maduro e a do autor imaturo está na maneira como ambas combinam os elementos transfiguradores da poesia: as emoções e os sentimentos.
Há os escritores e os leitores que apreciam, em verso ou em prosa, somente a expressão sincera das emoções, a literatura caudalosa. Há também os escritores e os leitores que apreciam tão-só a excelência técnica, os sentimentos rigorosamente bem articulados, a literatura cerebral. Nenhum dos dois, nem o conteudista nem o formalista, se relaciona bem com a tradição. Ambos sustentam um vínculo equivocado e distorcido com as realizações dos antecessores. Isso os leva a abraçar ou a repudiar com a mesma intensidade as emoções e os sentimentos. Agem assim talvez por crerem que a literatura é a expressão da personalidade do escritor, de sua subjetividade, de suas idiossincrasias, quando não é. Se fosse, isso justificaria todos os estudos literários que, sob o pretexto de analisar a sua obra, levam em conta quase que apenas os altos e baixos da biografia do autor.
A literatura é, antes, a combinação e a expressão de elementos afetivos e lingüísticos que, como o ar que respiramos, estão ora fora ora dentro dos escritores. A literatura é o passeio pelos canais da comunicação poética, constituídos de todos os textos literários já escritos, em todos os idiomas. Isso equivale a dizer, com Eliot, que “a emoção da arte é impessoal”. E ainda: “O objetivo do escritor não é descobrir novas emoções, mas utilizar as corriqueiras e, trabalhando-as no elevado nível poético, exprimir sentimentos que não se encontram em absoluto nas emoções como tais.” E ainda: “A literatura não é uma liberação da emoção, mas uma fuga da emoção. Não é a expressão da personalidade, mas uma fuga da personalidade. Naturalmente, porém, apenas os que têm personalidade e emoções sabem o que significa querer escapar de semelhantes coisas.”










