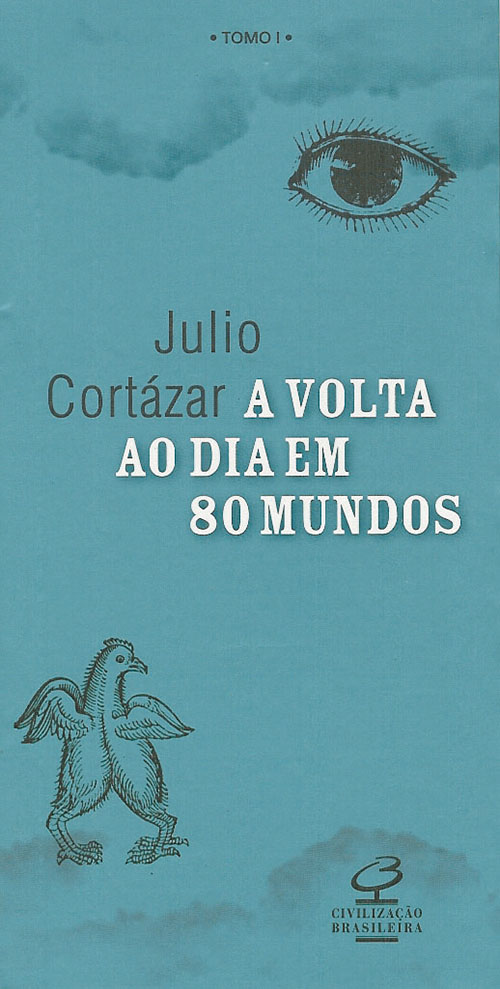Aos poucos a imensa — quantitativa e qualitativamente — obra do belga-argentino-francês Julio Cortázar (1914-1984) vai ganhando sua versão em português. Dos cerca de trinta livros que publicou em vida (mais três póstumos: Os autonautas da cosmopista, em co-autoria com a mulher, a fotógrafa canadense Carol Dunlop, Divertimento e Salvo el crepúsculo), somente quatro ou cinco permanecem estranhos à nossa língua. Portanto, não bastasse ser elementar o espanhol, aos preguiçosos nem resta a desculpa de não haver livros de Cortázar no nosso menos musical idioma. Há, e muitos, desde o gênero que o consagrou e onde foi mais alto, como nos contos de As armas secretas, até a obra-prima, o romance desmontável O jogo da amarelinha. Este, aliás, um “pós-Joyce” legível e com humor, provando que inteligência também vende: afinal, com 600 páginas ancoradas numa estrutura narrativa móvel e servindo a uma natureza estética essencialmente experimental, foram consumidos, até agora, 36 mil exemplares. Talvez uma exceção, sim, mas uma prova de que Cortázar, entre nós, é lido.
A certeza do interesse que sua literatura — em permanente estágio de metamorfose — desperta reside no lançamento, pela Civilização Brasileira, de dois títulos que saíram respectivamente em 1967 e 69, A volta ao dia em 80 mundos e Último round. Poucos autores teriam resgatado quatro décadas depois, ainda mais dentro de uma bibliografia extensa, dois livros aparentemente desiguais e, por conta dessa desigualdade, instrumentos exploratórios um tanto extravagantes. Entretanto, sendo Cortázar, exploração é uma palavra que não se usa inutilmente: ela é estratégica, desde seus primeiros contos, de Final de jogo (1956), como Os venenos, até estes livros-almanaque, chamados desta forma pelo próprio autor, que via neles também o hibridismo inevitável resultante da colagem (O jogo da amarelinha resultou também da colagem, transformada em jogo, de uma sucessão de textos que correspondiam a um determinado ciclo narrativo e de preocupações com a situação do intelectual latino-americano no “lado de cá”, na América Latina, e “no lado de lá”, na Europa, mais especificamente em Paris, cenário da narrativa metafísica onde arte e vida não se desgrudam).
Um outro Júlio
Um Júlio com acento, e francês de nascença: Júlio Verne (1828-1905), autor de A volta ao mundo em 80 dias. Leitura da infância a marcar para sempre o outro Julio, sem acento, nascido em Bruxelas porque o pai, diplomata argentino, servia quando a nação belga foi anexada pela Alemanha na I Guerra Mundial, Julio que se naturalizaria cidadão francês quando completou 30 anos de vida parisiense, em 1981. Tiveram de esperar o fim da guerra, o que aconteceu assim que o menino completou quatro anos. Voltaram à Argentina, uma irmãzinha de três anos já fazendo parte da troupe. Logo o pai separou-se de forma tão decidida que ao menino e, mais tarde, ao homem Julio, lhe restou a convicção de que “nada fez por nós”. Ficaram num casarão, ao sul de Buenos Aires, no subúrbio de Banfield, o menino alfabetizado tão cedo, a avó materna, a mãe e a irmã, Ofelia. Julio escreveria poemas e um romance com nove anos, e de tal maneira se empenharia em sua vida interior (exploratória) que as mulheres da família suspeitariam de plágio.
O dia, para ele, tinha mundos e mundos. A casa, o pátio, a melancolia da mãe, o extravio da irmã, o seu coração de eterno menino cobrando de si mesmo a resistência de herói e respondendo, para resistir, com a curiosidade insaciável do menino que inventa mundos para que a realidade precária não lhe caia sobre a cabeça.
Toda essa atmosfera de abandono e reinvenção está nos contos dos primeiros livros, mesmo em alguns de franca extração fantástica. Como em A casa tomada, de Bestiário (1951). Reiteradamente, o real terá de mostrar a sua cara a Cortázar. E nunca será a mesma cara, sempre outra — feliz do leitor.
Ele foi das poucas coisas boas infectadas pelo Surrealismo. Ele fez na literatura o que o jazz fez na música: improviso, meditação oscilando entre distender-se e concentrar-se. Em Cortázar, raras vezes sabemos se o que se move à nossa frente é máquina ou ser, e se se move ou se é movido por nós. Ele escreve como Houdini, se Houdini escrevesse. Foge de seus temas porque gosta de mostrar/esconder que o tema é um ponto de fuga, não de partida.
Dá voltas e voltas, durante um livro todo, um dia inteiro de leitura, por tantos mundos que já não podemos crer que o mundo seja apenas o repetido costume ao qual aceitamos só pela legibilidade de entendermos a frustração que é a outra face do controle. Cortázar nos descontrola. Descontrola os gêneros. A volta ao dia em 80 mundos lança a pergunta, entre o riso quase abafado e o olhar agudo de quem enxerga no escuro: quem nos salvará da seriedade? Sabe-se a que tipo de seriedade Cortázar se refere. Daí seu livro ter jeito de caderneta, súmula de apontamentos, junção de artigos, poemas, ensaios que se negam ao tom solene do ensaísmo, e, ao mesmo tempo, adotam uma espécie de olhar infantil alimentado por referências que (desculpem o palavrão) não são menos que eruditas.
Chega ao cúmulo de criar uma máquina específica, um fichário, para ajudar ao desamparado leitor frente a essa quase “monstruosidade”, O jogo da amarelinha. Mesmo um livro, um quadro, um disco (vemos o quanto valoriza Gardel) precisam de instrumentos propícios, de mecanismos comprobatórios para que a fruição se dê, ao máximo. É um menino, brincando como só um homem brincaria. Júlio Verne emprestou-lhe o espírito de Phileas Fogg, e, vencendo distâncias bem outras, ele se sai com esta: “citar é citar-se”.
No queixo do leitor
Não há como se queixar. Em Último round temos, na abertura, a descrição de um combate (71,5 kg), no lendário Luna Park, ginásio de esportes em Buenos Aires, em que só um boxeador é nomeado, justamente o favorito, justamente os golpes que leva, e com ele o leitor vai lendo pela metade, vendo pela metade, como se tivesse um olho fechado — numa luta que é descrever o descrito pela metade e interpretar a outra metade não descrita —, luta proposta pelo autor. Descrição de um combate ou Para bom entendedor. Há poemas sobre a família, há anotações que bem caberiam num diário (mas somente em diários que merecessem publicação), há uma espécie de “turismo” que só Cortázar sabe fazer (tornando o ato de viajar, a viagem em si, o deslocamento, o mover-se, e nunca, jamais, o destino, o final, não — nem a partida nem a chegada, e, esplendor, o ir — a grande resposta).
Os amigos. O movimento de maio de 1968. O que virou História, o que foi revolução, tudo aí comparece, todavia no tom quase despachado não fosse o argentino um autor responsável demais com as possibilidades dos fatos que aborda. Aborda mesmo. E, num misto de sadismo tecido sob uma melodiosa inocência astuta, permanece linha a linha sempre à borda dos abismos que vai localizando, mesmo os do ar — onde uma mosca voa de costas.
Cortázar é (só para dar um exemplo, provocador, claro) um Machado de Assis que não teme os excessos porque não pode ser dominado por eles. Sobram-lhe recursos. A galhofa e a melancolia são filtradas e saem de sua escrita despidas sem precisar que seu ridículo se mostre. Trata de diversos aspectos da arte e da filosofia sem cometer um só pedantismo. Mistura o popular e o erudito sem parecer que mistura porque nunca viu separação entre eles, porque Julio Cortázar é habitante dos dois mundos, de três mundos, de quantos mundos há. Na verdade, 80.